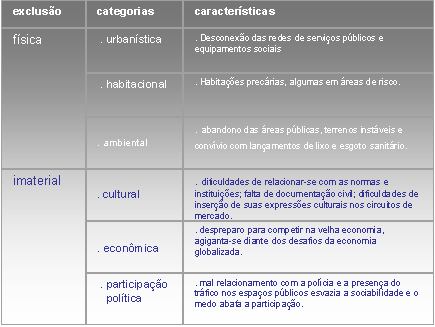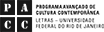Matérias publicadas há cerca de um ano e meio em um dos principais jornais do país relatavam o indiciamento, pela polícia carioca, de um grupo de funkeiros, habituais animadores de festas e bailes nos morros do Rio de Janeiro. A acusação era de que em suas apresentações, que haviam sido monitoradas por cerca de um ano, “todos cantam músicas que exaltam traficantes, o consumo de drogas, facções ou atos criminosos.”2 Foram ainda acusados de divulgar as suas músicas, conhecidas como “proibidões”, na internet, em sites onde era possível baixá-las (pois na ocasião aqueles foram, claro, tirados do ar), juntamente com fotos de intérpretes e vídeos de suas performances. A reportagem narrava também ação da polícia, que no final de semana havia impedido a realização de baile funk no Morro da Providência, para o que, com o apoio de carros blindados, foram fechados os acessos ao morro. A reação teria vindo da parte de “traficantes”, resultando o indefectível tiroteio.
Didático, o jornalista Sérgio Rangel tentou em poucas palavras, no texto que assinava, dar a conhecer, a leitores não raro alheios à complexidade rica e feroz do cotidiano das periferias, os temas mais recorrentes no funk carioca: “assuntos ligados à marginalidade, como nomes de morros, chefes de tráfico e gente da comunidade que foi morta por policiais”.
Em reportagem do dia seguinte, o MC Catra, um dos indiciados, em entrevista, reagia às acusações, denunciando a Polícia Militar por sistematicamente atacar bailes funk com até seis mil pessoas, atuando de modo arbitrário e violento. E completava, chamando a atenção para o lugar específico que buscava ocupar com seu trabalho criativo, em termos sociais e culturais, e que para ele não implicava em transgressão, ao menos no que concerne à ordem jurídica. Ele ainda indicava, de quebra, o horizonte realista que perseguia com sua arte: “Sou marginal, mas não sou criminoso. Eu não me vendo. Vou continuar cantando a realidade da favela, não adianta.”
Já o oficial da PM procurado pela reportagem recusou-se a comentar as denúncias de abuso de poder. As palavras que a matéria a ele atribuiu, no entanto, são ilustração lapidar da fissura expressa pela situação, rimando repressão policial e exceção legal. Sua manifestação opera segundo deslizamentos pelos quais o indício se transforma em culpa, seguindo daí, em linha reta, a condenação, movimento que, de resto, e talvez sem que ele mesmo tenha (cons)ciência, justifica com lógica implacável as intervenções de seus comandados nos morros cariocas, e também nos planaltos, mangues e planícies das periferias, geográficas ou não, de boa parte das grandes cidades brasileiras. Segundo ele, a Polícia Militar “não faz comentários sobre declarações de quem faz apologia ao crime. Quem faz apologia ao crime tem que ser levado às barras da lei e ser preso, por incentivar crianças inocentes a relações com o mundo do crime. A Polícia Militar não comenta declarações de marginais”3.
O cenário aí entrevisto já é conhecido, nele se desenrolando nada mais que um ato, com variações em alguma medida assimiladas como contingenciais, que atesta o vigor indubitado com que parte dos defensores das Leis e da Ordem reservam a expressões sobretudo provenientes de membros de comunidades marginalizadas. O jornalismo diário está repleto de atos similares, isso mesmo a despeito de estes, os noticiados, constituírem por certo apenas uma pequena amostragem no universo daqueles aos quais não é conferida maior atenção, permanecendo por isso mesmo invisíveis, ou quase. Um dos mais célebres envolveu um criador hoje reconhecido no espaço cultural brasileiro, e não só nos setores marginalizados. MV Bill, por conta do vídeo Soldado do morro, produzido a partir de entrevistas feitas com traficantes, nas periferias de diversas cidades brasileiras, foi perseguido pela polícia, juntamente com Celso Athayde, seu produtor e comparsa na empreitada, e teve que se arranjar para exibir o filme a José Gregori, na época Ministro da Justiça, para que este intercedesse a favor deles e tirasse a polícia de seu encalço.4
No desdobramento dos episódios envolvendo os funkeiros, um dos membros do grupo de advogados mobilizados para interceder em favor dos artistas fez eco à observação do MC Catra, procurando justificar peculiaridades das intervenções artísticas por conta do ambiente em que os jovens se vêem inseridos. As músicas cantadas seriam uma espécie de reflexo, em clave realista, da experiência da marginalidade. O fato de a autoria nem sempre ser dos intérpretes permite pensar, por sua vez, que essa experiência, não raro traduzida por um sentimento de animosidade contra instituições como a polícia, ou contra frações da sociedade que ostentam poder e riqueza, é menos pontual que geral entre jovens das periferias. Fundamental é destacar que o entrevistado mostra perceber claramente que a batalha, no caso, escapa à esfera policial, atingindo dimensão simbólica. É também no território da representação que ela, essa luta ao menos, situa-se e desenvolve-se.5
O advogado lança ainda a hipótese de o episódio ser mais uma demonstração de intolerância e preconceito contra criadores provenientes de segmentos sociais marginalizados. Lembra que nomes como Bezerra da Silva, Marcelo D2, Rubem Fonseca e Charles Bukowski têm seu trabalho reconhecido socialmente, e não são perseguidos em função dele, embora suas criações amiúde sejam marcadas por um enfoque da violência. São razões sociais e raciais que ele invocou para justificar o indiciamento: “Se fosse um criador de classe média branco não haveria impedimento”.
Considerando a produção cultural brasileira recente é difícil voltar os ombros a um argumento como tal. Afinal, por que motivos realizadores de filmes como Amarelo manga (Cláudio Assis, 2003), O homem que copiava (Jorge Furtado, 2002), Madame Satã (Karim Aïnouz, 2002), O invasor (Beto Brant, 2001), Cidade de Deus (Fernando Meirelles, 2002), Uma onda no ar (Helvécio Ratton, 2002), O homem do ano (José Henrique Fonseca, 2003), Carandiru (Hector Babenco, 2002), O prisioneiro da grade de ferro (Paulo Sacramento, 2003), Cronicamente inviável (Sérgio Bianchi, 2000), Domésticas (Fernando Meirelles e Nando Olival, 2001), Como nascem os anjos (Murilo Salles, 1996), O primeiro dia (Walter Salles e Daniela Thomas, 1999), Ônibus 174 (José Padilha, 2002), Santa Marta, duas semanas no morro (Eduardo Coutinho, 1987), O maior amor do mundo (Cacá Diegues, 2006), entre outros, não foram perseguidos ou indiciados pela polícia? E por que escritores como Paulo Lins (Cidade de Deus, 1997), Ferréz (Capão pecado, 2000; Manual prático do ódio, 2003), Patrícia Melo (Inferno, 2000), Luiz Alberto Mendes (Memórias de um sobrevivente, 2001; Às cegas, 2005), Luiz Ruffato (Eles eram muitos cavalos, 2001), André du Rap (Sobrevivente André du Rap (do Massacre do Carandiru), 2002), Julio Ludemir (Sorria, você está na Rocinha, 2004), Jocenir (Diário de um detento, 2ª ed., 2001), Caco Barcellos (Abusado: o dono do Morro Santa Marta, 6ª ed., 2003), Dráuzio Varella (Estação Carandiru, 1999), Hosmany Ramos (Pavilhão 9: vida e morte no Carandiru, 3ª ed., 2002), Humbert Rodrigues (Vidas do Carandiru: histórias reais, 2002), Luis Eduardo Soares, MV Bill e Celso Athayde (Cabeça de porco, 2005), entre outros, tampouco foram incomodados, ao que se saiba?
Levando-se em conta que ao menos em parte destes filmes e livros são recorrentes situações e cenas em que o tráfico e o crime são enfocados, apresentando diálogos ou canções que nada ficam a dever a algumas das letras cantadas pelos funkeiros6, seria o caso de se pensar que a perseguição policial e judiciária é privilégio de grupos e intérpretes de rap e funk? A censura aí implicada, em conluio com a ausência de critérios para criminalizar ou indiciar, ou não, criações culturais, em outros termos, a arbitrariedade não poderia ser no caso pensada, ao menos a princípio, como (mais) um sintoma da proverbial e sociológica cordialidade brasileira, atuando com toda a potência da hipocrisia? A cordialidade, afinal, não configura ou suscita uma política de representação?
(Sérgio Buarque de Holanda, um dos pioneiros e principais teorizadores da cordialidade, caracteriza o homem cordial a partir do predomínio contínuo das vontades individuais, que identifica ao longo da história nacional. A aversão ao fundamento coercitivo, para ele fundamental para o estabelecimento de civilidade, conduz ao “desconhecimento de qualquer forma de convívio que não seja ditada por uma ética de fundo emotivo”7. Ensimesmada, alheia ou hostil a tudo que a submeta a um universo para ela estranho, não pautado pelo sentimento, a personalidade individual brasileira resistiria a se deixar comandar por sistemas de ação ou de pensamento marcados pelo rigor e consistência.8 Sendo o afeto função de preferências, não raro caprichos, a prática da cordialidade redundaria numa parcialidade que entra em choque com qualquer perspectiva neutra, baseada numa igualdade estabelecida por princípios universais, abstratos e impessoais.
Dentre as diversas conseqüências trazidas pelo estabelecimento deste tipo de prática, duas, aqui, merecem atenção especial. Uma delas é a tendência, que Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, reitera em diversas oportunidades, de nossos intelectuais e intérpretes se evadirem da realidade do país, seja por intermédio de uma “crença mágica no poder das idéias”, seja a partir de um “amor às letras” de que decorre uma percepção e concepção da literatura como “derivativo cômodo para o horror à nossa realidade cotidiana”, ou através de uma mera sobrevalorização de normas e códigos legais magnificamente dispostos ao longo de páginas de códigos e manuais (“A rigidez, a impermeabilidade, a perfeita homogeneidade da legislação parecem-nos constituir o único requisito obrigatório da boa ordem social”).9
Correlata a esta prática o historiador chama a atenção para a existência, no país, de uma tradição cujo traço, quiçá de maior relevo, reside numa sorte de aversão a disputas e situações conflitantes, nos quais interesses e posturas fundadas em outros valores que não a cordialidade pudessem sair à luz. Segundo ele, “quisemos recriar outro mundo mais dócil aos nossos desejos ou devaneios”, de onde “o caráter transcendente, inutilitário, de muitas das (…) expressões mais típicas” do “mundo circunstante”. A política, nesse quadro, era por ele compreendida antes de tudo pelo empenho “em desarmar todas as expressões menos harmônicas de nossa sociedade”.10 A elisão de conflitos, realizada pelos setores dominantes da sociedade brasileira, e por seus representantes, constituiria nesse caso um modo de falseamento ou de escamoteação de problemas concretos em torno dos quais se organizavam, e se contrapunham, distintos setores da sociedade brasileira. Mantendo-se numa pauta euclidiana, que por sua vez se move na senda já muito antes trilhada por José Bonifácio, isso no alvorecer da Independência, também para Sérgio Buarque de Holanda a heterogeneidade permanecia sendo uma característica inegável da população nacional.11
Tal diagnóstico, exposto na década de 1930, parece ser, ao menos a princípio, compartilhado por um dos intelectuais brasileiros mais influentes da segunda metade do século XX, Antonio Candido, admirador, aliás, de Sérgio Buarque de Holanda. Em “Dialética da malandragem” Antonio Candido ressalta, referindo-se ao século XIX, que a imaturidade de nossa sociedade, de par com a preocupação em ombrear-se com as civilizações européias, teria engendrado “mecanismos ideais de contenção”, que se estenderiam por vários setores de nossas atividades. No terreno jurídico, normas impecáveis auxiliando na instituição de uma aparente ordem regular que em verdade inexistia. Na literatura, o acento em “símbolos repressivos” visando salvaguardar a eclosão de impulsos, situação que encontraria seu exemplo mais marcante em José de Alencar.12
Ainda que Candido reconheça na sociedade brasileira do século XIX a presença de um anseio por uma ordem regular e estável, pelo qual a dinâmica social via-se enquadrada e ao mesmo tempo falseada, uma comparação com a sociedade norte-americana leva-o a realçar o sentido idealista que atribui a essa busca, movimento que o leva a se distanciar da posição de Sérgio Buarque de Holanda, em cuja órbita até então ele parecia se mover. Para Antonio Candido a obsessão pela ordem constituiria antes de tudo um “princípio abstrato”, e a liberdade um mero “capricho”, pois entre nós, diferentemente do que teria ocorrido entre os puritanos da Nova Inglaterra, “formas espontâneas da sociabilidade atuaram com maior desafogo e por isso abrandaram os choques entre a norma e a conduta, tornando menos dramáticos os conflitos de consciência”.13 A partir daí, e operando com base numa distinção entre atitudes e comportamentos, que estariam sujeitos às convenções da ordem, e consciência, que seriam indiferentes a cerceamentos, o autor avança na sua caracterização da sociedade brasileira, descrevendo-a a partir de uma suposta porosidade, uma capacidade de incorporar diferentes grupos sociais e raciais, com o que fronteiras eram ao final esgarçadas.14
Assim, se em Sérgio Buarque de Holanda a cordialidade é pensada como uma forma de escamoteação, ocultando conflitos de fato existentes, para Antonio Candido estes não existiriam, ou, caso existissem, teriam sua importância atenuada por uma tolerância que facultaria a permeabilidade entre grupos e indivíduos, afastando, portanto, possíveis confrontos. Onde o primeiro percebe uma estratégia de ocultação, de dissimulação que equivale a um gesto de arbítrio e poder, o segundo vislumbra um processo de harmonização de diferenças, que tenderiam a se dissolver antes de se materializarem, em especial no domínio da consciência. Daí a postulação de um “mundo sem culpa”, em que a censura, a lei, perdem força e sentido, na medida em que todos são infratores, senão cúmplices. Na penumbra da cordialidade, concebida sob um prisma de negação e de denúncia em relação a um pensamento e a uma organização social e política autoritários, entra em cena o conceito de “malandragem”, pensado em termos positivos e conciliatórios.
A interpretação de Antonio Candido é ancorada em sua leitura das Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida. Segundo ele, caso isolado na literatura brasileira do século XIX, posto que sua perspectiva não seria a dos dominantes, este livro, na sua “estrutura mais íntima e na sua visão latente das coisas”, exprimiria “a vasta acomodação geral que dissolve os extremos, tira o significado da lei e da ordem, manifesta a penetração recíproca dos grupos, das idéias, das atitudes mais díspares, criando uma espécie de terra-de-ninguém moral, onde a transgressão é apenas um matiz na gama que vem da norma e vai ao crime.”15
É ao longo da análise do romance que Antonio Candido vai, passo a passo, definindo a conceituação do malandro e da malandragem, que terá longa e larga vida na nossa cultura, tendo sido não raro aceita como traço fundamental de um suposto “caráter nacional brasileiro”. Na concepção do crítico, a malandragem opera como um eixo ou lugar privilegiado em que se articulariam, e se resolveriam por equivalência, dois pólos: o da ordem, da lei e do interdito, e o da desordem, da transgressão. Tais pólos, como visto, para Antonio Candido pouco teriam de rigidez, projetando-se um sobre o outro, descaracterizando-se e sendo descaracterizados num ritmo ao sabor do qual a vida social brasileira teria se pautado ao longo do tempo, ritmo que o romance em foco formalizaria em termos estéticos.
Neste eixo são localizados a personagem central do romance, Leonardo Filho, e seus pais, distribuindo-se as demais personagens no plano superior ou inferior, conforme elas vivam “segundo as normas estabelecidas” ou “em oposição ou pelo menos integração duvidosa em relação a elas”: “um hemisfério positivo da ordem e um hemisfério negativo da desordem”. Coincidentemente, como assinala Candido, o mundo do lado superior é o “das alianças, das carreiras, das heranças, da gente de posição definida” que a “polícia respeita e cujas festas o Major Vidigal não vai rondar”.16 A conhecida cena em que este surge uniformizado da cintura para cima e em trajes caseiros para baixo, quando transige, após conversa ao pé de ouvido com uma mulher sua velha conhecida, aceitando não só libertar Leonardo, mas ainda o promovendo a sargento, ocupa posição central na interpretação de Antonio Candido. É com base nela que emerge uma das principais conclusões que sustentam a leitura do livro de Manuel Antônio de Almeida, e, por extensão, da sociedade brasileira:
Ordem e desordem se articulam portanto solidamente; o mundo hierarquizado na aparência se revela essencialmente subvertido, quando os extremos se tocam e a labilidade geral dos personagens é justificada pelo escorregão que traz o major das alturas sancionadas da lei para complacências duvidosas com as camadas que ele reprime sem parar.17
Explorada com maestria, a cena faculta ao crítico mostrar a ocorrência de um trânsito entre ocupantes do hemisfério superior, que podem, a seu bel prazer e de acordo com suas conveniências, baixar ao plano mais degradado. Entretanto, para além do evidente autoritarismo implicado neste movimento, que atende a interesses pessoais, a afetos momentâneos e a expansões de cordialidade (afinal, o Major numa só tacada recupera uma antiga amante e volta a contar com Leonardo, um inimigo respeitável que o fizera passar por um vexame público, como aliado e subalterno), resta evidente que o poder de infringir, sem maiores riscos de sanção, é apanágio notadamente, senão apenas, daqueles que ocupam a posição de cima. Estes, com efeito, após as breves visitas aos de baixo, de quem usufruem, retornam sem remorsos a sua posição de origem, que afinal de contas é de fato a deles. Neste trânsito transitório, a via de mão dupla é prerrogativa tão somente de alguns. Para os que estão embaixo não há possibilidade de escapatória, a não ser que aceitem pôr-se a serviço dos de cima, realizando seus caprichos e vontades, não raro sob o resguardo do segredo e sob o risco do degredo.
A sociedade descrita em Memórias de um Sargento de Milícias, conforme observa o próprio Antonio Candido, seguindo sugestão de Mário de Andrade, caracteriza-se pela restrição, estando de fora tanto as “camadas dirigentes” como as “camadas básicas”, das quais há apenas alguns parcos representantes.18 Isso, no entanto, segundo o ensaísta, não é empecilho para que a investigação da “função” ou “destino” das pessoas nessa sociedade possua alcance representativo e sentido cognitivo.19Seja como for, se a “gente modesta” que comparece no romance tem obstada a possibilidade de transitar pelo universo superior, o que não dizer das camadas ainda mais baixas, cuja ausência aliás é plenamente significativa? E, por outro lado, a ausência de remorsos, de culpa, localizada no plano superior, não poderia ser pensada como um modo compensatório, disfarce ou travestimento hipócrita que figura a má consciência de abastados e de seus porta vozes? Até que ponto, afinal, o romance é de fato fundado numa perspectiva que não privilegia os grupos dominantes? Em que medida o elogio a uma harmonia de diferenças não ofusca a percepção de tensões irresolvidas, que dão vazão a desentendimentos e não raro descambam em conflitos efetivos?
A leitura de Antonio Candido, por razões de natureza sobretudo teórica, parece dar destaque insuficiente a uma série de cenas, boa parte delas efusivamente marcadas pela violência. Por exemplo, a algumas em que o representante maior do pólo da ordem, o Major Vidigal, disciplina e pune representantes do pólo oposto, ou até de seu próprio pólo, isso com a condição de estes serem surpreendidos acompanhando práticas propostas por aqueles. Tudo isso em conformidade com seus caprichos ou inclinações de momento. É o caso da cena em que Leonardo Pataca é flagrado na casa do Caboclo do Mangue, em pleno delito de nigromancia, quando Vidigal, após exigir dos presentes que continuassem a cerimônia até que estivessem extenuados, ordena que sejam açoitados, levando a seguir o pobre Leonardo para a casa da guarda, de onde só sairia após o empenho de aliados poderosos em seu favor. Vale lembrar que o arbítrio do Major fica também evidente quando resolve poupar o Mestre de Cerimônias do vexame de ficar exposto, preso, ao público, após este ter sido descoberto na festa na casa de sua amante cigana, não por acaso a mesma personagem que motivara a prisão de Leonardo.
No episódio da fuga de Leonardo filho a presença do afeto como vetor do comportamento do Major é evidenciado, ao lado de seu caráter vingativo, que reaparece no episódio do “papai lêlê, seculorum”. Em síntese, a caracterização da personagem é feita a partir de uma ênfase notável em componentes arbitrários de sua personalidade, e nos poderes despóticos que concentra. A um só tempo, como explicita o narrador, ele é policial, juiz e carrasco:
O major Vidigal era o rei absoluto, o árbitro supremo de tudo o que dizia respeito a esse ramo de administração; era o juiz que julgava e distribuía a pena, e ao mesmo tempo o guarda que dava caça aos criminosos; nas causas da sua imensa alçada não haviam testemunhas, nem provas, nem razões, nem processo; ele resumia tudo em si; a sua justiça era infalível; não havia apelação das sentenças que dava, fazia o que queria, e ninguém lhe tomava contas. Exercia enfim uma espécie de inquirição policial.
A passagem, a despeito de sua expressão cristalina, é ainda complementada por uma observação do narrador que resume, através de modalizações cujo alcance irônico é evidente (de antemão preparada pelo itálico colocado em palavra estratégica), o quanto havia de arbitrário nas intervenções da personagem. Esta nem por isso é desabonada; ao contrário, o narrador demonstra uma simpatia condicional por ela, revelando um tipo de complacência ou condescendência, quiçá cumplicidade, que guarda alguma analogia com as relações descritas no romance, em particular entre membros do grupo superior:
Entretanto, façamos-lhe justiça, dados os descontos necessários às idéias do tempo, em verdade não abusava ele muito de seu poder, e o empregava em certos casos muito bem empregado.20
Incansável perseguidor de festas populares, nos arrabaldes do Rio de Janeiro, em que modas e fados eram entoados, tormento de magos, curandeiros ou praticantes de religiões que não gozavam de boa reputação, além de vadios e capoeiras, as intervenções do Major, restritas como realçou Antonio Candido ao universo inferior, tinham também a função de resguardar valores, zelar por práticas e costumes sancionados pelos de cima.21
Se a encarnação da ordem que era o Major Vidigal opera de maneira seletiva, a justiça efetiva, por seu turno, não fica atrás, sendo no romance considerada em função de sua parcialidade, senão exclusividade. Logo na abertura do livro, ainda no primeiro capítulo, ela é descrita não só como terrível, mas também como inacessível, em particular para os representantes do hemisfério inferior, o da desordem. O “— Dou-me por citado —”, como ressalta o narrador:
… eram uma sentença de peregrinação eterna que se pronunciava contra si mesmo; queriam dizer que começava uma longa e afadigosa viagem, cujo termo bem distante era a caixa da Relação e, durante a qual, se tinha de pagar importante passagem em um sem número de pontos; o advogado, o procurador, o inquiridor, o escrivão, inexoráveis Carontes, estavam à porta de mão estendida, e ninguém passava sem que lhes tivesse deixado, não um óbolo, porém o conteúdo de suas algibeiras, e até a última parcela de sua paciência” (p. 6).
Pouco adiante, na seqüência da cena em que Leonardo Pataca agride a Maria, quando esta faz menção de procurar pela justiça, a resposta do compadre barbeiro soa como veredicto implacável: “ — É melhor não se meter nisso, comadre… sempre são negócios com a justiça… o compadre é seu oficial, e ela há de punir pelos seus” (p. 12). Além do corporativismo, o acesso à lei como privilégio dos poderosos é reiterado na apresentação da personagem de D. Maria, caracterizada como dona de um dos “peiores vícios daquele tempo” (p. 76), “a mania das demandas” (p. 77), que é em seguida justificada com uma referência explícita à disponibilidade financeira: “Como era rica, D. Maria alimentava este vício largamente” (p. 77).
A leitura de Antonio Candido confere também pouco destaque a um mecanismo básico de comportamento que regula a convivência de boa parte das personagens das Memórias. Não por acaso tal comportamento é expressão de conflitos manifestos e latentes que perpassam a sociedade enfocada por Manoel Antônio de Almeida. Trata-se da criação de intrigas, calúnias ou maledicências, a traição pura e simples ou a fabricação de confusões, mecanismos pelos quais as personagens tentam defender seus interesses ou realizar seus propósitos, à custa da desqualificação e do descarte de seus oponentes de momento.
Assim Leonardo Pataca, para tentar reaver os amores da cigana que o trocara pelo Mestre de Cerimônias, busca ajuda a um capoeira, pagando-lhe para que este fosse à festa na casa da ex-amante, onde sabia que estaria seu oponente, e uma vez lá armasse confusão. Após ativar o pólo da desordem, ele vai atrás do representante da ordem, Vidigal, contando-lhe da festa e afiançando que haveria baderna, episódio que culmina na punição do Mestre de Cerimônias e seu posterior desligamento da cigana, que reata com Leonardo.
Também Leonardo filho, que encontra em José Manoel um rival em seus amores com Luisinha, sente ganas de decapitá-lo e se preocupa em encontrar meios de “dar cabo” dele, como indica o relato. Em auxilio de Leonardo vem o padrinho, e este reclama a intervenção da comadre, que se põe em ação. Primeiro lançando comentários para que D. Maria atentasse para o mau caráter de José Manoel, e com ele antipatizasse, movendo uma “intriga surdíssima e constante” (p. 111) contra ele; em seguida armando uma calúnia atroz, quando o acusa de ter sido o desconhecido que havia fugido com uma moça de família, o que faz com que D. Maria não mais o receba em casa.
Por ocasião de seus amores com Vidinha, Leonardo será outra vez pivô de uma intriga movida por questões amorosas, quando dois primos da mulata, vendo-se preteridos, armam para o oponente uma cilada para tirá-lo da cena, isso após uma “guerra de dous contra um (…) [a] princípio surda e muda (…) [que] passou a ditérios, a chasques, a remoques (…) [e] finalmente desandou em descompostura cerrada” (p. 146). Por fim denunciam Leonardo para Vidigal, que o prende por conta da vida vadia que levava.
O Toma-Largura é outro que planeja vingar-se de Leonardo, mas é este que dele se vinga quando o prende, isso não sem antes Vidinha ter se aproximado do empregado da casa real com o intuito de vingar-se a um só tempo tanto de Leonardo como da rapariga da ucharia. Se no episódio com Teotônio, na casa de seu pai, Leonardo titubeia entre trair ao Major ou a Teotônio, optando por fim em enganar ao primeiro, na seqüência ele próprio é traído, acabando por ver-se mais uma vez aprisionado, agora porém numa situação mais delicada.
O enredo das Memórias, deste modo, mostra desenvolver-se em torno de um tipo básico de operação que manifesta conflitos latentes e não redundam em arranjos ou acordos, mas com o afastamento de rivais. Mesmo que tal prática seja comum a membros de ambos os hemisférios, há um esboço de organização bastante significativo. Porque, de um lado, o recurso à violência pura e simples, ao confronto direto, ocorre notadamente entre membros do segmento inferior ou inferiorizado (caso de Leonardo Pataca quando se mete com a cigana ou com o Caboclo do Mangue) e, de outro, apenas nesse segmento ocorrem traições efetivas, enquanto no lado superior predominam calúnias e intrigas. É ainda apanágio sobretudo dos poderosos, ou daqueles que por felizes acasos podem valer de sua proteção (como, de novo, é o caso de Leonardo Pataca, e da comadre), contarem com intermediários para auxiliarem em suas causas quando apanhados em delito ou quando procuram realizar suas ambições e desejos. Leonardo Pataca conta com o auxílio do Tenente Coronel em duas oportunidades, quando vai preso e quando viu-se em apuros por conta de irregularidades que cometera em autos sob sua responsabilidade. O Tenente, por seu turno, recorre a um “fidalgo de valimento”, que encontra entre seus companheiros um aliado, por conta de também este freqüentar práticas proibidas de feitiçaria. Ainda José Manoel vale-se de intermediários de influência, no caso o Mestre de Rezas.
Há uma sugestiva distribuição do usufruto do poder e da influência nas Memórias. Os que estão em posição mais elevada na escala social servem-se dos de abaixo para realizar caprichos ou para reafirmar e potencializar sua posição, visto que têm o poder de dobrar a lei e a ordem, no mínimo influir sobre ela. Quando ocorre que sejam contrariados, têm aliados bem postos para interceder por eles. Ao mesmo tempo, o lugar que ocupam lhes faculta, senão a impunidade, ao menos um abrandamento “natural” das punições, como ocorre com o Mestre de Cerimônias e como é indicado até no caso do Toma-Largura, que embora “da última classe, sempre era o toma-largura gente da casa real, e nesse tempo tal qualidade trazia consigo não pequenas impunidades” (p. 181).
Algumas passagens do romance sugerem inclusive que a infração à ordem é quase universal entre membros dos extratos mais altos. Por exemplo, quando o narrador, discorrendo sobre a prática interdita da feitiçaria, assinala que “não era só a gente do povo que dava crédito às feitiçarias; conta-se que muitas pessoas da alta sociedade de então iam às vezes comprar aventuras e felicidades pelo cômodo preço da prática de algumas imoralidades e superstições” (p. 19). O episódio da detenção do Mestre de Cerimônias deixa claro que entre os de cima a questão não era a de cometer infrações, pois era “certo não estar nenhum deles a tal respeito em circunstâncias de (…) atirar a primeira pedra” (p. 71), mas de que estas viessem à luz.
A observação do narrador após a explicação da origem da pequena fortuna do compadre barbeiro é indicação cristalina de um universo em que a culpa, que existe e é no caso explicitada, perde peso moral porque disseminada, comum, porque ganha justificativa em bons propósitos, mesmo que descortinados a posteriori, e porque combina com a lógica individualista, da exceção, que impera no romance, onde o que mais vale é a satisfação de desígnios pessoais: explicação dos inúmeros “arranjei-me (…) que vão aí pelo mundo” (p. 39).
Quanto aos que estão mais embaixo, resta-lhes recorrer à lei quando esta lhes convém, o que não os livra de serem perseguidos por ela logo a seguir, e pedir socorro para os de cima, para que intercedam em seu favor. Uma lógica fundada no arbítrio e na autoridade, ou seja, na cordialidade no sentido que Sérgio Buarque de Holanda a conceitualizou, impera nas Memórias.
Um dos argumentos a que Antonio Candido recorre em abono a sua leitura diz respeito a uma suposta neutralidade da perspectiva.22 Passagens do romance, contudo, possibilitam relativizar, ao menos, tal interpretação. Longe de uma neutralidade, elas indicam um posicionamento bastante claro do narrador diante de grupos ou seres enfocados, podendo ser vistas, por isso, como materializações de parcialidade. Manifestam uma visão de mundo que comunga valores característicos do plano da ordem. A descrição do caboclo da Casa do Mangue, qualificado como “nojento nigromante” (p. 20), é nesse sentido enfática: “Esta sinistra morada era habitada por uma personagem talhada pelo molde mais detestável; era um caboclo velho, de cara hedionda e imunda, e coberto de farrapos.” (p. 19)
Referindo-se a uma comunidade de ciganos, da qual Leonardo se aproximara, a má vontade com que a apreende justifica a escolha de uma cigana, a mesma inclusive, como causa da paixão, e da perdição momentânea, de Leonardo Pataca e do Mestre de Cerimônias:
Com os emigrados de Portugal veio também para o Brasil a praga dos Ciganos. Gente ociosa e de poucos escrúpulos, ganharam eles aqui reputação bem merecida dos mais refinados velhacos: ninguém que tivesse juízo se metia com eles em negócios, porque tinha certeza de levar carolo. A poesia de seus costumes e de suas crenças, de que muito se fala, deixaram-na da outra banda do oceano; para cá só trouxeram maus hábitos, esperteza e velhacaria (p. 26).
Quando apresenta aos leitores José Manuel a antipatia e a prévia determinação com que brinda a personagem saltam também aos olhos:
… quem olhasse para a cara do Sr. José Manuel assinalava-lhe logo um logar distinto na família dos velhacos de quilate. E quem tal fizesse não se enganava de modo algum; o homem era o que parecia ser. (…) Entre todas as suas qualidades possuía uma que infelizmente caracterizava naquele tempo, e talvez que ainda hoje, positiva e claramente o fluminense, era a maledicência (p. 94).
A parcialidade evidenciada na passagem é ainda potencializada se lembrarmos que boa parte das personagens do livro se caracteriza pela maledicência, senão pela traição pura e simples. Como a prática de delitos, ela é comum, mas no caso é objeto de uma condenação dirigida unicamente a uma personagem, movimento de arbítrio, portanto. O narrador de certo modo e no plano que lhe cabe mostra por vezes atuar em sintonia com o que observara com respeito a Vidigal, julgando e condenando quem quer, em função de valores que compartilha ou por razões afetivas. Ainda com referência a José Manoel, por exemplo, é de antemão revelado que a corte a Luizinha mirava na verdade a fortuna de D. Maria, revelação que ganha ares de condenação, quando menos por surgir em continuidade à caracterização negativa há pouco efetivada. Quando se trata do padrinho, contudo, revelação similar é precedida e seguida de descrições centradas no desespero de Leonardo causado pela descoberta de que tinha um rival, o que atenua o peso da denúncia (pp. 95 e 97).
A respeito da união ilegítima para Luisinha e Leonardo, posto que este, sendo sargento de linha, não podia casar-se, o narrador lança um juízo moral que rebate, enquanto crítica, no próprio momento contemporâneo: “Esse meio de que falamos, essa caricatura de família, então muito em moda, é seguramente uma das causas que produziu o triste estado moral da nossa sociedade”. (p. 208).
Longe de uma neutralidade moral correspondente a uma neutralidade social, a irreverência estilística dasMemórias, a “irreverência popularesca”, nos termos de Antonio Candido, talvez possa também ser vista como mais uma forma de reiterar a posição de mando e a desigualdade que impera no universo social ali resumido. Seja como for, iluminando outras cenas e passagens não realçadas por Antonio Candido, ou colocando sob outra luz passagens por ele tratadas, emerge uma leitura distinta do livro, em que a lógica da conciliação cede lugar a uma lógica em que a autoridade vigia, espreitando e dominando a convivência aparentemente pacífica, pronta a intervir e restabelecer uma ordem da qual ela sabe muito bem usufruir em proveito próprio. A arraia miúda, aqueles que fazem parte do hemisfério inferior são obrigados a se conformar com o papel de pacientes da lei, instrumentos de um ordenamento hipócrita porque fundado na exceção. Como se pode notar, há muito mais atualidade neste quadro do que seria de se esperar, infelizmente.
Ocorre que a análise proposta na “Dialética da malandragem” tornou-se um marco na crítica literária e em análises sociais do país.23 Não há como tratar disso aqui, mas surpreende que a generalização da interpretação proposta por Candido tenha sido até mesmo estendida para Cidade de Deus, romance de Paulo Lins que, ao propor um quadro que acompanha a escalada da violência nos morros e favelas do Rio de Janeiro, indicando a passagem de Salgueirinho a Zé Pequeno, ilustra com propriedade uma forma de reação contra a autoridade ali mesmo no coração do arbítrio, o que permite que o romance possa ser visto como alegoria de uma sociedade anômica e agônica. Diagnosticada a asfixia da possibilidade mesma de arbitragem, o enredo figura o esgotamento da paciência de membros daqueles segmentos sempre tratados como pacientes de uma ordem que lhes é e foi sempre alheia e imposta.
Longe de ser um caso isolado, ou resposta a uma situação contemporânea, o romance de Paulo Lins soma-se a uma série de outras narrativas que, já desde o século XIX, atentaram para fraturas que marcam o solo da sociedade brasileira, e que não cessaram de se alargar e se aprofundar. Motivando relatos em que figuram revoltas coletivas ou ações mais pontuais, imaginadas ou baseadas em episódios da história do país, é normal em tais livros a narração de reações violentas, notadamente por parte do Estado, como recurso tradicional de contenção e eliminação de distensões. Antecessores ilustres são, por exemplo, Euclides da Cunha, Lima Barreto, João do Rio, Aluísio Azevedo, Adolfo Caminha, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Rubem Fonseca, João Antônio, entre muitos outros.
Com relação às narrativas destes antecessores, todavia, em livros recentemente lançados, a exemplo deCidade de Deus, há uma diferença clara e significativa no modo e na perspectiva segundo os quais a apreensão da violência é realizada. Antes o predomínio absoluto era da terceira pessoa, ocupando a narração o lugar de intermediário entre o mundo dos poderosos, a quem se dirigia, e o mundo dos subalternos, que aparecia como uma espécie de objeto, ainda que fosse amiúde em seu nome que tais narrativas fossem forjadas. Com a ficção de Paulo Lins, Ferréz, ou o relato de autores como Luiz Alberto Mendes ou André du Rap, com o trabalho de um enorme contingente de funkeiros e rappers, é possível ver surgir um outro tipo de autoridade, baseada em uma experiência que a fratura social brasileira tornou particular, quiçá exclusiva, de grupos e segmentos sociais tradicionalmente postos à margem pelo Estado, e pelos poderosos, a não ser quando se trata de reprimi-los ou deles se servir para legitimar a própria distribuição de poder, que os alija, conformando-se assim um perverso ciclo vicioso.24
O trabalho de criadores como tais inverte ou subverte a lógica da objetificação antes dominante, na medida em que ao usarem da palavra reivindicam para os grupos e segmentos de que fazem parte o lugar de sujeito, se não de sua própria história, ao menos do direito de se representarem (como faz, por exemplo, o MC Catra em sua entrevista). Num breve porém instigante ensaio há pouco publicado, João Cezar de Castro Rocha, referindo-se à cultura brasileira contemporânea, propõe uma mudança de paradigma pelo qual a “dialética da malandragem”, tal como conceituada por Antonio Candido e desenvolvida, entre outros, por Roberto da Matta, seria substituída por uma “dialética da marginalidade”. Isso porque, segundo ele, tal modo de interpretar a sociedade, ainda que pertinente na medida em que indica com propriedade o apego das elites nacionais ao monopólio do exercício do poder, não mais daria conta de “grande número de produções recentes que desenham uma nova imagem do país”. Tal imagem seria “definida pela violência, transformada em protagonista de romances, textos confessionais, letras de música, filmes de sucesso, programas populares e mesmo séries de televisão”.25
É com base na constatação de que a confrontação manifesta mostra-se refratária a políticas ou leituras de conciliação, em parte devido à ausência de um denominador comum, que o ensaísta propõe o conceito da “dialética da marginalidade”, indicando com isso a superação parcial da “dialética da malandragem”. Percebendo um processo de infantilização do ponto de vista na adaptação de Cidade de Deus para o cinema, e em séries televisivas, ele caracteriza a “dialética da marginalidade” a partir de seu “alvo coletivo” e “pelo esforço sério de interpretação dos mecanismos de exclusão social, pela primeira vez realizado pelos próprios excluídos” (p. 8). A partir, portanto, de um assalto à fortaleza da palavra e de códigos e procedimentos de representação. Trata-se, em suma, de um processo de subjetivação que implica no direito e no poder de definir a própria imagem.26
Também Beatriz Resende, no painel que traça da literatura brasileira contemporânea, chega a conclusões semelhantes. Refletindo a partir da categoria do exílio, com a qual acompanha a cena cultural desde o retorno dos exilados políticos da ditadura, a autora identifica, na transição do século XX para o XXI, a emergência de uma literatura preocupada com o tema da exclusão, não mais territorial, mas social e econômica. O destaque é posto no fato de este espaço de exclusão paradoxalmente engendrar “sujetosde la producción artística, ahora también em la literatura”.27 Cidade de Deus é tomado mais uma vez como marco para esse processo de resgate do poder de usufruto da palavra, da possibilidade de organização de um discurso particular, não mais dependente de mediações e mediadores dado que surgida no interior mesmo dos espaços de exclusão tanto física como espacial, material e simbólica. A reversão do status quo percebida por Beatriz Resende altera ainda, segundo ela, o sentido do vetor que normalmente orienta as relações culturais numa sociedade como a brasileira. Ao invés, ou ao lado, de uma influência dos autores consagrados sobre os criadores marginais, ela divisa agora um trânsito em sentido contrário:
no cabe más al escritor llevar el arte a estos exiliados. Puede, sin embargo, entrar también por esta puerta estrecha que se abrió y participar — em su obra — del mundo de los exiliados de la gran ciudad, del consumo, del universo de la droga, los exiliados que viven en los morros de las ciudades y donde son perseguidos, ya sea por los soldados armados del narcotráfico o por los de la policía misma (pp. 118-119).
Como exemplo desta alteração Beatriz Resende lembra o nome de Luiz Ruffato, com seu Eles eram muitos cavalos.
Preocupada com o lugar do intelectual na sociedade contemporânea, lugar que ameaça ser ainda mais esvaziado em virtude dessa tomada da palavra por aqueles que tradicionalmente se viam dela excluídos, não necessitando portanto de mediadores, a autora defende a existência de um espaço a ser ocupado em situações de crise. Para tanto, e tendo em mente o exercício realizado por Ruffato em seu livro, ela postula para o intelectual e para o crítico o papel de tradutor, “el duro oficio de saber oír las voces de las múltiples cultureas e intentar traducirlas unas a las otras” (p. 121).
Há, claro, riscos evidentes nesta perspectiva, sendo o maior deles o retorno à situação anterior em que a expressão de excluídos dependia de mediadores para ser avalizada e conhecida. Um outro risco a ser considerado é o de que intelectuais e críticos, em nome do conhecimento ou do apuro estético, ou seja, de uma política valorativa, descartem produções realizadas por membros de grupos marginalizados. Em nome, por exemplo, de uma suposta pouca qualidade, ou do realismo por que elas se pautam. Esse, no caso, passa de bandeira de criadores, ou princípio de defesa mobilizado por advogados contra ataques policiais, para motivo de desqualificação pura e simples vinda da parte de intelectuais. Abre-se, com isso, uma outra frente na batalha da representação.
Este parece ser o caso da posição de Flora Süssekind, que identifica em livros feitos por ou sobre excluídos uma “imposição representacional”.28 A presença, em Capão pecado, de Férrez, e em Estação Carandiru, de Dráuzio Varella, de cadernos com fotos “que parecem materializar a geografia romanesca”, motiva a avaliação da autora de que tal prática leva à produção de “uma relação de dependência discursiva evidente do modo narrativo com relação à sua contraparte visual” (p. 62). Daí decorrer, segundo ela, uma “neutralização do processo narrativo, em prol de um inventário imagético” que desaguaria numa tendência à
reprodução de tipologias e conceituações correntes, estandardizadas, com relação a essas populações, quanto ao congelamento da perspectiva (à primeira vista aproximada) de observação numa presentificação restritiva, estática, fundamentada no modelo da coleção, e não na experiência histórica propriamente dita (p. 63).
Daí, ainda, um acento na, ao invés de crítica da, diversidade social de antemão estabelecida, senões que são estendidos mesmo para o romance de Paulo Lins, tido como exemplo de “livros-roteiros-potenciais” publicados, e adaptados para o cinema, nos últimos anos.
O acento em categorias estéticas que Flora Süssekind nomeia como “desrealização”, “reduplicação perversa”, ou a valorização de circunstâncias como os “‘encontros inesperados’ entre pessoas díspares”, que empresta de Ismail Xavier, a busca de “um rastro de Guignol na vida cultural brasileira das últimas décadas”, entre outras referências eruditas, não esconderiam alguma má vontade ou um certo desprezo por relatos crus e objetivos como os que ela condena, exatamente por supostamente falsearem ou imobilizarem a percepção de conflitos e fissuras sociais? Não haveria aí uma valorização do conhecimento em detrimento da experiência, um autoritário esvaziamento da autoridade, “ou seja, [d]a palavra e [d]o conto” (23), uma recusa ou desconfiança em “aceitar como válida uma autoridade cujo único título de legitimação” não deixa de ser uma experiência, conforme assinala Giogio Agamben?29
Já as reflexões propostas por Márcio Seligmann-Silva, acerca da chamada literatura carcerária ou prisional, operam notadamente com base nos conceitos de experiência e memória, por certo traumáticas na medida em que marcadas pelo universo violento que as conforma. Trata-se, segundo ele, de uma “literatura do real”, em que o testemunho como testis, certificado, se articula com o testemunho comosuperstes, martírio.30 Longe de considerá-la apenas em termos locais, o autor busca relacioná-la não só com tradição latino-americana da literatura de testimonio, mas também com a tradição da modernidade ocidental, o “movimento em direção ao real”, este, lido como “(des)encontro violento com o mundo” (p. 34), com o outro, constituindo um horizonte comum.
Na medida em que analisa essa literatura carcerária como manifestação de uma realidade extrema, no sentido benjaminiano do conceito, Seligmann-Silva avança das considerações estético-formais para uma concepção mais ampla do próprio gesto da escrita, o que permite pôr em discussão “o sentido atual da relação entre crítica literário-estética e crítica social” (pp. 37-38). A recorrência do termo “sobrevivência” no título de alguns destes livros (Memórias de um Sobrevivente, de Luiz Alberto Mendes; Sobrevivente André du Rap (do Massacre do Carandiru), de André du Rap), e nos testemunhos de autores da literatura e da cultura marginais31, indicam a oportunidade de pensar toda essa produção não segundo uma lógica instrumental, mas como expressão de um imperativo, de uma necessidade que traz “a eloqüência própria da vida, como um exemplo real, chocante, vivo e extremo, da função libertadora e vital do testemunho”.32Ou, nos termos de Márcio Seligmann-Silva, temos aí a revelação da “memória traumática e encriptada” como “uma modalidade de apresentação do esquecimento, do censurado e recalcado, que agora vem à tona nessas obras e reivindica o seu direito à voz”. As recordações, que aprisionam, levando “paradoxalmente à escritura como estratégia de arquivamento para esquecer” (p. 41) e, ao mesmo tempo, atestar o acontecido.
A literatura carcerária, dado o absurdo que encena, coloca em questão a lógica do bom senso, do logosracional, fundado na causalidade. A emersão do outro deste logos, todavia, pode ser também identificado em textos mais propriamente ficcionais, como os romances de Paulo Lins e Ferréz, por exemplo. Referindo-se a Cidade de Deus, Roberto Schwarz realça a inquietante presença do acaso como vetor principal de parte das ações narradas, e o recorrente naufrágio das intenções, apontando, enfim, para “uma dissolução geral do sentido”.33 Observações semelhantes podem ser feitas com relação aos livros de Ferréz. Nessas ficções, e também em Eles eram muitos cavalos, de Luiz Ruffato, salta aos olhos a incrível recorrência de situações mais ou menos fortuitas, via de regra culminando com a morte de dado protagonista, imediatamente substituído por outro, por vezes ainda mais jovem, o que enseja a formação de um círculo macabro que retorna sempre ao mesmo ponto, num ritmo porém sempre acelerado.
Em termos de estruturação estes livros têm em comum a fragmentação da narrativa e dos nexos temporais imediatos, a abertura do quadro de referências, que mesmo partindo de um enfoque centrado em dada comunidade se espraia pelo tecido urbano mais amplo, isso em harmonia com o recurso a uma perspectiva plural, de matriz rizomática, já que o número de personagens em cena é invariavelmente elevado. Quanto à linguagem, o forte apoio na oralidade dá ensejo a diálogos curtos e rápidos, o que ajuda na criação do ritmo alucinado, e que tem por contraste as intervenções dos narradores. Em termos técnicos, portanto, tais narrativas nada têm de primário, demandando um domínio considerável dos meios de expressão. Os romances revelam, portanto, um rigor e vigor de composição evidentes, um esforço consciente de encontrar soluções apropriadas para a matéria neles tratada.
A lógica da construção, deste modo, contrasta com a falta de lógica das ações narradas, contraste bastante significativo já que resume, de forma alegórica, o confronto entre letra e lei. Os motores das ações são aparentemente simples, da ordem da satisfação dos desejos ou dos sentimentos mais imediatos: a vingança, o sexo, a ostentação de objetos de consumo e de armas, o respeito ou o medo que suscitam nos outros, o consumo de drogas e álcool. A pressa com que tais demandas são perseguidas pode ser vista como função da consciência da transitoriedade da situação vivida pelas personagens, emblematicamente traduzida pela presença constante da traição e da delação, que faz de aliados de ontem inimigos de agora, e pela contínua desconfiança que todos nutrem por todos. A morte, afinal, é destino certo, coletivo.
Não seria possível perceber, nessas ficções, um “exercício de crueldade”, um apelo para que, voltando as costas à perenidade e à finalidade, atentemos para a promessa de triunfo para quem se apega à irresolução do instante, já que, conforme Georges Bataille, “la paradoja de la emoción sostiene que su sentido será mayor cuanto menos sentido tenga”?34 A representação do horror nelas ensejada não permitiria um alargamento do possível alcançado exatamente nas imediações da morte?
As reflexões de Bataille permitem lançar um outro olhar para estas ficções, percebendo em seus enredos um movimento que as aproxima da esfera do jogo, e do jogador em seu sentido mais extremo, ou seja, como aquele que coloca em jogo a sua vida mesmo, o que o livra de qualquer forma de coação, resumida pela figura do medo. A ausência de razão ganha com isso sinal inverso, já que a razão condena, por não poder compreendê-los, os excesso que governam o jogo, presa que está ao universo do trabalho, da acumulação, da causalidade.
Por outro lado, levando em conta a análise que Giorgio Agamben propõe sobre as conexões entre o jogo e o tempo, quando realça que o primeiro “tende a romper a conexão entre passado e presente e a resolver e fragmentar toda a estrutura em eventos”35, transformando sincronia em diacronia, que reina absoluta como no tempo infernal da roda de Íxon, é possível vislumbrar uma sugestiva conexão que pode muito bem auxiliar a entender essas ficções. Afinal, a somatória da fragmentação estrutural e da persistente e alucinante repetição de situações, ou seja, de jogos, que nelas se observa, insinua a paralisia da história e a perpetuação da distribuição desigual de ônus e bônus entre grupos da sociedade brasileira.
Ao aceitar jogar de modo autêntico, desencadeando inclusive a violência, as personagens renunciam ao servilismo implicado pela lógica do trabalho. Mais que apenas resposta às fraturas sociais existentes na sociedade brasileira, essa literatura da marginalidade não deixa de apontar para fissuras mais sutis, o que é próprio da arte, de onde porventura emerge um pensamento de algum modo mais livre, e também um jogo cujo esquecimento não trouxe nada mais, nas palavras de Bataille, “que los trabajos forzados de innumerables moribundos, de innumerables soldados…”.36)
Nada mais sintomático que a ação da polícia ter tido por epicentro o Morro da Providência. Primeira favela do Rio de Janeiro, ocupada, em falta de melhor opção, por soldados da República recém criada, grande parte deles ex-combatentes da Guerra de Canudos, para quem o governo federal prometera doar casas, na cidade maravilhosa — o resto, assassinado ou segregado, matável e insacrificiável, saga de Homo sacer.
*Carlos Eduardo Schmidt Capela é doutor em Literatura, professor associado de Teoria Literária e do Programa de Pós-Graduação em Literatura da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), além de pesquisador do CNPq. Possui artigos publicados em várias revistas especializadas na área de Literatura.
NOTAS
1 Minha aproximação aos temas de que trata este ensaio deve muito a Juliane Bürger e a Daniel Félix, que em função de suas pesquisas ajudaram a abrir meus horizontes com respeito à representação da violência, da exclusão, e quanto a mecanismos de controle implicados na tarefa de vigilância e contenção sociais. Agradeço ainda ao grupo de alunos que acompanhou as aulas do curso, que ofereci no Programa de Pós-Graduação em Literatura da Universidade Federal de Santa Catarina, no 1º semestre de 2005, cujo título foi exatamente o mesmo do presente ensaio, e no qual essa leitura foi sendo esboçada, com o apoio das discussões e sugestões nascidas na cumplicidade da sala de aula.
2 As reportagens foram publicadas nos dias 04/10/2005 e 05/10/2005, na Folha de S. Paulo, no caderno “Cotidiano”, respectivamente nas pp. C1 (com texto principal de Sérgio Rangel, ”Funkeiros são acusados de exaltar o tráfico”, de onde foi retirada a citação) e C3 (com texto assinado por Jaime Gonçalves Filho, “Funkeiro indiciado diz ‘cantar a realidade’”).
3 A citação é do texto de Jaime Gonçalves Filho. Matéria publicada um dia depois informa que a MC Sabrina, do grupo dos funkeiros indiciados, estava sendo também acusada de tráfico de drogas, “por ter cantado músicas que exaltariam traficantes, drogas e ações criminosas”. Segundo a reportagem, ela foi incluída no “item da Lei de Entorpecentes que estabelece como prática de tráfico induzir, instigar ou auxiliar alguém a usar drogas ou substância que determine dependência física ou psíquica”. “MC Sabrina é acusada de traficar drogas”, Folha de S. Paulo, 06/10/2005, caderno “Cotidiano”, p. C4 (texto da “Sucursal do Rio”).
4 O episódio figura em Cabeça de porco, de Luiz Eduardo Soares, MV Bill e Celso Athayde (Rio de Janeiro: Objetiva, 2005), sendo relatado pelo próprio MV Bill, que a partir da experiência lança algumas reflexões sobre a intolerância da sociedade brasileira com relação aos jovens da periferia, envolvidos ou não com o tráfico de drogas e com o crime (pp. 273-276). Situação análoga envolveu João Moreira Salles, por conta de sua aproximação com Marcinho VP, cujos desdobramentos são narrados e interpretados por Luiz Eduardo Soares, no mesmo livro (pp. 100-108). Também Caco Barcellos, em Abusado: o dono do Morro Dona Marta (6ª ed., Rio de Janeiro: Record, 2003), em que conta a trajetória de Marcinho VP, refere-se à relação entre este e João Moreira Salles e dá sua versão do episódio, transcrevendo inclusive editoriais e opiniões de intelectuais à época estampados em jornais do Rio de Janeiro (pp. 522-524). Tanto Caco Barcellos quanto Luiz Eduardo Soares fazem menção a uma suposta chantagem de setores da polícia contra João Moreira Salles. A recente exibição do vídeo de MV Bill na TV Globo, em horário e programa “nobres”, abre uma nova frente de discussão em torno deste tema tão incômodo, e intrigante. A atualidade e a pertinência do debate são de todo modo inquestionáveis. Daí, quiçá, o evidente mal estar que acarreta, e que justifica seu aflorar intermitente, em especial em momentos ligados a situações de crise.
5 A afirmação é de Nilo Batista, ex-governador e ex-secretário de segurança do Rio de Janeiro: “Esses jovens são artistas populares, que têm uma produção que fala da realidade e da crueldade em que vivem. Grande parte delas [das músicas] nem de autoria deles são. Mas representam aquilo que vivem diariamente”; “Defesa contará com mutirão de advogados”, Folha de S. Paulo, 05/10/2005, Caderno “Cotidiano”, p. C3.
6 A reportagem da Folha de S. Paulo, do dia 05/10/2005, traz o fragmento de uma das letras que motivaram o indiciamento. Trata-se do “Bonde do 157”, do MC Frank: “Não se move, não se mexe / Na Chatuba é 157 / Não tira a mão do volante / Não me olha e não mexe / É o bonde da Chatuba / Do artigo 157 / Vai, desce do carro / Olha pro chão, não se move / Me dá seu importado / Que o seguro te devolve / Se liga na minha letra / Olha nós aí de novo / É o bonde da Chatuba / Só menor periculoso / Audi, Civic, Honda / Citroën e o Corolla / Mas se tentar fugir / Pá, Oum! Tirão na bola / Na Chatuba é 157 / Aí parado, ninguém se mexe / Nosso bonde é preparado, mano PQP / Terror da Linha Amarela e da Av. Brasil / Nosso bonde é preparado / Não tô de sacanagem / Um monte de homem-bomba / No estilo Osama Bin Laden”.
7 Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, 13ª ed., Rio de Janeiro: José Olympio, 1979; p. 109.
8 Por um “princípio superindividual de organização”, na palavra de Sérgio Buarque de Holanda. Daí que cada um afirme-se “ante seus semelhantes indiferente à lei geral, onde essa lei contrarie suas afinidades emotivas, e atento apenas ao que o distingue dos demais, do resto do mundo”; Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, op. cit., p. 113.
9 Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, op. cit., respectivamente pp. 119, 121 e 133.
10 Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, op. cit., respectivamente pp. 121, 123 e 132. Em suas reflexões sobre Raízes do Brasil, Maria Odila Leite da Silva Dias observa que o alheamento identificado por Sérgio Buarque dificultou a construção de uma identidade nacional e exacerbou fraturas sociais e políticas características do país: “Através de um estilo que disciplinava negações, desfilava o historiador os obstáculos que se opunham à consolidação de uma identidade nacional entre nós. De um lado, a hipertrofia do Estado e do poder das elites dirigentes, divorciados da realidade brasileira, a ela avessos, envergonhados ou indiferentes. De outro, uma sociedade dividida em pluralismos raciais e sociais, que não chegavam a viver plenamente a expressão ou as tensões de suas contradições. Eram os sintomas da existência de um profundo abismo entre sociedade e Estado, fenômeno a seu ver bem característico da sociedade brasileira.”. “Texto introdutório” aRaízes do Brasil, em Intérpretes do Brasil, 2ª ed., Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2002; p. 906.
11 Ver, de Euclides da Cunha, por exemplo, “Da Independência à República (Esboço político)”, em À margem da Historia, 3ª ed., Porto: Lello & Irmãos, 1922; de José Bonifácio, “Representação à Assembléia Constituinte e Legislativa do Império do Brasil sobre a escravatura”; em Projetos para o Brasil, org. Miriam Dolhnikoff, SP: Cia das Letras, 1998.
12 Antonio Candido, “Dialética da malandragem”, O discurso e a cidade, 2ª ed., São Paulo: Duas Cidades, 1998; p. 51.
13 Antônio Candido, “Dialética da malandragem”, op. cit.; p. 51.
14 “Não querendo constituir um grupo homogêneo e, em conseqüência, não precisando defendê-lo asperamente, a sociedade brasileira se abriu com maior largueza à penetração dos grupos dominados ou estranhos. E ganhou em flexibilidade o que perdeu em inteireza e coerência.”. Antonio Candido, “Dialética da malandragem”, op. cit., p. 51.
15 Antonio Candido, “Dialética da malandragem”, op. cit., p. 51.
16 Antonio Candido, “Dialética da malandragem”, op. cit., p. 37.
17 Antonio Candido, “Dialética da malandragem”, op. cit., p. 43.
18 Antonio Candido, “Dialética da malandragem”, op. cit., p. 32.
19 “Sendo assim, é provável que a impressão de realidade comunicada pelo livro não venha essencialmente dos informes, aliás relativamente limitados, sobre a sociedade carioca do tempo do Rei Velho. Decorre de uma visão mais profunda, embora instintiva, da função, ou “destino” das pessoas nessa sociedade; tanto assim que o real adquire plena força quando é parte integrante do ato e componente das situações”; Antonio Candido, “Dialética da malandragem”, op. cit., p. 35
20 Manoel Antônio de Almeida, Memórias de um Sargento de Milícias, edição crítica de Cacília de Lara, Rio de Janeiro: LTC, 1978; p. 21 (doravante as páginas das citações, referidas sempre a essa edição, serão apresentadas logo após o texto citado, entre parênteses). Não deve ser esquecido o diálogo entre D. Maria e o Major, quando esta, a cigana e a comadre vão, em comissão, interceder em favor de Leonardo: “ — Mas um filho, quando é soldado, retorquiu o major com toda a gravidade disciplinar… / — Nem por isso deixa de ser filho, tornou D. Maria. / — Bem sei, mas a lei? / — Ora, a lei… o que é a lei, se o Sr. major quiser?…” (p. 201).
21 “Mais do que um personagem pitoresco, Vidigal encarna toda a ordem; por isso, na estrutura do livro, é um fecho de abóboda e, sob o aspecto dinâmico, a única força reguladora de um mundo solto, pressionando de cima para baixo e atingindo um por um os agentes da desordem. (…) O seu nome faz tremer e fugir.” Antonio Candido, “Dialética da malandragem”, op. cit., p. 42.
22 “Na construção do enredo esta circunstância (certa ausência de juízo moral e… aceitação risonha do “homem como ele é”) é representada objetivamente pelo estado de espírito com que o narrador expõe os momentos de ordem e de desordem, que acabam igualmente nivelados ante um leitor incapaz de julgar, porque o autor retirou qualquer escala necessária para isso”. Antonio Candido, “Dialética da malandragem”, op. cit.; p. 39.
23 O próprio Antonio Candido, por exemplo, aplica o princípio da dialética da malandragem para a sua análise de O cortiço, onde, segundo ele, “está presente o mundo do trabalho, do lucro, da competição, da exploração econômica visível, que dissolvem a fábula e sua intemporalidade. Por isso falei aqui em jogo do espontâneo e do dirigido, concebidos, não como pares antinômicos, mas como momentos de um processo que sintetiza os elementos antitéticos. Espontâneo —, mais como tendência, ou como organização difusa, à maneira da sociabilidade inicial do cortiço, fortemente marcada pelo espírito livre de grupo. Dirigido, — que é a atuação de um projeto racional”. Em “De Cortiço a Cortiço”, O discurso e a cidade, op. cit., p. 151.
24 Situação análoga pode ser vista em livros que operam a partir da oposição entre personagens nacionais e não-nacionais. Na ficção do século XIX até meados do século XX, estrangeiros e imigrantes são normalmente objetos do olhar. Já com autores como Ana Miranda (Amrik, 1997), Raduan Nassar (Lavoura arcaica, 1975), Fausto Wolf (A mão esquerda, 1996), Milton Hatoum (Relato de um certo Oriente, 1989, e Dois irmãos, 2000), Moacyr Scliar (A majestade do Xingu, 1997), Samuel Rawet (Contos do imigrante, 1956), José Clemente Pozenato (A cocanha, 2000), Salim Miguel (Nur, na escuridão, 1999), entre outros, a perspectiva se inverte, sendo os não-nacionais sujeitos de um olhar que tem por objeto cenas e seres nacionais.
25 João Cezar de Castro Rocha, “Dialética da marginalidade (Caracterização da cultura brasileira contemporânea)”, em Mais!, Folha de S. Paulo, 29/02/2004; pp. 4 a 8. A citação é da p. 6. Nas próximas citações deste ensaio será apenas indicado o número da página, entre parênteses, no corpo do texto.
26 Em sua análise de Cidade de Deus, Roberto Schwarz, embora identifique no livro a presença de “certo negaceio malandro entre ordem e desordem”, permanecendo portanto por uma parte no âmbito da Dialética da Malandragem, por outra mostra-se atento ao fato de que no romance os “resultados de uma pesquisa” foram “ficcionalizados do ponto de vista de quem era objeto de estudo”, que passa a sujeito de ação, reconhecendo portanto o processo de subjetificação em foco. Ao mesmo tempo, na conclusão do ensaio, parece apontar para o esgotamento da Dialética da Malandragem como princípio interpretativo da cena e da cultura contemporâneas. Referindo-se à época em que vigoravam outras modalidades, mais brandas, podemos dizer, de criminalidade, e ao seu recrudescimento contemporâneo, ele observa, comentando a princípio o período que antecedia o carnaval: “Os crimes, que certamente não deixam de acontecer no processo, são como que equilibrados pelo objetivo maior e comum, que alegra a cidade. É como se dentro da desigualdade houvesse uma certa homeostase do todo, até certo ponto tolerável, que a guerra do narcotráfico vem romper. No interior desta última e de suas exigências sem perdão, a alegria da vida popular e o próprio esplendor da paisagem carioca tendem a desaparecer num pesadelo, o que é um dos efeitos mais impressionantes do livro”. Roberto Schwarz, “Cidade de Deus”, em Seqüências brasileiras (Ensaios), São Paulo: Cia das Letras, 1999, pp. 163-171. As citações são das pp. 164, 168 e 171-172 respectivamente.
27 Beatriz Resende, “El exilio de los que se quedan”, em Sujetos em tránsito: (in)migración, exilio y diáspora em la cultura latinoamericana, ed. Álvaro Fernández Bravo, Florencia Garramuño e Saúl Sosnowski, Buenos Aires: Alianza, 2003; pp. 109-121. A citação é da p. 116. Nas próximas citações deste ensaio será apenas indicado o número da página, entre parênteses, no corpo do texto.
28 Flora Süssekind, “Desterritorialização e forma literária. Literatura brasileira contemporânea a experiência urbana”, em Literatura e sociedade, São Paulo: Universidade de São Paulo, FFLCH, DTLLC, n. 8, 2005; pp. 60-81. A citação é da p. 62. Nas próximas citações deste ensaio será apenas indicado o número da página, entre parênteses, no corpo do texto.
29 Giogio Agamben, “Infância e história (Ensaio sobre a destruição da experiência)”, em Infância e história(Destruição da experiência e origem da história), trad. Henrique Burigo, Belo Horizonte: ed. UFMG, 2005; p. 23.
30 Márcio Seligmann-Silva, “Violência, encarceramento, (in)justiça: memórias de histórias reais das prisões paulistas”, em Revista de Letras, São Paulo: UNESP, v. 43, n. 2, jul./dez. 2003; pp. 29-47. A citação é da p. 36. Nas próximas citações deste ensaio será apenas indicado o número da página, entre parênteses, no corpo do texto.
31 “Primeiro eu tive sorte. Sempre agradeço por ter saído da fofoca na hora H, senão eu tinha morrido. Ter saído da reta da polícia, se não eu tinha morrido. Primeiro, tive sorte de estar vivo, tá ligado? Hoje, um cara com 27 anos vivendo em Capão é um sobrevivente”. “A voz da periferia clama por mudanças”, entrevista com Ferréz feita por Marco Aurélio Braga, A Notícia, Florianópolis, 27/07/2003.
32 Conforme Soshana Felman, “Educação e crise ou As vicissitudes do ensinar”, em Catástrofe e Representação, org. Arthur Nestrovski e Márcio Seligmann-Silva, São Paulo: Escuta, 2004; pp. 13-72. A citação é da página 59.
33 Roberto Schwarz, “Cidade de Deus”, Seqüências brasileiras, op. cit., p. 170.
34 Georges Bataille, “El arte, ejercicio de crueldad”, em La felicidad, el erotismo y la literatura (Ensayos 1944-1961), Sel. e trad. De Silvio Mattoni, Cordoba: Adriana Hidalgo, 2001, pp. 124-125.
35 Giorgio Agamben, “O país dos brinquedos (Reflexões sobre a história e sobre o jogo)”, em Infância e história, op. cit., p. 90.
36 Georges Bataille, “Estamos aquí para jugar o para ser serios?”, em La felicidad, el erotismo y la literatura, op. cit., p. 219.
BIBLIOGRAFIA
AGAMBEN, Giorgio. Infância e história (Destruição da experiência e origem da história). Trad. Henrique Burigo, Belo Horizonte: ed. UFMG, 2005.
___________. Homo sacer (O poder soberano e a vida nua I). Trad. Henrique Burigo, Belo Horizonte: ed. UFMG, 2002.
ALMEIDA, Manoel Antônio de. Memórias de um Sargento de Milícias. Edição crítica de Cacília de Lara, Rio de Janeiro: LTC, 1978.
ATHAYDE, Celso; BILL, MV e SOARES, Luiz Eduardo. Cabeça de porco. Rio de Janeiro: Objetiva, 2005.
BARCELLOS, Caco. Abusado: o dono do Morro Dona Marta. 6ª ed., Rio de Janeiro: Record, 2003.
BATAILLE, Georges. La felicidad, el erotismo y la literatura (Ensayos 1944-1961). Sel. e trad. de Silvio Mattoni, Cordoba: Adriana Hidalgo, 2001.
BONIFÁCIO, José. Projetos para o Brasil. Org. Miriam Dolhnikoff, São Paulo: Cia. das Letras, 1998.
CANDIDO, Antonio. O discurso e a cidade. 2ª ed., São Paulo: Duas Cidades, 1998.
CUNHA, Euclides da. Á margem da Historia. 3ª ed., Porto: Lello & Irmãos, 1922.
DIAS, Maria Odila Leite da Silva. “Texto introdutório” a Raízes do Brasil. In: Intérpretes do Brasil, 2ª ed., vol. III, Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2002.
FELMAN, Soshana. “Educação e crise ou As vicissitudes do ensinar”. In: Catástrofe e Representação. Org. Arthur Nestrovski e Márcio Seligmann-Silva, São Paulo: Escuta, 2004.
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 13ª ed., Rio de Janeiro: José Olympio, 1979.
RESENDE, Beatriz. “El exilio de los que se quedan”; Sujetos em tránsito: (in)migración, exilio y diáspora em la cultura latinoamericana. Ed. Álvaro Fernández Bravo, Florencia Garramuño e Saúl Sosnowski, Buenos Aires: Alianza, 2003; pp. 109-121.
ROCHA. João Cezar de Castro. “Dialética da marginalidade (Caracterização da cultura brasileira contemporânea)”. In: Mais!, Folha de S. Paulo, 29/02/2004; pp. 4 a 8.
SCHWARZ, Roberto. Seqüências brasileiras (Ensaios). São Paulo: Cia. das Letras, 1999.
SELIGMANN-SILVA, Márcio. “Violência, encarceramento, (in)justiça: memórias de histórias reais das prisões paulistas”. In: Revista de Letras, São Paulo: UNESP, v. 43, n. 2, jul./dez. 2003; pp. 29-47.
SÜSSEKIND, Flora. “Desterritorialização e forma literária. Literatura brasileira contemporânea, a experiência urbana”. In: Literatura e sociedade, São Paulo: Universidade de São Paulo, FFLCH, DTLLC, n. 8, 2005; pp. 60-81.
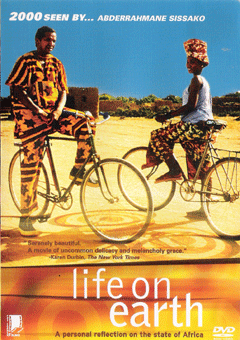
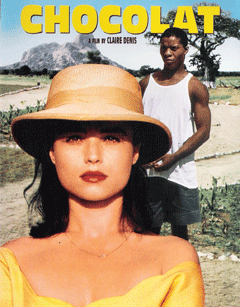
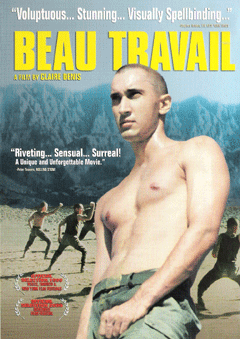
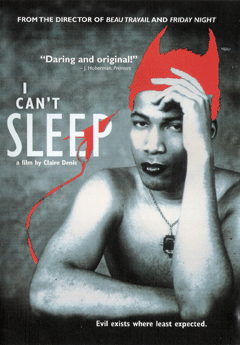
 , que chegou a tocar em algumas rádios FM do Rio de Janeiro com significativo sucesso em diversas regiões da cidade e com penetração em diferentes classes sociais. A fim de ilustrar o teor dessas composições, transcrevo um trecho desse funk. Sem dúvida, trata-se de uma canção exemplar daquilo que, mais tarde, se convencionaria chamar proibidão.
, que chegou a tocar em algumas rádios FM do Rio de Janeiro com significativo sucesso em diversas regiões da cidade e com penetração em diferentes classes sociais. A fim de ilustrar o teor dessas composições, transcrevo um trecho desse funk. Sem dúvida, trata-se de uma canção exemplar daquilo que, mais tarde, se convencionaria chamar proibidão.
 A partir daí, entra em cena uma combinação de cartas para seções de leitores dos jornais (ou mensagens on-line, no caso de páginas na Internet), matérias, editoriais, notícias muitas vezes fantasiosas, quando não sensacionalistas, somadas à escassez de ofertas de emprego ou formas alternativas de obtenção de renda e estratégias de marketing que apostam tudo no consumo, entre outras formas de gestão opressiva das relações sociais. Esses procedimentos vão construindo formas de circunscrever o funk e seus adeptos. Trata-se de um processo – característico da confluência de lugares de fala conservadores – capaz de construir muros fortíssimos a separar os discursos, a produzir a estereotipia e a estigmatização dos setores populares, engendrando dessa forma os mecanismos que lhes vedam o acesso aos bens simbólicos e materiais oferecidos pela globalização. Entretanto, essa confluência conservadora não é impermeável, nem indestrutível. Em primeiro lugar, porque não se trata de dois lados definidos – a imprensa que condena é o mesmo espaço onde se constituem discursos alternativos ao da condenação, uma tensão que acredito ter ficado explícita no desenvolvimento dos últimos parágrafos. (E, por outro lado, os espaços populares têm que se haver com suas próprias tensões).
A partir daí, entra em cena uma combinação de cartas para seções de leitores dos jornais (ou mensagens on-line, no caso de páginas na Internet), matérias, editoriais, notícias muitas vezes fantasiosas, quando não sensacionalistas, somadas à escassez de ofertas de emprego ou formas alternativas de obtenção de renda e estratégias de marketing que apostam tudo no consumo, entre outras formas de gestão opressiva das relações sociais. Esses procedimentos vão construindo formas de circunscrever o funk e seus adeptos. Trata-se de um processo – característico da confluência de lugares de fala conservadores – capaz de construir muros fortíssimos a separar os discursos, a produzir a estereotipia e a estigmatização dos setores populares, engendrando dessa forma os mecanismos que lhes vedam o acesso aos bens simbólicos e materiais oferecidos pela globalização. Entretanto, essa confluência conservadora não é impermeável, nem indestrutível. Em primeiro lugar, porque não se trata de dois lados definidos – a imprensa que condena é o mesmo espaço onde se constituem discursos alternativos ao da condenação, uma tensão que acredito ter ficado explícita no desenvolvimento dos últimos parágrafos. (E, por outro lado, os espaços populares têm que se haver com suas próprias tensões).