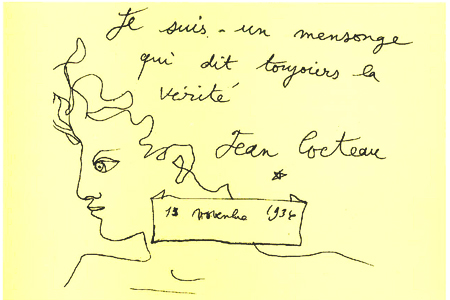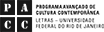* Dados da autora
Memória e a construção audiovisual da realidade: Uma análise do documentário Nós e os outros – uma sociedade plural

Este trabalho discute o episódio Nós e os outros: uma sociedade plural da série documental Portugal, um retrato social. A análise é proposta sob duas perspectivas. Por um lado, discute o papel desempenhado pelo serviço público de televisão ao produzir esta série que aborda a sociedade portuguesa contemporânea. E, por outro lado, analisa o quarto episódio intitulado “Nós e os outros – uma sociedade plural”, que trata das mudanças que ocorreram no país com a entrada de imigrantes estrangeiros nos últimos anos. Este trabalho insere-se no pós-doutoramento sobre a qualidade na televisão, realizado no CIAC da Universidade do Algarve (Portugal) com financiamento da FCT/MCTES, e analisa tanto a produção de conteúdos de qualidade que têm como referência a realidade, quanto a contribuição da televisão pública para a discussão sobre as relações entre a história e a memória recente do país. Problematiza ainda a contribuição de obras audiovisuais como Portugal, um retrato social no atual processo de inscrição pelo qual a sociedade portuguesa atravessa a partir da obra Portugal, hoje. O medo de existir.
Serviço público de televisão português
Desde os anos 1990 o serviço público de televisão português tem passado por vários revezes, como os seus congêneres europeus. A abertura do mercado e a concessão de licenças de funcionamento aos canais privados, no início da década de 1990, reconfigurou o mercado audiovisual e pressionou a discussão a respeito do papel e das funções a serem desempenhadas pelo serviço público de radiodifusão e de televisão. Neste período, o governo e a sociedade civil estiveram envolvidos em diálogos a fim de regular o serviço de radiodifusão e de televisão, em especial, o serviço público. A Rádio e Televisão Portuguesa (RTP) encontrava-se em crise, com enormes dívidas agravadas principalmente pela abolição da taxa de licença paga pelos cidadãos em 1991 e pela redução da emissão de publicidade devido às pressões exercidas pelos dois canais privados, SIC e TVI, cujas licenças foram concedidas respectivamente em 1992 e 1993. O déficit financeiro da RTP cresceu de cerca de 50 milhões em 1995 para 200 milhões em 2001, enquanto os canais privados aumentaram consideravelmente os seus lucros.
Em 1995 o governo socialista criou uma Comissão de Reflexão sobre o Futuro da Televisão, cujas sugestões dos especialistas foram aceites, mas não foram implementadas, levando com isso ao agravamento do cenário. Porém, tanto o governo quanto a sociedade civil têm conhecimento da importância da regulação do papel a ser desempenhado pelo serviço público de televisão.
Nas questões levantadas durante a Conferência Internacional sobre Televisão, realizada no ISCTE em 1997, o então Secretário de Estado Arons de Carvalho (apud SOARES, 1997:14) enfatizou que o grande desafio do serviço público era conseguir conjugar o máximo de audiências e de qualidade com o mínimo de custos, garantindo a diversidade e a qualidade da programação, além da independência em relação ao poder público e aos interesses privados.
Em dezembro de 2002, o governo social democrata apresentou as suas propostas no documento intitulado “Novas Opções para o Audiovisual”1. Este documento salientou a crise de identidade do setor em relação à estratégia, à organização e à integridade, principalmente devido ao não cumprimento das obrigações de serviço público, à perda das audiências, aos altos custos de produção e de recursos humanos e à má gestão dos fundos públicos. As novas estratégias delineadas para a reestruturação do serviço público de rádio e televisão enfatizavam a defesa e a garantia da identidade nacional e a complementaridade dos princípios básicos do serviço público (educar, informar e divertir) em todos os gêneros da programação, promovendo assim a diversidade e a inovação.
Em 2003 foi aprovada a Lei da Televisão, em que o segundo canal do serviço público passou a ter uma concessão especial cujo objetivo era a sua entrega a algumas entidades da sociedade civil no período de oito anos. Com a mudança do governo e a volta do Partido Socialista ao poder, a lei foi revista e, em 2007, foi aprovada uma nova Lei da Televisão que se encontra atualmente em vigor. Este panorama dos percursos e dos percalços, pelos quais o serviço público de televisão tem atravessado nos últimos anos, é importante de ser mencionado porque, de certa maneira, explica a dificuldade em implementar a produção e a transmissão sistemática de conteúdos de qualidade. A cada novo governo mudam-se as leis, mudam-se as regras e a produção audiovisual, como seria de se esperar, sofre com isso.
Entretanto, nem que seja em termos retóricos, as leis e os contratos de concessão de serviço público têm enfatizado a importância do incentivo à produção de conteúdos audiovisuais de caráter nacional, e também de língua portuguesa, especialmente de documentários, de obras de animação e de ficção. O artigo 48.º da Lei da Televisão de 2007 2 incumbe o Estado de assegurar a existência de medidas de incentivo à produção audiovisual de ficção, documentário e animação de criação original em língua portuguesa. No artigo 53.º consta que o serviço de programas generalista nacional, isto é, o canal RTP1, deve ser dirigido ao grande público e
atender às realidades territoriais e aos diferentes grupos constitutivos da sociedade portuguesa, concedendo especial relevo: a) À informação, designadamente através da difusão de debates, entrevistas, reportagens e documentários; b) Ao entretenimento de qualidade e de expressão originária portuguesa; c) À transmissão de programas de carácter cultural; d) À sensibilização dos telespectadores para os seus direitos e deveres enquanto cidadãos.
A cláusula 9.ª do Contrato de Concessão de Serviço Público de 25 de março de 2008, relativa ao primeiro serviço de programas generalista de âmbito nacional, refere que o serviço público generalista deve, pelo menos, incluir espaços regulares de difusão de documentários originais, focando a realidade social, histórica, cultural, ambiental, científica ou artística portuguesa.
A fim de incentivar e patrocinar a produção de documentários, a RTP e o ICA (Instituto de Cinema e Audiovisual, antigo ICAM – Instituto de Cinema, Audiovisual e Multimedia) firmaram um protocolo que abrange o apoio financeiro à produção, difusão, promoção e divulgação de obras cinematográficas assim como a disponibilização de imagens do arguivo pela RTP. Sendo assim, a RTP apoia a produção cinematográfica nacional, nos seus vários formatos e gêneros, designadamente longas-metragens, curtas-metragens, ficção, documentários e animação.
Porém, a relação entre a RTP2 e os documentaristas tem sido bastante conturbada. Num comentário ao número 5 da revista Docs.pt dedicada ao tema da relação entre o documentário e televisão, Leonor Areal enfatiza que a RTP não tem exibido os documentários que ela própria patrocina ao abrigo do protocolo com o ICA.
(…) são filmes financiados oficialmente, mas a RTP recusa-se a emiti-los e a devolvê-los à sociedade de onde provêm, que reflectem e a quem se dirigem, impossibilitando o seu escrutínio público, a existência de crítica, de discussão e de vozes diversas no espaço público de televisão (nem que fosse tarde e a más horas!).
A documentarista ressalta que pode-se confirmar, na entrevista com o diretor da RTP2 para a referida revista, o que os documentaristas vêm chamando a atenção há alguns anos. A RTP não tem interesse em exibir os documentários produzidos ao abrigo deste protocolo simplesmente porque, na opinião do diretor, eles não condizem com a programação oferecida pelo canal. Reproduzo parte do texto de Leonor Areal em que enfatiza a opinião de Wemans: “Sendo mais claro, eu acho que há documentários de autor que não foram feitos a pensar em televisão e que portanto eu, como programador, acho que não têm lugar na grelha.” E ainda diz:
Eu não tenho nenhum espaço televisivo permanente que corresponda à ideia mais estreita de documentário de autor e nem estou interessado em criá-lo porque acho que ele deve dialogar com outros documentários. (…) É verdade que se o documentário de autor me surge como uma proposta em que eu não decidi nada, (…) que foi realizado por quem quis, com o olhar que quis, recorrendo aos financiamentos que pôde, esse documentário tem um espaço mais limitado na RTP2.
Na opinião de Areal só a diversidade pode garantir a liberdade de expressão, sendo que
cabe a um programador impor o seu programa estético e ideológico centralizado, mas dar abertura e espaço a que a diversidade de perspectivas se manifeste e chegue aos seus interlocutores: a sociedade, o público. O programador deve servir o espectador, não enquanto público-alvo, como em publicidade e televisão comercial, mas enquanto sociedade – isso é que é serviço público.
A documentarista Catarina Mourão, em um trecho não publicado da sua entrevista para a revista Docs.pt3, número 5, afirma o seguinte:
Se pensarmos no panorama do documentário criativo em Portugal em 1996 e agora 2006 é evidente que muita coisa mudou. (…) No entanto a Televisão pública continua a negar-lhe um espaço, impedindo o acesso do Documentário criativo ao grande público. Os apoios do ICAM existem e procuram ser regulares, mas diminuem de ano para ano (2000, 21 projectos; 2001, 23; 2002, 16; 2003, 15; 2004, 13 e 2005, 13 projectos). Por outro lado, os projectos que os concursos do ICAM apoiam são na sua maioria abordagens bastante convencionais e os critérios de escolha continuam a insistir nas temáticas e não nos olhares. Finalmente, dos projectos apoiados anualmente só um terço são divulgados e circulam nos festivais e mostras. E mesmo esses, produzidos ao abrigo do protocolo ICAM/RTP, nunca são transmitidos pela TV. Quanto aos restantes dois terços, será que existem? Por vezes surgem documentários apoiados marginalmente que surpreendem e nos deixam optimistas mas a grande maioria dos documentários produzidos no fio da navalha são muito frágeis.
A polêmica está, de certa forma, instalada entre os documentaristas, principalmente aqueles que procuram fazer documentários de autor, e a direção de programas da RTP2. Entretanto, por outro lado, o serviço público de televisão tem financiado iniciativas pontuais e tem produzido, não apenas ao abrigo do protocolo com o ICA, alguns documentários dignos de nota e que, conforme a própria afirmação de Wemans na referida entrevista, se apresentam como uma “iniciativa fundamentalmente centrada nos documentários sobre a cultura e património português.”
Em 2005 a Direção de Programas da RTP definiu três áreas temáticas como linhas de orientação para a produção de documentários: a História recente de Portugal, (séculos XIX e XX), Retratos da sociedade contemporânea e Biografias. Em 2006 o objetivo da RTP era emitir entre 40 a 45 horas de documentários de produção nacional. Foram exibidas quatro séries documentais “Portugal-Retratos de sucesso”, e outras três sobre o terramoto de 1755, sobre a sida em Moçambique e sobre o antigo primeiro-ministro Francisco Sá Carneiro.
Em 2007 foram exibidos dois documentários que obtiveram mais de 20% de quota de mercado4, “Portugal, um retrato social” (20,8%) e “A guerra” (26,9%sh), da autoria de Joaquim Furtado. Neste mesmo ano, na comemoração dos 50 anos de televisão em Portugal, também foram produzidos dois documentários da autoria de António Barreto e Joana Pontes: “Nós e a televisão” e “A televisão e o poder”.
Em nota de imprensa lançada pela emissora5, a RTP2 afirma que tem dedicado mais de 25 horas semanais da sua programação à divulgação de diferentes tipos de documentários, além de exibir as criações resultantes do acordo RTP-ICA e tem apoiado financeiramente dezenas de projetos que lhe são diretamente apresentados por realizadores. No final de 2007, RTP2 lançou um concurso público para que as produtoras apresentassem projetos no âmbito de duas séries documentais compostas de seis documentários de uma hora. O objetivo era de contribuir para consolidar as estruturas de produção audiovisual nacional e reforçar a qualidade da sua criação. Com isso, até ao final do primeiro trimestre de 2009, a RTP2 receberá 12 obras encomendadas que têm como autores e realizadores nomes como Fernando Lopes, Jorge Silva Melo, Catarina Alves, Joana da Cunha Ferreira, entre outros. Neste momento, conforme informação obtida no site TV Universo6 a RTP2 tem mais de 80 documentários encomendados. As séries documentais nacionais podem ser consideradas a grande aposta do canal para arentrée de 2008/09, com seis produções em andamento nos próximos dois meses: “Trabalhamos com mais de três dezenas de produtores independentes, cumprimos uma das nossas obrigações”, referiu Jorge Wemans na apresentação dos novos programas aos jornalistas.
Alguns dos documentários a destacar são: A vida normalmente, uma série de 10 programas sobre pessoas de bairros problemáticos; Recantos, um guia de descoberta por Portugal; Histórias da vida da terra, uma produção sobre a vida selvagem na Europa e também em Portugal; Percursos da vida portuguesa, que aborda a música erudita nacional desde o século XII até à atualidade; Gente da cidade, que mostra várias cidades europeias através do percurso de três pessoas, uma co-produção de diversas estações de televisão europeias produzida há aproximadamente 10 anos e Voluntário, uma série documental sobre histórias de voluntariado em Portugal. É de destacar ainda uma série documental de 12 episódios, feita em parceria pela RTP e televisão de Moçambique, que será da autoria do renomado escritor moçambicano Mia Couto e terá como tema os Parques Naturais de Moçambique. A série começa a ser gravada este ano e irá para o ar em 2009.
Portugal um retrato social
A série de documentários Portugal, um retrato social é de autoria do sociólogo António Barreto com direção de Joana Pontes e música de Rodrigo Leão, tendo sido produzido e transmitido pela Rádio e Televisão de Portugal (RTP) em 2007. Esta série aborda as grandes transformações sociais verificadas na sociedade portuguesa ao longo das últimas quatro décadas, as quais foram bastante profundas e muito mais rápidas do que na maioria dos países europeus. A emigração, a guerra colonial, a revolução política e social iniciada com a queda da ditadura, a fundação do Estado democrático, a descolonização e a contra-revolução, a adesão à União Europeia e a imigração foram alguns dos acontecimentos ou fenómenos históricos que marcaram este período e que resultaram ou aceleraram estas transformações. Barreto7 ressalta que
as sociedades pequenas e fechadas ao exterior, politicamente autoritárias, culturalmente viradas para si próprias, dotadas de insuficientes elites e com uma reduzida expressão das classes médias, como era o caso de Portugal, não têm, em certas circunstâncias, forças, dinâmicas e dimensão suficientes para gerar uma mudança social acelerada.
Com certeza que não foi efetivamente fácil para o país
(…) libertar-se de tudo aquilo que o tinha condicionado durante décadas: a ignorância e a reverência; a delação e o medo; o autoritarismo e a repressão. Ao mesmo tempo em que se separava de África, se voltava para a Europa; em que sacudia o paternalismo e criava uma República de cidadãos.
A série de documentários Portugal, um retrato social conta com oito documentários de uma hora. O primeiro documentário da série, intitulado Gente diferente: Quem somos, quantos somos e onde vivemos aborda o modo de vida dos portugueses em comparação com trinta atrás. O segundo documentário Ganhar o pão: O que fazemos lida com a questão do trabalho, mostrando que a maioria dos portugueses trabalha na área dos serviços, sendo que poucos ainda trabalham na agricultura e nas pescas e muitos emigraram para outros países europeus e da América do Norte. O terceiro documentário, intitulado Mudar de vida: O fim da sociedade rural, mostra a transformação da sociedade rural em urbana, com as emigrações campo-cidade e a organização de uma nova vida cotidiana nas áreas metropolitanas. O quarto documentário, Nós e os outros: Uma sociedade plural, mostra as mudanças no que diz respeito à abertura da sociedade portuguesa com a emigração, o turismo, a democracia e a chegada dos imigrantes estrangeiros. Hoje fala-se muitas línguas e pratica-se muitas religiões, o que levou os portugueses a aprenderem a viver com os outros. O quinto documentário, Cidadãos, discute a integração europeia e o crescimento económico, que fizeram dos portugueses cidadãos de pleno direito pela primeira vez na sua história. Porém a justiça, que deveria acompanhar este progresso, ainda está a adaptar-se a esta nova sociedade e tem dificuldades em garantir os direitos dos cidadãos. Em Igualdade e conflito: As relações sociais aborda-se o crescimento das classes médias e da sociedade de consumo de massas em relação às diferenças de classes, de poder económico, de geração, de sexo e de região que ainda subsistem na sociedade. As famílias portuguesas vivem melhor, sendo que em vinte ou trinta anos o bem-estar melhorou mais que nos cem anos anteriores. Em Um país como os outros: A formação de uma sociedade europeia constata-se que Portugal já não se distingue, a nível europeu, como o país da ditadura, da pobreza e do analfabetismo. Embora o país ainda esteja atrasado e com algumas deficiências a colmatar, os portugueses são cidadãos livres e têm acesso ao Estado de Bem-Estar Social como os outros europeus.
Nós e os outros: Uma sociedade plural: a construção audiovisual da realidade
A narrativa documental de Nós e os outros: Uma sociedade plural é construída por meio de imagens de arquivo, que contextualizam a vida do país desde os anos 60 até os dias de hoje, e de imagens e entrevistas gravadas recentemente. São utilizadas imagens de filmes e programas antigos que foram selecionadas dos Arquivos da RTP. As imagens recentes apresentadas são das vindimas, dos cultos religiosos, das fábricas, das cidades, dos bairros sociais onde vivem os imigrantes, das pessoas trabalhando, se divertindo e consumindo. As entrevistas foram feitas com portugueses, gente comum ou de renome, e com imigrantes de diversas nacionalidades. Foram apresentadas entrevistas com Fernando Lemos, Rui Saraiva e Silva, Rosa Peixe Rola (agente da PSP em 1972), emigrantes portugueses, Etelvino Batista (ex-soldado, Angola 1961-63) soldados portugueses retornados da Guerra colonial, Vitorino Sanches (um dos poucos africanos que chegaram a Portugal antes da descolonização), Carrie Jorgensen (agricultora americana de avós portugueses), Susana Esteban (enóloga), Catherine Henke (artista plástica e agricultora), Ansor Ahrorov (ucraniano), irmã Mafalda Muniz (de um centro social de bairro), António Pinto (empresário), imigrantes brasileiros, Andriy Kristopchuk (médico ucraniano), irmã Deolinda Rodrigues, Arminda Soares (presidente conselho executivo de escola), Anabela Rodrigues (jurista), Francisca Van Dunem (procuradora-geral adjunta).
A narração do documentário é realizada por uma voz fora-de-campo masculina, onisciente, que constrói a narrativa mostrando um ponto de vista sociológico sobre a história e modo de vida do país desde os anos 60, analisando as transformações sociais pelas quais a sociedade portuguesa tem atravessado, com ênfase, neste caso, na relação entre os portugueses e os outros povos que escolheram o país como local de residência nos últimos anos. O documentário mostra como os estrangeiros estão inseridos em vários âmbitos da vida social e econômica portuguesa. Nas entrevistas, algumas vezes se escuta a voz do entrevistador a interagir com o entrevistado.
Em termos de roteiro, a narrativa é cronológica e descritiva a fim de facilitar a compreensão do telespectador e tenta, de alguma forma, mostrar um ponto de vista crítico que também informa o telespectador das mudanças e das dificuldades, principalmente de integração dos estrangeiros. A última parte do documentário lida com as questões mais complicadas em relação a esta integração, mostrando casos concretos.
O percurso narrativo pode ser resumido na seguinte sinopse: o documentário começa com um ponto de vista dos portugueses durante a ditadura salazarista. Nesta época estes deviam ser vistos como pobres, honestos e trabalhadores. O Estado e a Igreja Católica ensinavam um só ponto de vista, contidos num manual único de ensino escolar. O país quase não tinha conhecimento sobre o que se passava em outros países. A sociedade era fechada, não havia muitos estrangeiros, praticava-se apenas a religião católica, os partidos estavam proibidos e falava-se apenas a língua portuguesa. A polícia secreta, denominada PIDE8 , controlava desde as cartas enviadas pelos correios, até a imprensa, a televisão, o cinema e o teatro, censurando os diálogos que eram considerados inapropriados nestes diversos modos de expressão. Com isso a vigilância fazia parte do cotidiano das pessoas. Poucas mulheres trabalhavam, as professoras estavam proibidas de usar maquiagem e, tal como as enfermeiras, necessitavam de autorização do governo para se casarem. As aeromoças, por sua vez, não podiam se casar. Os namorados que se beijassem na rua recebiam multas. Não havia muita manifestação pública de afeto. Os sentimentos eram socialmente reprováveis, sendo que o divórcio era uma das principais interdições neste terreno. Os empregos públicos dependiam de certificados de bom comportamento passados pelos governadores civis em que se afirmava: “declaro por minha honra que estou integrado na ordem social estabelecida pela constituição política de 1933 com activo repúdio do comunismo e de todas as ideias subversivas”.
Até os anos 60 vivia-se com muito medo. Foi quando as coisas começaram a mudar, devido ao grande crescimento econômico, os empregos gerados nas cidades e o consumo de massa. Os estrangeiros começaram a visitar o país trazendo novos comportamentos, as mulheres começaram a trabalhar, as classes médias quiseram dar mais educação aos seus filhos. Começou a haver mais consumo e mais opções de lazer, assim como os portugueses emigraram para o exterior, tendo emigrado mais de 1 milhão e meio de portugueses. Por outro lado, a ida à guerra transformou a cabeça dos jovens, que voltaram com outros pontos de vista. Em entrevista, Etelvino Batista afirma que a vida na Angola era muito diferente: “Nós eramos os provincianos e eles eram os citadinos”. Em Luanda as mulheres eram mais livres e a própria sociedade era mais aberta.
Atualmente, a sociedade portuguesa tornou-se plural e o país fechado passou à história. Na televisão, o modelo americano é o predominante, sendo que as novelas são copiadas do Brasil. Mudaram-se as ideias, os hábitos e as populações. Em 1975 cerca de 600 mil portugueses voltaram da África, fugindo da guerra e acabaram se integrando, apesar das dificuldades. Nos anos 80 os brasileiros e os africanos vieram trabalhar em Portugal. São os chamados imigrantes económicos. Surgem problemas em relação à identidade, como por exemplo as crianças africanas que praticamente nem falavam português e viviam em guetos. Nos anos 90 chegam os russos, os ucranianos e os romenos, que são mais qualificados do que a média dos portugueses, mas se disponibilizam para trabalhar em qualquer tipo de emprego. A chegada dos imigrantes teve um impacto positivo na economia, aumentando a produção. Meio milhão de estrangeiros estão legalizados, sendo que estima-se que 100 mil ainda continuam ilegais. Com isso surgiram também algumas questões problemáticas relacionadas com a dificuldade de adaptação, o trabalho, a língua e outras necessidades básicas, como a saúde, a educação, a moradia e o saneamento básico. Além do preconceito e da exploração pela qual os imigrantes passam. A questão da integração também se coloca, como por exemplo com a segunda geração de africanos em Portugal, porque muitos deles se sentem, ao mesmo tempo, africanos e europeus, caboverdianos e portugueses. E outros, mesmo sendo descendentes de africanos, são portugueses e sentem-se como portugueses, mas são vistos como descendentes de africanos e portanto africanos. Muitos deles nem sequer conhece o país de origem dos seus pais e avós.
Portanto, a abertura da sociedade foi o corte mais radical com o passado. Portugal é hoje um país moderno, integrado na União Europeia e, apesar de ter um atraso em relação a alguns níveis de vida europeus, não se pode dizer, como há alguns anos, que é um país subdesenvolvido. Porém, o que este documentário chama a atenção e de certo modo cumpre com a sua função social, é sobre questões mais complicadas que estão relacionadas com as mentalidades e com a identidade de um povo, questões estas que se tecem e se imbricam na vida das pessoas de forma ténue e, por isso mesmo, são mais delicadas e difíceis de lidar. Mas trabalhos audiovisuais como este, que são exibidos em horário nobre na televisão pública e têm uma grande audiência, podem de certa maneira colocar na pauta da agenda mediática nacional, e não só, as preocupações e as dificuldades de integração dos imigrantes, alertando para o facto de que os portugueses um dia também emigraram e que os imigrantes podem acrescentar valores não apenas econômicos, mas também culturais, à vida dos portugueses. Esta forma de debate, que não é maniqueísta mas que mostra diferentes pontos de vista, daqueles que vivem cá e também daqueles que vêm de fora, enriquece a vida social e cultural dos que vivem neste país.
A discussão da Qualidade
Pelo que foi exposto percebe-se que as obrigações legislativas impostas à televisão pública portuguesa vêm, de certa forma, sendo cumpridas ou, pelo menos, percebe-se que há uma forte intenção da RTP em cumpri-las. A RTP procura, apesar deste ser um esforço ainda mínimo, produzir documentários de qualidade, que lidam com temas de interesse nacional, que promovem a conscientização política e social dos habitantes do país e que, neste caso, trabalham com temas muito delicados como o preconceito, a integração e a formação de uma identidade nacional.
Nos estudos que estão sendo desenvolvidos no meu pós-doutoramento9 , estão a ser definidos parâmetros de qualidade a fim de discutir os programas emitidos pelos canais de serviço público português. Este documentário está inserido nos programas que veiculam conteúdos de âmbito social, e portanto na sua análise discute-se o papel institucional da televisão pública no sentido de informar e também estimular o desenvolvimento político e cultural dos sujeitos sociais.
Na análise do plano do conteúdo tanto da série documental Portugal, um retrato social como do documentário Nós e os outros: Uma sociedade plural percebe-se que os parâmetros de qualidade abaixo enunciados estão presentes.
1. Papel social desempenhado pela televisão pública – Promoção de sentimentos de pertencimento e a criação de laços sociais entre as comunidades, que têm reflexos sobre a democratização da sociedade e o desenvolvimento da cidadania. – Discussão de temas de carácter social e político, que enriquecem a vida social, cultural e política do público quando estimulam o seu interesse. – Acesso aos debates que, em outras esferas da sociedade, são mais difíceis de serem empreendidos. – Promoção da pluralidade da informação, o fomento de debates e a formação do público em geral. – Acesso ao conhecimento e à cultura das minorias que geralmente não têm representatividade nos media. – Produção de narrativas úteis a fim de gerar uma multiplicidade de sentidos que podem contribuir para a formação dos indivíduos.
2. Papel pedagógico da televisão na abordagem de assuntos de suma importância na era da globalização, como por exemplo, reciclagem, defesa do meio ambiente, imigração, preconceito etc…
3. Cumprimento das funções informativa, social, política, cultural, identitária, de mobilização de valores e de divulgação.
Em corroboração com os parâmetros de qualidade é possível afirmar que o documentário cumpre com vinte e um indicadores de qualidade, os quais foram também elaborados no meu estudo10 . São eles: Relevância; Estímulo ao pensamento, Estímulo ao debate de ideias e Apresentação de desafios; Ampliação do horizonte do público; Promoção da consciencialização política e/ou social dos cidadãos; Diversidade de temas e pontos de vista; Bom nível informativo; Entretenimento; Recurso às fontes; Seriedade; Objetividade; Subjetividade; Precisão; Oportunidade; Interesse público; Produção de sentido; Credibilidade; Promoção da identificação do espectador; Adequação em relação ao público e Exatidão dos factos narrados.
Em relação à Mensagem Audiovisual não se pode dizer que haja muita inovação no formato, uma vez que este documentário apresenta-se como um documentário televisivo padrão, apesar da originalidade na abordagem do tema e da música, encomendada ao renomado músico Rodrigo Leão, que é um dos integrantes do grupo musical Madredeus. Dos 11 indicadores de qualidade definidos no estudo, pode-se afirmar que o documentário cumpre com a Qualidade artística; Apelo à curiosidade; Apresentação de uma estrutura organizada; Clareza da proposta; Eficácia da transmissão da mensagem e Tratamento válido do assunto.
A inscrição da memória
Neste sentido, eu gostaria de ressaltar um último aspecto que está relacionado com o papel do serviço público de televisão no sentido de contribuir para o resgate do passado histórico, a inscrição da memória e a afirmação da identidade de uma nação. Na obra Portugal, hoje. O medo de existir o filósofo e professor da Universidade Nova de Lisboa José Gil tece uma severa crítica à sociedade portuguesa contemporânea sobre o que denomina como uma falta de inscrição dos cidadãos no sentido de agirem e atuarem efetivamente sobre os destinos do seu país.
Com a frase “Em Portugal, nada acontece.” José Gil (2005:15) afirma que se nada acontece quer dizer que nada se inscreve, seja na história ou na existência individual, na vida social ou no plano artístico. Um dos pontos nevrálgicos da não-inscrição, na opinião do filósofo, encontra-se na denominada Revolução de 25 de Abril, que recusou-se a inscrever no real os 48 anos de autoritarismo salazarista. Ou seja, a dita revolução ocorreu mas não houve uma mudança no modo de vida e no modo de pensar e perceber as relações sociais. O mesmo já havia acontecido com a queda do antigo regime. Não houve julgamentos nem dos responsáveis da PIDE, nem dos responsáveis do antigo regime. Pelo contrário, “um imenso perdão recobriu com um véu a realidade repressiva, castradora e humilhante de onde provínhamos. Como se a exaltação ‘afirmativa’ da Revolução pudesse varrer, de uma penada, esse passado negro.” Desta forma, o autor chama a atenção para o facto de que todos os crimes, assim como a guerra colonial e a cultura do medo e da pequenez medíocre engendradas pelo salazarismo se apagaram das consciências e da vida das pessoas. Quer dizer, no fundo não se apagaram, porque continuam de certa forma reprimindo a inscrição e a atuação dos cidadãos na sociedade.
Outro aspecto que o autor ressalta está relacionado com a criação e a existência de um espaço público de troca e discussão de ideias. Na época do salazarismo o espaço público foi reduzido ao mínimo, tendo desaparecido com a censura e a supressão da liberdade de expressão e de associação. O clima de anestesia gerado neste período continua a persistir. O autor indaga como funciona o espaço público em Portugal trinta anos depois do estabelecimento da democracia e constata que o país continua a não ter esse espaço aberto de discussão e troca de ideias, que é essencial para que a liberdade e a criação circulem no campo social. Nem mesmo na televisão.
Neste sentido, por exemplo, não há debate político. Os debates presenciados na mídia limitam-se às trocas de opiniões e de argumentos entre políticos, sempre de um partido, ou de comentaristas, os pretensos formadores de opinião que dialogam entre si. Além disso, muitos políticos são também comentadores, ou seja, fazem o discurso e o metadiscurso. Em outros campos, como nas artes e na literatura acontece o mesmo, não há espaço público de troca de opiniões, os artistas, os críticos e os acadêmicos vivem nos seus casulos e não dialogam de forma mais ampla, por meio por exemplo de publicações, exposições e conferências.
Se, por um lado, a televisão e a imprensa estão abertas ao país e ao mundo, por outro filtram tudo o que transmitem pela sua especificidade enquanto meios de comunicação. A função da mídia consiste em
abrir o espaço da comunicação social, que difere do espaço público, mas nem mesmo nesse nível se edificou um sistema que desse voz aos “sujeitos coletivos da enunciação”, sempre enquadrados (…) em fórmulas expressivas de representação que pervertem o que deveria ser (…) um fórum em que os cidadãos pudessem discutir problemas, levantarem questões, pensar e agir sobre a sua sociedade (GIL, 2005:33).
Com isso, a própria mídia contribui para esta situação geral da não-inscrição. O autor defende que, pela sua aparência de espaço público, o espaço midiático dá-se como anônimo, ou melhor, como uma realidade anônima, uma espécie de elemento pertencente ao aparelho de Estado, como os tribunais e as escolas. Sendo assim, como pertence a todos e a ninguém, a mídia não promove nem a participação nem a discussão.
Por outro lado, a mídia deveria ser um dispositivo essencial do poder público dos cidadãos e, nesse sentido, deveria se diferir dos aparelhos do Estado. Na opinião de José Gil, a televisão, a rádio e a imprensa têm vocação para construir o real cotidiano das comunicações concretas, não apenas das “notícias”.
Neste sentido, a série Portugal, um retrato social pode ser vista como uma contribuição da própria mídia para repensar um período importante da história do país, ao resgatá-la e recontá-la audiovisualmente, por meio das imagens de arquivo. Mas não só. Considerando que a televisão promove um espécie de laço social entre as pessoas (como argumenta Dominique Wolton), no sentido em que fazem parte das conversas do dia a dia e geram um certo hábito no público de seguir e comentar a história que está sendo contada, esta série discute as transformações sociais, políticas, econômicas e culturais do país nos últimos 40 anos e contribui à sua maneira, e pontualmente, para que as mentalidades mudem e para que se saia da inércia da não-inscrição.
Gil (2005: 55) afirma que
conversar, dialogar são maneiras de construir um plano de inscrição de falas e pensamentos. Por vocação interna a fala inscreve o espaço público e, enquanto tal, ela é, por si só, uma pré-inscrição (como expressão de um afecto, de uma obra, de um pensamento). O plano da inscrição das falas constrói-se como plano de forças com uma independência própria: só a partir da sua existência a conversa pode desenvolver-se, fluir sem esforço, como que movida por uma mola interior.
Sendo assim, podemos considerar que a televisão pública cumpre um papel essencial não apenas de resgate de um modo de vida, mas também de inscrição; não apenas do passado mas que tem, também, repercussões no presente. Neste sentido, o trabalho realizado por António Barreto e Joana Pontes tem grande relevância no panorama midiático português. Ao resgatar a história, recontá-la audiovisualmente, com imagens de arquivo e apresentar dados não apenas interpretativos mas também quantitativos e estatísticos, que dão certa objetividade ao discurso, os autores apresentam um ponto de vista histórico e sociológico e também promovem a discussão sobre as transformações sociais, econômicas e culturais do país nos últimos 40 anos contribuindo à sua maneira, e pontualmente, para que se saia da inércia da não-inscrição.
* Gabriela Borges é pesquisadora e professora de Estéticas e Linguagens Audiovisuais. Graduada em Comunicação Social pela UFMG. Mestre e Doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP, com estágios de investigação na Universidade Autónoma de Barcelona e no Trinity College Dublin. Lecionou disciplinas práticas e teóricas nos cursos de Comunicação Social em universidades brasileiras e no curso de Cinema e Teatro do Trinity College Dublin. Realizou o seu pós-doutoramento no Ciac (Centro de Investigação em Artes e Comunicação) e leciona actualmente como professora convidada na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve. Tem vários artigos publicados em revistas científicas brasileiras e estrangeiras e organizou o livroDiscursos e práticas de qualidade na televisão lançado recentemente pela Livros Horizonte, Lisboa.
Referências Bibliográficas
BORGES, Gabriela. Reflexões sobre o projecto A 2: em cena: estudo de parâmetros de qualidade para a análise de programas. Anais do V SOPCOM, Universidade do Minho, Setembro, ISBN 978-989-95500-1-8.http://lasics.uminho.pt/ojs/index.php/5sopcom (no prelo).
———————. Parâmetros de qualidade para a análise de programas de âmbito cultural: uma proposta teórico-metodológica. Revista Electrónica Nau do NP Comunicação Audiovisual do Intercom, Vol. 1, Nº. 1, E-ISSN 1983-6376. Disponível em http://revcom2.portcom.intercom.org.br/index.php/NAU/issue/current/showToc, 2008.
GIL, José. Portugal, hoje. O medo de existir. Lisboa, Ed. Relógio D’Água, 2005.
WOLTON, Dominique. Elogio do grande público. Uma teoria crítica da televisão. São Paulo. Ed. Ática, 2006.
NOTAS
1 Disponível em http://www.ics.pt/Ficheiros/serv_pub/Neo_Op_AV.pdf . Consulta em 25/09/2006.
2 Disponível em http://www.anacom.pt/content.jsp?contentId=506380 . Consulta em 25/09/08.
3 Disponível no blog DOC LOG da documentarista Leonor Areal em http://doc-log.blogspot.com/2006/07/passado-e-futuro-do-documentrio.html . Consulta em 27/08/08.
4 RTP newsletter Nº. 9, de dezembro de 2007. Disponível emhttp://ww1.rtp.pt/wportal/grupo/newsletter/index9.php . Consulta em 25/09/08.
5 Disponível em http://www.tvuniverso.com/index.php/RTP/Documentarios-em-forca-na-nova-grelha-da-RTP2.html . Consulta em 20/09/08
6 Disponível em http://www.tvuniverso.com/index.php/RTP/Documentarios-em-forca-na-nova-grelha-da-RTP2.html . Consulta em 20/09/08
7 Texto de apresentação da série de documentários. Disponível emhttp://www.rtp.pt/wportal/sites/tv/portugal_retrato/index.shtm . Consulta em 25/09/08.
8 A polícia secreta da ditadura salazarista.
9 A discussão do modelo teórico de análise da qualidade está disponível emReflexões sobre o projecto A 2: em cena: estudo de parâmetros de qualidade para a análise de programas. Anais do V SOPCOM, Universidade do Minho, setembro, ISBN 978-989-95500-1-8. http://lasics.uminho.pt/ojs/index.php/5sopcom (no prelo).
10 A explicação pormenorizada dos indicadores de qualidade do Plano do Conteúdo e da Mensagem Audiovisual foi desenvolvida em artigo publicado na Revista NAU. Disponível emhttp://revcom2.portcom.intercom.org.br/index.php/NAU/article/view/4216/4326 . Consulta em 20/09/08.