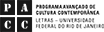Desde o Manifesto do partido comunista (1848), o marxismo sempre se posicionou simultaneamente como crítico e defensor da modernidade. A determinação do caráter contraditório do capitalismo – a combinação de aspectos positivos, como a urbanização e a industrialização, com traços negativos: a exploração, a reificação etc. – tornou-se uma de suas principais marcas distintivas. Essa associação fez com que os marxistas rejeitassem peremptoriamente as recorrentes tentativas teóricas de caracterizar o mundo atual como uma superação do capitalismo, da “sociedade pós-industrial” de Daniel Bell ao “fim da história” de Fukuyama. No entanto, o mesmo não ocorreu, como seria de se esperar, com o conceito de “pós-modernismo”.
A controvérsia sobre a pós-modernidade acabou se convertendo em um tópico essencial do debate marxista, sobretudo nos anos 1980, no bojo de uma discussão acalorada sobre o sentido e o significado da modernidade. A retomada dessa controvérsia explica-se em parte pelo próprio modo como o marxismo se constituiu com uma tradição comum, cumprindo a exigência de uma atualização constante do diagnóstico do presente histórico. Mas os próprios termos pelos quais essa avaliação passou a ser referida indica o impacto de determinadas dimensões que foram trazidas ao primeiro plano pela polêmica sobre o conceito de pós-modernismo.
Em geral, ao longo de sua trajetória, as descrições de época ensejadas pela linhagem marxista combinavam análises dos ritmos de desenvolvimento econômico do capitalismo e da conjuntura política com certa dose de “filosofia da história”. A polêmica sobre a pós-modernidade, no entanto, desde suas origens, se caracterizou por associar a configuração do presente histórico com a discussão sobre tendências estéticas e culturais.
1. Jürgen Habermas
Herdeiro da Teoria Crítica, Jürgen Habermas foi um dos primeiros marxistas a tratar a questão da pós-modernidade nesses termos, numa série de intervenções – cujo marco inicial foi o discurso por ocasião do recebimento do prêmio Theodor Adorno em Frankfurt, em setembro de 1980 – que adquiriram ressonância mundial. Nesse texto, denominado “Modernidade versus pós-modernidade”, Habermas ressalta tanto a dimensão sociológica como a estética da discussão.
Ele enfatiza que o neoconservadorismo americano, no qual Daniel Bell destaca-se como um expoente, não pode ser compreendido adequadamente quando se desconsidera que se trata, sobretudo, de um antimodernismo cultural, uma espécie de esquizofrenia que louva o progresso econômico mas rejeita suas consequências culturais, repelidas como regressivas. O centro do artigo de Habermas, no entanto, consiste em um posicionamento próprio em relação à discussão estética vigente no momento acerca da autonomia da arte, o legado das vanguardas e o declínio do modernismo.
Sua compreensão do presente histórico, no entanto, assenta-se sobre dois pressupostos não consensuais no campo do marxismo: (1) a hipótese de um desenvolvimento próprio, autônomo e independente da esfera cultural em relação às esferas econômica e política, proposta por Weber e predominante na sociologia do século XX; (2) a determinação do marxismo como um desdobramento do projeto iluminista, postura que não apenas considera a vertente social-democrata como a mais legítima na bifurcação dessa linhagem entre reformistas e revolucionários, como também ignora aspectos decisivos da crítica do Iluminismo presentes em Marx e destacados por Walter Benjamin, Max Horkheimer e Theodor Adorno.
Habermas retomou e desenvolveu essa análise de forma breve no opúsculo A nova intransparência e de maneira mais extensa no livro O discurso filosófico da modernidade, ambos de 1985. Sua defesa do projeto moderno como inacabado, um conjunto de potencialidades ainda não efetivadas, viga mestra de seu combate simultâneo ao antimoderno e ao pós-modernismo, não deixa de configurar, no entanto, um desvio em relação à avaliação prevalecente no marxismo, que já no Manifesto comunista destaca o caráter contraditório do capitalismo, apreensão que muitos denominaram de “dialética da modernidade”.
Apesar de seu diagnóstico dispensar uma elaboração mais detalhada dos desdobramentos do capitalismo, muitas vezes compreendido como um sistema uniforme e homogêneo, sua interpretação – sobretudo depois do impacto que adquiriu sua polêmica com François Lyotard e com o pós-estruturalismo francês – orientou majoritariamente o campo dos marxistas que rejeitaram, quase em bloco, a tese da emergência da pós-modernidade.
2. Fredric Jameson
Uma das poucas vozes marxistas discordantes foi Fredric Jameson. Ele começou a escrever sobre o assunto em 1982, mas sua posição só adquiriu ressonância com a publicação em 1984, na New Left Review, do artigo “A lógica cultural do capitalismo tardio”, que veio a se tornar o primeiro capítulo de seu livro Pós-modernismo (1991), no qual procura detectar uma dialética da pós-modernidade.
O uso do termo parece-lhe irrecusável não só pelas contingências intelectuais norte-americanas, mas principalmente por lhe parecer a descrição mais adequada de uma situação em que a modernização, totalmente implantada, não se defronta mais com obstáculos (leiam-se natureza e formas sociais pré-capitalistas) a serem superados. A realidade desse novo mundo – ao qual não caberia, como ao capitalismo descrito no Manifesto, fazer apologia ou condenar –, designa, por oposição à “modernização incompleta” da modernidade, uma versão mais pura e mais homogênea do capitalismo clássico, ou melhor, um terceiro estágio, o capitalismo multinacional, sucessor do capitalismo monopolista (o estágio do imperialismo) e do primevo capitalismo de mercado.
Jameson confere ao termo “pós-moderno”, para além de seu estatuto cultural, dimensões socioeconômicas e geopolíticas. Diferentemente do neoestruturalismo francês, congrega nesse conceito não apenas uma teoria epistemológica ou uma nova tendência estética, mas o concebe como um fenômeno social.
A nova divisão internacional do trabalho, a dinâmica vertiginosa das transações bancárias mundializadas, as novas formas de inter-relacionamento das mídias, tudo isso que hoje identificamos como sintomas da globalização seria, para Jameson, apenas as manifestações mais visíveis do capitalismo tardio, um estágio fundamentalmente distinto do antigo imperialismo (que ele define como pouco mais que a rivalidade entre várias potências coloniais).
Assim, a transformação cultural é adotada como signo e sintoma de uma metamorfose no interior do próprio modo de produção capitalista. Além de recortar esses três momentos da história do capitalismo, Jameson se propõe a determinar e desenvolver os demais aspectos da terceira fase do capitalismo, em especial a dimensão cultural, exposta por Ernest Mandel em O capitalismo tardio, levando em conta apenas os fatores econômicos.
Para estabelecer a topografia desse mundo onde a própria palavra modernização é prescindível, já que nele tudo é por definição “moderno”, Jameson toma como régua e compasso a determinação da lógica específica da cultura “pós-moderna”.
O primeiro passo consiste na delimitação dos traços recorrentes na produção – mas também nas teorias explicativas – do pós-modernismo, isto é, do período que se estende desde a institucionalização acadêmica do modernismo em meados dos anos 1960 até os anos 1990: a canibalização aleatória de todos os estilos do passado, ou melhor, a predominância estilística de pastiches (distintos das paródias valorizadas pelo modernismo); a criação de um hiperespaço muito além da capacidade humana de se localizar, seja pela percepção ou mesmo pela cognição, no meio circundante; a transferência da ênfase no objeto para a primazia da representação; a lógica espacial do simulacro etc. Em seguida, Jameson estende as características dessas linguagens culturais à esfera da vida cotidiana, às nossas experiências psíquicas e, por que não, ao “espírito do tempo”.
Essa abordagem totalizante passa – numa retomada do elã enciclopedista do Iluminismo – pelo mapeamento intelectual de uma multiplicidade impressionante de áreas do saber ou da arte. Evitando ao máximo os tiques classificatórios inerentes aos grandes panoramas, Jameson debruça-se sobre casos exemplares dessa nova sensibilidade, procurando – nem sempre de maneira feliz – conciliar análise formal e histórica. Para tanto, examina, entre outros, um leque que vai desde a teoria do pós-modernismo de Lyotard, o vídeo AlienNATION, a casa de Frank Gehry em Santa Monica, um livro nouveau roman de Claude Simon, instalações de Robert Gober e Nam June Paik, o novo historicismo de Walter Benn Michaels e Greenblatt, a análise de Rousseau por DeMan, o neoliberalismo econômico de Gary Becker, até filmes como Totalmente selvagem e Veludo azul.
Desse itinerário se depreende que o esmaecimento do sentido histórico, a substituição, como dominante, da categoria “tempo” pela categoria “espaço” ou a transmutação das coisas em imagens no processo de reificação, mais do que características de uma dominante cultural, constituem traços estruturais do capitalismo tardio.
Esse procedimento – o estabelecimento de conexões, a descoberta de afinidades entre fenômenos e esferas aparentemente distintos e autônomos –, um anátema para Max Weber e a modernidade, legitima-se, no pós-modernismo jamesoniano, pela dissolução explosiva da autonomia da esfera cultural, descrita por ele como uma prodigiosa expansão da cultura até o ponto em que tudo em nossa vida social – do valor econômico e do poder do Estado às práticas individuais e à estrutura da psique – deve ser considerado cultural.
Da mesma forma que os principais teóricos da modernidade – em especial Charles Baudelaire e Georg Simmel –, Jameson localiza no pós-modernismo uma alteração profunda das experiências da vida cotidiana, que afetam substancialmente a própria percepção e a vivência psíquica dos indivíduos. Modificações que derivam não apenas do esmaecimento do sentido histórico, com a substituição do predomínio da categoria tempo pela noção de espaço, mas sobretudo da transmutação, no bojo do processo de reificação das coisas em imagens.
Nesse modelo, a colonização do real pela cultura surge como uma atualização, ou melhor, uma amplificação telescópica do conceito de Theodor Adorno e Max Horkheimer de “indústria cultural”. Perdem-se, porém, as diferenciações internas – seja com o fim da autonomia das esferas normativa, cognitiva, cultural; seja pela aniquilação e descentramento do sujeito; seja pela dissolução da “alta cultura” – que possibilitaram tanto ao modernismo quanto ao marxismo ocidental (daí talvez a sua afinidade) se autorrepresentarem, na esteira de Marx, como expressões da dialética da modernidade.
Uma vez que a produção cultural hoje estaria totalmente integrada e, portanto, subordinada à lógica da mercadoria – o que não deixa de ser saudado por Jameson em nome da “democratização da informação” –, nada parece restar como apoio para sua acalentada intenção de estabelecer uma dialética da pós-modernidade. A sua empatia com os objetos que analisa, a evidente satisfação provinciana com o deslocamento do “espírito do mundo” para os Estados Unidos, a surpreendente simpatia pelo mundo “pós-moderno” transformam em mera retórica o seu projeto de “pensar dialeticamente a evolução do capitalismo tardio como um progresso e uma catástrofe ao mesmo tempo”.
A satisfação de Jameson no pós-modernismo marca, ela sim, uma ruptura com o mal-estar na modernidade, com a postura, incessantemente crítica frente a seu tempo, tanto dos marxistas ocidentais quanto da maioria dos artistas modernistas.
Apesar desses equívocos, os trabalhos de Jameson sobre o pós-modernismo outorgaram legitimidade intelectual e despertaram interesse por uma série de sintomas que pareciam apenas características de uma moda efêmera. Ao contrário de seus predecessores, entre os quais se destacam Lyotard e Habermas, ele procurou compreender o pós-modernismo não apenas como teoria epistemológica ou estética, mas também como fenômeno social. Abordando a pós-modernidade como signo cultural de um novo estágio na história do capitalismo, consumou uma inflexão de esquerda num conceito e numa discussão cujas origens remetiam à manutenção da ordem existente, como mostrou com propriedade Perry Anderson, em As origens da pós-modernidade.
Mas, a despeito de seu afã totalizante – de inspiração hegeliana – de estabelecer a topografia dessa nova sensibilidade, havia algo de insatisfatório em Pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio. Primeiro, nota-se certa dificuldade em seguir o preceito marxista, reiterado por ele próprio, de apontar a investigação para as contradições da nova ordem social. Depois, uma insuficiente utilização, na determinação específica do funcionamento em ato dessa nova lógica cultural, de seu principal achado teórico: a tese de que a estrutura do capitalismo tardio promove uma dissolução da autonomia da esfera cultural, gerando uma prodigiosa expansão até o ponto em que tudo na vida social – do valor econômico e do poder do Estado às práticas individuais e à estrutura da psique – passa a ser considerado como cultural. Tudo isso assoma ao primeiro plano do livro, num visível descompasso entre análise formal e histórica.
Para superar esses impasses, Jameson seguiu a pista – aberta mas não desenvolvida naquela obra –, segundo a qual a descrição e a decodificação de uma época pós-moderna nada mais foi que uma precoce e insuficiente tentativa de compreender a nova fase do capitalismo. A virada de Jameson pode ser documentada em um artigo seu publicado no número especial da revista Monthly Review, dedicado ao pós-modernismo, coletado no livro Em defesa da história. Enquanto todos os participantes seguiam a vereda aberta por ele, procurando identificar a lógica cultural da sociedade atual, Jameson, por sua vez, procurava compreender – na mesma chave, tomando-o como um fenômeno cultural sintomático da nova fase do capitalismo – a moda intelectual subsequente: o conceito de “globalização”.
Essa inflexão culmina no livro A virada cultural (1998). Nesse movimento em que desloca a ênfase do pós-modernismo para a globalização, da cultura para a economia, Jameson encontrou o que faltava em seu livro de 1991, uma adequada descrição daquilo que nomeia como terceiro estágio do capitalismo. As análises de Ernest Mandel, em O capitalismo tardio – um livro de 1972, redigido no momento da inflexão que conduziu o capitalismo a uma nova fase – cedem lugar à recente teoria de Giovanni Arrighi, exposta principalmente em O longo século XX.
Na versão de Arrighi, os movimentos do capitalismo, descontínuos e em perpétua expansão, cristalizam-se em um esquema cíclico que se desloca ao longo de nações e espaços geográficos distintos: a hegemonia migrou das cidades italianas para a Holanda, daí para a Inglaterra e, no século XX, para os Estados Unidos. Mas o que interessou a Jameson, em especial, foi a descrição do movimento interno de cada ciclo, uma tríade em que primeiro ocorre “a implantação de capital que busca investimentos numa região nova; em seguida, o desenvolvimento produtivo da região em termos de indústrias e manufaturas; e, finalmente, uma desterritorialização do capital na indústria pesada para possibilitar sua reprodução e multiplicação na especulação financeira”. Assim, o que em geral se denomina globalização seria apenas um aspecto de um processo mais profundo, o ingresso do capitalismo no terceiro estágio, de expansão financeira.
Com esse diagnóstico do presente histórico, Jameson recompõe alguns fios que pareciam soltos em suas análises. A abstração inerente ao capitalismo financeiro possibilita uma equalização entre análise histórica e formal. A lógica cultural do presente não se apresenta mais como um fechado universo foucaultiano, mas como expressão, na esteira da tradição marxista, da dialética da modernidade. Por fim, a tese da colonização do real pela cultura, simultânea à subordinação da produção cultural à lógica da mercadoria, pode ser desdobrada em todas as suas implicações.
Não se trata apenas de restabelecer, em outro patamar, a conexão entre economia e cultura, desplugada desde o declínio do marxismo ocidental em meados dos anos 1970, mas também de precisar, à luz de um novo contexto, a função da crítica. O predomínio do capital financeiro intensificou a dissolução da autonomia do estético, já prevista por Adorno e Horkheimer no conceito de indústria cultural, a tal ponto que inviabilizou o projeto comum de artistas modernistas e marxistas ocidentais de expressarem as contradições inerentes à modernidade. No momento atual, a associação, a reciprocidade entre crítica cultural e crítica social, a possibilidade de “pensar dialeticamente a evolução do capitalismo como um progresso e uma catástrofe ao mesmo tempo”, parece ter se tornado uma tarefa solitária da crítica.
3. David Harvey
Com a publicação, em 1989, de Condição pós-moderna, David Harvey se tornou uma das vozes mais influentes nesse debate. Seu livro associa a mudança nas práticas culturais, subjacentes ao termo “pós-modernismo”, com alterações político-econômicas que teriam se iniciado em 1972. Mais especificamente, relaciona as novas experiências frente ao tempo e ao espaço (o engendramento de uma nova sensibilidade ou o sentimento qualificado de pós-moderno) com a emergência de modalidades diferentes, mais flexíveis de acumulação do capital, isto é, ao início de um novo ciclo de “compressão do tempo-espaço na organização do capitalismo”. Isso não significa, no entanto, que ele endosse a tese do surgimento de uma sociedade pós-capitalista ou mesmo pós-industrial, ao contrário.
Um dos pontos fortes do livro de Harvey assenta-se na atenção que dedica à experiência urbana nas grandes cidades – um tópico essencial das teorias sobre a modernidade e também sobre a pós-modernidade. Ele, de certo modo, atualiza as considerações de Georg Simmel, na passagem do século XIX para o XX, nas quais se ressalta o processo de abstração patente nos novos estilos de vida, na experiência do choque, na atitude de reserva, na disseminação da relação monetária etc. Para Harvey, o pós-modernismo não significa apenas uma mudança no estatuto da produção cultural, sinaliza também uma modificação no próprio modo de vida com a generalização de novas práticas, experiências e formas de vida.
Em sua obra anterior, Limits of capital, Harvey examina a teoria marxista das crises econômicas. Nesse diapasão, compreende o pós-modernismo como uma ruptura com o modelo de desenvolvimento do capitalismo prevalecente no pós-guerra. Desde a recessão de 1973, a forma de acumulação predominante, o fordismo, é minada pela crescente competição internacional, por baixas taxas de lucro corporativo e por um processo inflacionário em aceleração, o que mergulhou a economia capitalista numa crise de superacumulação.
A resposta da classe capitalista e dos governos dos países centrais a essa situação desdobrou-se como um novo regime de acumulação “flexível”, no qual o capital ampliava sua margem de manobra intensificando a flexibilidade dos mercados de trabalho – privilegiando contratos temporários, a incorporação de força de trabalho imigrante etc. –, dos processos de fabricação – pela via da transposição de unidades fabris para outros países ou regiões –, da produção de mercadorias – por processos just in time, por lotes de encomendas etc. –, nos mercados financeiros – desregulamentados nas transações atinentes ao câmbio, ao crédito e aos investimentos.
Essa nova forma de acumulação fornece a base para a cultura pós-moderna, para uma sensibilidade ligada à desmaterialização do dinheiro, ao caráter efêmero das moedas, à instabilidade da nova economia.
Em 2003, Harvey reformula seu diagnóstico do presente histórico, levando em consideração a nova ordem engendrada pela reação do Estado norte-americano aos atentados de 11 de setembro de 2001, sobretudo as invasões sucessivas do Afeganistão e do Iraque. Esses desdobramentos causaram perplexidade geral. Afinal, a disposição de ocupar esses países não estaria na contramão de uma política cuja hegemonia se firmara ao longo do século XX graças ao discurso e à prática em favor da autonomia nacional? Além disso, como entender a legitimidade obtida pelo governo Bush – uma singular coalizão de militaristas, neoconservadores e cristãos fundamentalistas, acusada de fraude eleitoral –, confirmada com sua escolha para exercer um segundo mandato?
As mudanças na ação externa e no cenário interno suscitaram a onda de explicações que colocou na boca de liberais e conservadores um termo que a esquerda utiliza há muito para caracterizar o Estado norte-americano: imperialismo. A ocupação neocolonial de territórios, seu denodo em determinar os rumos do capitalismo, o estado de guerra permanente (41% dos gastos do governo são destinados a atividades militares) e até mesmo o revezamento de poucas famílias no comando da nação, tudo isso aponta para o ressurgimento de um poder imperial.
Essa inusitada convergência disseminou e banalizou ao extremo a palavra “imperialismo”. Quando se debruçou sobre o tema, David Harvey, para qualificar o debate, procurou restabelecer as determinações conceituais e históricas da teoria marxista do imperialismo. Mas, paradoxalmente, poucos anos depois, a atualidade de O novo imperialismo reporta-se menos às análises de conjuntura – em geral brilhantes e muitas vezes proféticas – do que ao arcabouço teórico que o livro desenvolve.
Ao contrário do que se crê, a discussão sobre o imperialismo não é episódica no corpus marxista, resquício da “era dos impérios” e do leninismo. Quando bem dimensionada, ocupa um lugar central na compreensão teórica e histórica do capitalismo. Se Marx, por um lado, caracteriza a dinâmica desse modo de produção como o desdobramento da acumulação de capitais (numa lógica estritamente econômica), por outro lado, em um capítulo crucial de O Capital (“A assim chamada acumulação primitiva”) mapeia, uma a uma, as práticas extraeconômicas que favorecem a acumulação capitalista.
O debate polarizou-se entre os que consideram a “acumulação primitiva” como mera etapa necessária à emergência do capitalismo e os que a situam como momento estrutural de seu dinamismo histórico. A questão, no fundo, remete às relações entre economia e política, um dos muitos pontos que Marx apenas esboçou e não teve tempo de desenvolver em sua obra.
Harvey é partidário decidido da segunda alternativa. Para ele, o processo de “acumulação interminável de capital”, que configura histórica e geograficamente o capitalismo, combina, de forma contraditória, a lógica econômica, os processos moleculares de acumulação e as estratégias políticas, diplomáticas e militares que denomina “acumulação por espoliação”, renomeando o arsenal de práticas que Marx chamava de acumulação primitiva.
A predecessora mais ilustre dessa posição foi Rosa Luxemburg. Harvey compartilha com ela a tese de que a acumulação capitalista não prescinde de alguma espécie de ambiente externo. Discorda, no entanto, de que esse “outro” seja sempre uma forma de produção pré-capitalista. O próprio capitalismo, em sua geografia e história, pode produzir esse “exterior”, como no caso do desemprego em massa que amplia o exército industrial de reserva. Tampouco concorda que a sucessão de crises que perpassa o capitalismo seja explicável pelo “subconsumo”. Para Harvey, as crises advêm da dificuldade em absorver de forma lucrativa os excedentes de capital e são, portanto, “crises de sobreacumulação”. Sua resolução acarreta tanto a desvalorização de ativos e a destruição de regiões como configura uma nova paisagem espaço-temporal para acomodar a perpétua acumulação de capital e sua companheira inseparável, a acumulação interminável de poder.
Harvey não despreza os ensinamentos de Lênin sobre o imperialismo, em especial a denúncia da assimetria entre Estados no interior de um sistema global de acumulação de capital. Mas, em vez de descrevê-lo como uma fase “última” do capitalismo, prefere vê-lo, na fórmula de Hannah Arendt, como “o primeiro estágio do domínio político da burguesia”. A partir dessa premissa reconstitui, com alguns deslocamentos decisivos, a hipótese de uma sucessão de Estados hegemônicos desenvolvida por Giovanni Arrighi.
Entre 1870 e 1945, imperialismos rivais assentados no nacionalismo e no racismo conduziram as nações a uma série de crises e guerras. A hegemonia norte-americana após 1945 se torna incontestável, dissimulando seu domínio sob a capa de um universalismo abstrato: a defesa das classes proprietárias de todo o mundo em sua luta contra o comunismo. A partir de 1973, o modelo de acumulação altera-se completamente com a criação de um sistema monetário desmaterializado.
Nesses três períodos convivem, com pesos diferenciados, a acumulação molecular de capital e a acumulação por espoliação. Esta vigorou no período 1870-1945 e voltou a prevalecer a partir de 1973, após o interregno dos “trinta anos dourados”. A face imperialista do capitalismo torna-se ostensiva nos momentos em que predomina o acúmulo por espoliação, mas nunca deixa de atuar, sobretudo porque também deriva, de forma complexa, da reprodução expandida do capital.
Essa teoria permite a Harvey explicar de forma convincente os principais fenômenos político-econômicos dos últimos 35 anos, apresentando a financeirização, a globalização e a política neoliberal como estratégias da “acumulação por espoliação”. Seu predomínio manifesta-se na vida política por meio da cisão dos movimentos antiglobalização, divididos entre a esquerda socialista – cuja ênfase na reprodução ampliada coloca como central a luta anticapitalista – e os novos movimentos sociais, que tendem a assumir formas difusas, fragmentárias e avessas ao controle do aparelho de Estado, posto que lutem prioritariamente contra a espoliação.
4. Balanço e perspectivas
A especificidade da discussão marxista sobre a pós-modernidade deriva em grande medida do fato de que a inserção na linhagem do marxismo demanda dos autores, junto com uma atualização da obra de Marx e de seu legado, um diagnóstico do presente histórico que não se confunde com os relatos convencionais que, em geral, se limitam a listar as modificações sociais, econômicas, políticas e culturais.
Para determinar a configuração histórica de seu tempo, Habermas mirou simultaneamente três âmbitos distintos, o neoconservadorismo anglo-saxão (que tinha em Daniel Bell um de seus expoentes), o pós-estruturalismo francês e o debate estético nas artes plásticas e na arquitetura. Ao se restringir a esses aspectos do problema, ele não fornece uma resposta convincente a uma questão que ele próprio cobra de Daniel Bell – falta-lhe uma explicação das causas econômicas e sociais da mudança cultural. Sua apreciação da modernidade como um projeto inacabado, além de configurar uma interpretação que pouco salienta a contradição inerente ao capitalismo, não constitui propriamente uma teoria histórica do capitalismo.
A ressonância mundial de seus textos, no entanto, tornou a questão estética uma espécie de campo de prova da existência ou não de uma pós-modernidade. O debate sociológico, antes concentrado na controvérsia acerca do surgimento ou não de uma sociedade pós-industrial, foi assim deslocado para uma controvérsia que, como mostrou Perry Anderson, emergiu já na primeira metade do século XX.
O êxito de Jameson em tornar a discussão sobre a pós-modernidade um debate aceitável e até mesmo decisivo no interior do marxismo vincula-se ao alcance de dois procedimentos que ele operou com maestria. Primeiro, ele forneceu o quadro teórico – ao mesmo tempo abrangente e refinado – do que seria a estética pós-moderna, valendo-se de sua familiaridade com a teoria estética desenvolvida pelos marxistas ocidentais, objeto de seu estudo no livro Marxismo e forma. Além disso, Jameson concebeu a “cultura” pós-moderna como uma delimitação mais ampla do que as meramente estéticas. Determinou-a no sentido desenvolvido pelos estudos culturais e, em especial, por Raymond Williams, como uma “sensibilidade” ou “sentimento”, isto é, um conjunto de prática, motivações da ação e de atribuição de sentido ao mundo e à existência (vinculado, em certa medida, a uma determinada estrutura psíquica).
Assim, Jameson não só marcou de forma nítida a ruptura entre a estética da modernidade e a da pós-modernidade – ancorada na primazia da imagem sobre os objetos, sustentada pela disseminação da televisão e do computador pessoal –, mas também estabeleceu um terreno, a cultura, que possibilita o confronto e a comparação com as diversas teorias da modernidade. Argumenta em favor da ruptura entre nossa época e o passado imediato, ressaltando a transmutação da reificação – o fetiche não deriva mais apenas da autonomia ilusória das coisas, mas sobretudo das imagens –, e uma mudança significativa na estrutura da subjetividade – a individualidade não se constitui mais por meio de uma relação temporal que incorpora passado, presente e futuro, mas se encontra submersa numa “presentificação” em que o tempo é substituído por relações espaciais – pela hegemonia a-histórica do aqui e agora.
O calcanhar de aquiles da teoria de Jameson – apontado já em 1991 por Mike Davis e retomado por Perry Anderson – localiza-se em sua tentativa de explicar essa mudança histórica a partir da teoria desenvolvida por Mandel em 1972. Não só pelo fato de O capitalismo tardio ter sido escrito antes do desabrochar pleno das teorias e das práticas que moldaram a cultura pós-moderna, mas sobretudo porque Mandel data a eclosão dessa terceira fase do capitalismo de 1945.
Jameson procurou, em seus escritos posteriores ao livro Pós-modernismo, sanar essa incoerência caracterizando esse terceiro período da história do capitalismo como o da hegemonia norte-americana – retomando a periodização de Giovanni Arrighi em O longo século XX, mas também promovendo uma espécie de simbiose entre as teorias de Mandel e de Arrighi.
David Harvey, em A condição pós-moderna, ainda se encontra, em grande medida, preso a esses esquemas conceituais, seja o de Habermas ou o de Jameson. Até mesmo a maior novidade de seu livro – a percepção de que se trata de uma mudança estrutural (ou de fase) do capitalismo – ainda é apreendida por meio de um diálogo com Jameson. Sua reconstituição do período anterior a partir do conceito de “fordismo”, formulado por Antonio Gramsci e retomado pela escola francesa da regulação, permitiu-lhe, no entanto, apresentar, sob o termo “acumulação flexível”, uma teoria própria que indica transformações decisivas no mercado de trabalho, nas formas e métodos de organização da produção e, sobretudo, na esfera financeira, no mercado de capitais e crédito. Apesar desse avanço para determinar com mais precisão as causas econômicas, políticas e sociais da mudança cultural, só em sua obra posterior ele logrou desenvolver de forma plena e consistente uma teoria da acumulação capitalista, que permitiu compreender a distinção entre modernidade e pós-modernidade como nada mais que a emergência de uma fase da história, ainda aberta, do capitalismo.
* Ricardo Musse, professor no departamento de sociologia da USP, é livre-docente e doutor em filosofia pela USP e mestre em filosofia pela UFRRS. Organizou, entre outros, os livros Capítulos do marxismo ocidental (Editora Unesp) e Émile Durkheim: fato social e divisão do trabalho (Ática).
Referências bibliográficas
ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985.
ANDERSON, Perry. As origens da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999.
ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
ARRIGHI, Giovanni. O longo século XX. Rio de Janeiro: Contraponto; São Paulo: Editora Unesp, 1996.
BAUDELAIRE, Charles. O pintor da vida moderna. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.
BELL, Daniel. O fim da ideologia. Brasília: Editora UnB, 1980.
______. O advento da sociedade industrial. São Paulo: Cultrix, 1977.
DAVIS, Mike. O renascimento urbano e o espírito do pós-modernismo. In: KAPLAN, Ann E. (org.). O mal-estar no pós-modernismo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993. p. 106-116.
FUKUYAMA, Francis. Fim da história e o último homem. Rio de Janeiro: Rocco, 1992.
GRAMSCI, Antonio. Americanismo e fordismo. São Paulo: Hedra, 2008.
HABERMAS, Jürgen. A nova intransparência. Novos estudos Cebrap, n. 18, set. 1987, p. 103-114.
______. Arquitetura moderna e pós-moderna. Novos estudos Cebrap, n. 18, set. 1987, p. 115-124.
______. Modernidade versus pós-modernidade. Arte em revista, n. 7, ago. 1983, p. 86-91.
______. O discurso filosófico da modernidade. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
HARVEY, David. Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. São Paulo: Loyola, 1992.
______. Limits of capital. London: Verso, 1999.
______. O novo imperialismo. São Paulo: Loyola, 2004.
JAMESON, Fredic. A virada cultural: reflexões sobre o pós-moderno. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.
______. Pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio. São Paulo: Ática, 1996.
______. Marxismo e forma. São Paulo: Hucitec, 1985.
LÊNIN, Vladimir I. O imperialismo, fase superior do capitalismo. São Paulo: Alfa-Ômega, 1986.
LUXEMBURG, Rosa. A acumulação do capital. Rio de Janeiro: Zahar, 1976.
MANDEL, Ernest. O capitalismo tardio. São Paulo: Abril Cultural, 1982.
MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. São Paulo: Abril Cultural, 1983.
______. Manifesto do Partido Comunista. São Paulo: Hedra, 2010.
SIMMEL, Georg. As grandes cidades e a vida do espírito. Mana, vol. 11, n. 2, out. 2005.
SIMON, Claude. Les corps conducters. Paris: Éditions de Minuit, 1973.
WOOD, Ellen Meiksins (org.). Em defesa da história: marxismo e pós-modernismo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999.