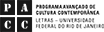Tendo por força geradora uma frase de Bertold Brecht, Desta terra nada vai sobrar, a não ser o vento que sopra sobre ela (2018, Global, 372 pgs.) é o décimo primeiro romance publicado por Ignacio Loyola Brandão – escritor longevo cujo fôlego de produção é admirável, tendo ao todo, entre escritos ficcionais e não-ficcionais, 46 livros publicados. Ficção científica-política, ao mesmo tempo, futurista e distópica, Desta terra nada vai sobrar pode ser referida como uma ópera-bufa sobre toda e qualquer utopia de nação como promessa de felicidade.
Desde tempos modernos, a crítica utópica de nação tem sido projetada por certa ficção fantástica produzida no Brasil de modo sui generis. A este respeito, o poeta Murilo Mendes chegou a certa vez afirmar que o Brasil seria mais surrealista que todos os surrealistas juntos. Vale também lembrar o livro Quarup (1967) de Antonio Callado que retrata o centro geodésico da nação brasileira como um formigueiro. Por sua vez, o naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire, ao descrever o país numa crônica da primeira metade do século XIX, chegou a afirmar. “Havia um país chamado Brasil, mas absolutamente não havia brasileiros”.
Igualmente associável a certo universo do fantástico, esta ficção brandoniana narra o cenário de um país cuja existência não mais é capaz de impor limites entre a realidade e a invenção. Ambientada nas últimas décadas do século XXI, a peça ficcional Desta terra tem ecos de certa trilogia da distopia presente no romance moderno através de: Admirável mundo novo de Aldous Huxley (1932), 1984 (1949) de George Orwell e Fahreineit 451 (1953) de Rad Bradbury. De outra forma análoga, Desta terra nada vai sobrar também pode ser lida como o fim da trilogia distópica de Ignacio Loyola Brandão sobre o Brasil, que se inicia com Zero (1975), passa por Não verás país nenhum (1981), até chegar a este livro de 2018.
Narrada num futuro em que nenhuma utopia mais faz sentido, Desta terra nada vai sobrar, a não ser o vento que sopra sobre ela é do mesmo modo filha de outra trilogia distópica referente aos seguintes filmes: Roma (1972) de Federico Fellini, Blade Runner (1982) de Ridley Scott e Brazil (1985) de Terry Gilliam. Com satélites e câmeras por todos os lados, a inventiva narrativa de Desta terra é produzida em primeira e terceira pessoas, tendo por cenário um mundo super vigiado de tecnologias virtuais. Num país periférico de presidentes-fantasmas, painéis eletrônicos sobre ruínas de edifícios despejam excessos de informações por paisagens em esgotamento: são máfias de paparazzos e papa-defuntos, musas de sorrisos plastificados e cafés descafeinados, falsificadores de água e estocadores de vento, postos de inconveniência e uma rodoviária kafkiana de nome “Gregoriano Samça”, padres voadores e cabeças erguidas em poses prontas a serem invejadas e fotografadas. Sobram sonhos quebrados, pedaços de utopias espalhadas e lamentos urbanos a serem transmitidos por nebulosas de telas prismáticas.
Originando-se pela epígrafe euclidiana de “Novas fases da luta” de Os sertões (1902) que discorre sobre certa normalização da anormalização, passando por Brasília (“uma tigela cheia de escorpiões”) até as montanhas de palavras fiscalizadas e exauridas, o Brasil desta supracitada peça ficcional é uma terra tão inexata quanto a palavra de um político. Mas, de que Brasil fala Ignacio? Desencantado, terceirizado e cronicamente inviável, o Brasil de Ignacio Loyola é a fotografia abismal de um território flutuante e itinerante de antagonismos beligerantes; um “país dos eternos descontentes”, “um país que não se move, medieval”. Num universo pós-político de uma nação cuja extinção do ensino público é iminente, o Brasil de Desta terra nada vai sobrar pode ser lido como a própria exaustão das grandes narrativas de país. A partir de um livro como este, a única forma possível de qualquer representação nacional passa a ser tão somente pela via do fragmentário e do entrópico.
Com quase nada mais presente a não ser o vento que sopra sobre ela, a terra brasileira de Desta terra é descrita como um território semiarruinado de projetos, uma pátria subtraída até mesmo das manifestações populares. Muros eletrificados e torres de vigia resguardam a sua paz. Por sorte ou por propina, seus golpes institucionais e consecutivos impeachments (palavra já naturalizada e epistolar) se sucedem por bastidores de patrulhas inquisitórias, exorcismos televisivos, queimas totais de espaços superfaturados e novas dinâmicas liberais de cóleras comerciais. Domesticados por marqueteiros e anestesiados por décadas de cadáveres sobre cadáveres, os brasileiros de Desta terra são narrados sob o ponto de vista de um narrador em terceira pessoa e, simultaneamente, por Felipe (protagonista da trama romanesca que envolve a busca jamais satisfeita pela amada/amante Clara) como seres monocórdicos entretidos por meias-verdades de farsas históricas e políticas.
Contextualizada numa nova era de extremos, por entre muros, placas, banners, posters, letreiros e outdoors de um sonho de nação a todo momento em liquidação, o Brasil de Desta terra nada vai sobrar, a não ser o vento que sopra sobre ela só é apreensível fortuitamente sob o signo do mistério dos mistérios: – “O Brasil foi catalogado entre os grandes enigmas de todos os tempos. Um desafio. Mistérios como a mente inacessível dos juízes; a existência da Atlântida; a realidade do sorriso da Mona Lisa; a vida depois da morte; as vozes gravadas no além; as duas notas dissonantes jamais percebidas na Sinfonia número 4 – Opus 60, de Beethoven; o cemitério das estrelas cadentes. (…) Consultorias históricas de renome internacional, aliadas a brasileiros de bom senso, contrataram auditores analistas, mas eles embarcaram de volta, exaustos e perplexos, confessando que não há conclusão. Desolados, afirmaram que, mesmo usando modernos métodos e toda a tecnologia de ponta, jamais definiram que tipo de povo o brasileiro é, como conseguiu formar uma nação, o que esse povo quer, como age e vive. São desconhecidos seus projetos e sonhos e por que mantém tanto humor, picardia, talento repentista, ironia e aceita tudo. Principalmente por que e do que vive. Uma coisa é segura, todos vivem à espera do que vai acontecer, sabendo que nunca acontecerá.”
* Augusto Guimaraens Cavalcanti é escritor e pós-doutorando pelo PACC\Letras da UFRJ, tendo publicado, entre outros: Poemas para se ler ao meio-dia (2006, 7Letras), Fui à Bulgária procurar por Campos de Carvalho (2012, 7Letras) e Máquina de fazer mar (2016, 7Letras).