Na poesia de Angélica Freitas (Pelotas, RS, 1973), Ítaca é não mais a ilha para a qual o herói volta, mas um lugar para onde o viajante deve levar Hipoglós; a escrita pode ser feita com o corpo ou com a ajuda do Google; e o poema pode transfigurar em palavra uma obra de Iberê Camargo ou se transfigurar em performance. Com três livros de poemas – Rilke Shake (2007), Um útero do tamanho de um punho (2012) e Canções de atormentar (2020) –, além da graphic novel Guadalupe (2012), em parceria com Odyr Bernardi, Angélica é uma das principais poetas contemporâneas. Como escreveu Heloisa Buarque de Hollanda, “Angélica abriu para as jovens o caminho da desobediência, do corpo, de que escrever é investigar o avesso das regras que regem a poesia”.
Nesta entrevista, concedida em 4 de outubro, a poeta e tradutora fala sobre seus caminhos artísticos, sobre a vida em Berlim, para onde foi como artista residente do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD), e sobre seus novos projetos.

Beatriz Resende: Queria que você falasse um pouquinho sobre como é que está viver longe do Brasil, que deve ter muita coisa boa, umas coisas mais complicadas, e o que que você está fazendo por aí.
Angélica Freitas: Eu acabei de entregar há trinta minutos a tradução para a editora Fósforo de um romance, acho que é mais uma novela que um romance, de uma escritora alemã chamada Katharina Volckmer, e essa foi a primeira coisa que eu fiz depois da minha residência do DAAD, que durou doze meses. Eu vim para cá com um projeto de escrita e na verdade acabei fazendo outra coisa. Escrevi muito, mas mudei de projeto no meio do caminho, até por causa da pandemia. Porque eu vim para cá, mas em novembro do ano passado tudo fechou, e todo mundo fica dentro de casa, porém em Berlim. Mas dava para sair para dar umas voltas e esta cidade é muito legal, porque tem muitos parques. Então, por mais que não pudesse ir ao cinema, ao teatro, não pudesse sair para ouvir música, dava sempre para dar uma volta, caminhar num parque. A cidade é bem verde e é uma cidade onde é muito bom caminhar, então apesar da pandemia deu para aproveitar bastante.
Augusto Guimaraens Cavalcanti: E você mora na parte oriental ou ocidental?
AF: Eu moro na parte ocidental bem para o sul de Berlim. É um lugar bem diferente do que a gente – não sei qual é a ideia que vocês têm de Berlim, mas antes de vir morar aqui eu imaginava muito os bairros como Kreuzberg ou Neukölln, que têm a cara de Berlim. E aqui onde eu moro é para o sul de Berlim, é uma área super residencial, não é muito badalada. É perto de uma universidade – a Freie Universität – e é muito tranquilo e calmo, tem muitas árvores, dá para ver raposa passeando à noite, tem umas árvores aqui atrás do parque onde eu moro, ali a gente sempre vê esquilo e um monte de pássaros. O Rio de Janeiro deve ter muito disso também, se você estiver em Santa Teresa dá para ver os micos. Eu moro em São Paulo há mais de uma década.
Mas acabei ficando aqui depois da bolsa, porque, conversando com a Juliana [Perdigão, namorada de Angélica Freitas], a gente achou melhor prolongar a estada. Afinal a gente ficou muito tempo dentro de casa e agora as coisas começaram a voltar a uma certa normalidade. Hoje saí para cortar o cabelo e tive que mostrar um certificado de vacinação e que ficar de máscara. Para você comer num restaurante também tem que mostrar um teste ou um certificado de que você já tomou as duas doses. Então a gente decidiu ficar para poder aproveitar um pouco mais a cidade, e também porque agora no Brasil não teria, principalmente para Juliana, muito o que fazer, já que ela é da música e, como ela mesma diz, tudo o que ela faz depende de aglomeração.
A gente está aqui agora tocando alguns projetos. Eu continuo escrevendo como sempre, mas já estou tentando retomar algumas performances, traduzir algumas coisas para o alemão das performances que eu tenho com a Juliana, também estou tocando paralelamente um livro a partir das pinturas do Marcelo Cipis, que é um artista lá de São Paulo. E durante a residência eu comecei a escrever um livro de prosa autobiográfico em que falo da minha infância. Na verdade, eu já vinha há tempos querendo escrever sobre a minha experiência de ser mulher e de ser lésbica, então eu resolvi começar pela infância, foi só isso. Durante a residência eu fiz uma primeira versão e estou deixando descansar um pouco para voltar e tentar trabalhar nele. Tem sido uma experiência bem diferente, porque a prosa tem que ter uma certa resistência, uma persistência, e achei muito difícil encontrar o tom para contar a história. Estava falando com um amigo meu que disse que eu posso contar essa história de duas maneiras: com amor ou com ódio. Meu amigo disse: conta com ódio, com ódio é mais interessante. É uma experiência nova, mas eu também já não quero ficar limitada a escrever poesia, tenho questionado muito essa coisa de me ater a um só gênero de escrita.
AGC: Eu li numa entrevista sua que você começou a ler poesia em uma enciclopédia que você ganhou e que tinha poemas do Lewis Carroll, adivinhações, com um humor muito forte. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre como sua poesia costuma estar atrelada a uma ludicidade. O que marca a sua poesia para mim é essa profanação dos mitos sagrados da literatura, desde o Rilke shake. Poder homenagear uma referência literária, mas sem aquele púlpito literário, sem a torre de marfim. Trazer as referências literárias para a horizontalidade do chão, como você traz a Gertrude Stein para uma banheira, soltando pum, depois você descreve a bunda da Gertrude Stein saindo da banheira. Você nunca teve essa atitude de olhar para cima para a poesia, ou de escrever de uma torre de marfim, mas sempre de escrever ao rés do chão.
AF: Eu não sei, eu fico pensando nessa parada do humor. Eu definitivamente acho que associei escrever poesia com humor já desde muito pequena. Acho que a raiz disso são justamente os poemas que eu li primeiro, que tinham uma pegada nonsense. É claro que eu li outros tipos de poemas, mas esses foram os que ficaram. E eu acho que tem uma coisa do humor que deixa o poema muito fresco e muito vivo. Tem uma energia neles. Acabei de falar sobre o tom que o livro de prosa teria que ter, se de amor ou de ódio – a gente está falando de sentimentos e da energia que move esses sentimentos. Essa coisa tem que ser rápida e esperta. Acho que, pelo meu temperamento, eu gosto muito disso. Não quer dizer que eu não seja uma pessoa séria ou que fique rindo o tempo inteiro, sabe? Eu acho até que eu sou bastante séria, mas enfim, é isso, né? Talvez cause muita estranheza, porque a gente associa a poesia a um lugar dos grandes questionamentos, das grandes questões, o que de fato é, mas acho que sempre teve algum poeta ou outro que usava humor, que praticava o humor. Eu não sou humorista, eu não sou comediante, mas acho que os meus poemas têm uma energia que é do humor, mas também têm outros em que o humor não está presente. Como você mesmo falou, acho que tem a ver com esse primeiro contato com a poesia e com o ter sido incentivada a escrever desde pequena. O que aconteceu foi que eu tinha professoras de português que me pediam poemas, ficavam me incentivando, daí eu acreditei naquilo, sabe? Elas pediam os poemas – um poema, sei lá, sobre o Dia das Mães – e elas ficavam: “Nossa, que legal!”. Acho que foi como qualquer criança que é incentivada a fazer alguma coisa, tocar um instrumento, desenhar. Eu nunca mais parei de fazer isso. Mas eu conservo essa coisa da energia, da emoção, que tem a ver com o humor, e acho que é o que me faz mais feliz como poeta.
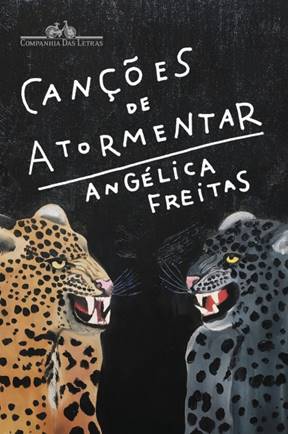
BR: Angélica, esse livro Canções de atormentar começou como um show, que a Adriana assistiu ao vivo.
Adriana Azevedo: Eu queria entender qual foi o processo. Você primeiro criou essa performance ou os poemas foram entrando na performance que você foi construindo com a Juliana? Eu vi você falando numa entrevista que comprou um violãozinho na Índia, pequenininho, de viagem, e que isso te estimulou a construir essas performances. E você também fala sobre essa questão de dar corpo ao poema. Eu queria saber como foi, para você e a Juliana, estarem no palco juntas fazendo a performance e como foi o encontro desses seus corpos e dessas poesias com um público que eu suponho que seja um pouco diferente do público de feiras literárias e de debates sobre poesia.
AF: Eu sempre gostei de fazer música. Na verdade, eu ia dizer musiquinha, porque não é nada sério e geralmente são músicas engraçadas. Você já matou a charada, eu comprei um violão quando estava viajando e eu acho que os instrumentos, os materiais nos influenciam completamente. Comecei a fazer umas músicas que tinham a ver com sereias, não sei muito bem por que apareceu esse tema, e aí eu fui gravando no celular. Eu estava fazendo uma residência na Índia e fui mandando para a Juliana. Quando voltei para o Brasil me convidaram para participar de um evento de poesia musicada lá em São Paulo, que se chamava Zapoeta, organizado pelo Joca Reiners Terron, e que tinha sempre a participação de um poeta e de alguém da música. Ele me convidou e eu falei com a Juliana: bom, já tenho aqueles poemas musicados, vamos apresentar lá. E foi a minha primeira vez… não, talvez não tenha sido minha primeira vez num palco, acho que eu já havia lido poemas num palco, mas num projeto de poesia e música foi a minha primeira vez.
Enfim, é uma coisa muito louca, principalmente para mim. Eu me considero tímida, não sou muito de querer aparecer nem nada, mas tem uma energia muito inacreditável num palco. Eu acho até que ficar nervosa potencializa essa energia. Foi um encontro brutal com quem está do outro lado, que é uma coisa que não acontece tanto no livro. Quando alguém está te lendo, no máximo pode te dar um retorno e te escrever depois, te contar alguma coisa, mas quando você está fazendo uma performance, está vendo as pessoas, o rosto delas ali, e como elas estão reagindo. Corporalmente é muito forte. E é muito, mas muito mais legal do que só brincar num livro ou em qualquer outro lugar. É uma outra experiência e você tem que saber entregar a coisa, e esta é a minha pesquisa agora: como você entrega o texto. A vocalização ao vivo dos poemas eu digo que é performance, mas para mim qualquer coisa que não seja ficar olhando para o livro e lendo sem me mexer já se classifica como performance. Mas eu não sou muito performática, não. Acho que meu negócio é meio um minimalismo performático.
BR: E a Índia, que entrou no livro Canções de atormentar? Como foi essa experiência?
AF: Eu fui para lá duas vezes. A primeira vez fui fazer uma residência e a segunda eu fui participar de uns festivais. Isso foi em 2015-2016, depois em 2017. Foi muito louco porque fui convidada pela Embaixada do Brasil na Índia e lá eu podia escrever sobre o que quisesse. Fiquei morando três meses lá e viajando. Algumas viagens entraram nos poemas, eu escrevi poemas sobre a Índia, mas não publiquei ainda. Acho que para mim é mais fácil escrever sobre um lugar quando já estou longe deles, mas é um país muito diferente de tudo o que já tinha visto e acho que me abriu a cabeça para outras coisas.
Jucilene Braga: A partir do que Adriana falou eu fiquei pensando que alguns poemas de Canções de atormentar a gente lê cantando, não é? Eu não sei se você tem essa impressão, mas tem a repetição das sílabas, e em um poema você faz um jogo de palavras, “entrei no grande magazine”, e vai trocando os versos, o que dá muita vontade de ler cantando. Como você falou da compra do instrumento e do título das canções, essa mobilização do ritmo, eu queria saber se no seu processo de criação dos textos a música interfere. Você também escreve cantando, a música aparece como uma motivação?
AF: Então, Jucilene, sim. Eu acho que no início talvez não conscientemente, mas depois sim, eu sempre quis escrever coisas que pudessem virar música. Quando era adolescente eu gostava muito de ler uma revista chamada Bizz Letras Traduzidas. Eu sempre gostei de ler letra de música e letra de música sempre me causou um estranhamento. Porque a gente não sabe direito se é um poema, se não é, e a letra de música traduzida ainda contém um estranhamento maior, e eu gostava muito desses estranhamentos. Acho que eu ter lido letra de música foi tão importante quanto ter lido poemas. E acho que a melopeia, que a música do poema, se não é a coisa mais importante, é das coisas mais importantes para minha escrita. Eu sou completamente guiada por vogais. Eu amo vogal, eu vou na minha cabeça criando uma musiquinha, pego todos os meus poemas, vejo como eu gosto de separar as vogais e entendo perfeitamente por que fui por aquele caminho: porque as vogais me levaram. O que é uma forma de compor também. E gosto de sons e ritmos, então acho que esse caminho é muito natural para mim.
AA: Falando dessa questão das vogais, eu me lembro do poema “us enimaos”, que é uma loucura, é maravilhoso.
AF: Eu tenho uma série de poemas em que troco as vogais de modo aleatório. Eu só publiquei esse, mas tenho vários. Uma época em que só eu achava aquilo engraçado, mas não fiquei também perturbando muitas pessoas com isso. Mas eu quis fazer essa homenagem à Veronica [Stigger], daí entrou no livro. Eu gosto de tudo que a poesia pegou emprestado da música, gosto de repetição, gosto de refrão. Eu acho que teria sido muito feliz naquela época em que o mundo era jovem e a poesia, a música e a dança eram a mesma coisa.
AGC: Você disse numa entrevista que o Morrissey e The Smiths foram responsáveis pela sua primeira epifania musical.
AF: Não sei se foi a primeira, mas eles foram muito importantes para mim. O Morrissey foi muito importante por ele ser gay e por ter um tipo de humor ferino que eu gosto. Agora ele está super-reacionário, né? O que é uma pena, mas esses dias eu estava ouvindo uma música do Morrissey que dizia: “We Hate It When Our Friends Become Successful”. Eu acho muito engraçado o tipo de tirada que ele faz.
AGC: Esse humor ácido do Morrissey está muito presente na sua poesia.
AF: Mas eu sou um amor comparada ao Morrissey, sou um docinho. Eu queria dizer também, sobre essa ligação entre música, dança e poesia, que talvez a última pessoa que eu vi fazendo isso foi a Kate Bush naquele vídeo do “Wuthering Heights”. Vocês conhecem a coreografia que ela fazia no final dos anos 70. Então, aqui em Berlim tem um pessoal que se junta todos os anos para fazer a coreografia. É muito engraçado, um monte de gente vestida de vermelho, inclusive os homens de vestido vermelho, no parque fazendo coreografia e cantando juntos. Pretendo participar do próximo “Wuthering Heights”.
BR: Mas também tem política nesse livro, só que ela tomou para mim um sentido um pouco maior por esse passeio pelo mundo e pelos efeitos do capitalismo: a roupa que veio da Ásia, a pobreza da Índia. É como se você se espalhasse e tivesse uma visão um pouco de fora, talvez até por estar em Berlim. Estou certa?
AF: Talvez. Acho que eu sempre tive uma visão meio de alguém que está do lado de fora, como nasci em Pelotas e já saí várias vezes do lugar onde estava para poder olhar para trás e pensar e inclusive para poder voltar para esse lugar. Mas o que você falou de capitalismo, eu acho que é meio impossível não pensar nisso como um problema global.
AGC: A sua poesia me faz pensar muito no Oswald de Andrade, naquela posição de amalgamar o alto e o baixo, o erudito e o popular, e naquela frase clássica: “Um dia a massa ainda comerá o biscoito fino que eu fabrico”. A mesma postura se encontra presente no disco Tropicália (1968) e um pouco na poesia marginal. Como você coloca a música pop num mesmo nível hierárquico da poesia, gostaria que comentasse que importância teve a Tropicália e o Oswald para a sua escrita?
AF: Você sabe, Augusto, que eu tenho um problema muito grande com a questão de nacionalidade, né? Fico sempre questionando o que significa ser brasileira afinal. E, para mim, eu sei que sou lá de onde o Brasil termina ou começa (se você olhar de baixo para cima), então é uma relação um pouco estranha a que tenho com o Brasil. Tem muitas coisas que eu não identifico como minhas, mas eu definitivamente me sinto parte dessa coisa que a gente chama de “Brasil” quando eu ouço o Tom Zé. E não é só o Tom Zé, já que você falou de Tropicália, mas me identifico mais como Tom Zé. Mas é óbvio que se ouvir o Caetano Veloso aqui, dependendo do dia, eu posso até chorar.
A Bruna [Beber] foi a grande responsável por eu ouvir a Tropicália. A gente se conheceu por volta de 2005 e na época a Bruna dizia: baixa aquele disco do Jorge Mautner que está na minha pasta, baixa aquele outro disco lá de não sei quem. Eu acabei baixando muita coisa, e nesse período eu ouvi muita música brasileira. Em 2006-2007, baixei tudo que consegui do Tom Zé quando estava na Argentina. E, como eu sou uma pessoa muito ligada em música, isso obviamente acabou respingando no que eu escrevo.
Então é isso, eu acho que o Oswald chegou para mim primeiro por meio da Tropicália mesmo. Depois eu fui ler um tanto tardiamente, porque durante muito tempo eu escrevia poesia sim, mas eu não achava que ia publicar, ou pelo menos não tinha uma previsão e não me preocupava muito em ser poeta, em estudar poesia. Eu ia lendo o que caía nas minhas mãos e foi só depois que eu tentei fazer uma leitura mais programática e ordenada da literatura brasileira. Até porque eu queria entender o que estava acontecendo, o que tinha acontecido. Bateu esse interesse genuíno pela história da poesia. Eu digo que cheguei tarde porque eu fui ler o Oswald com uns 30 e poucos. Sempre lembrando que eu sou do interior do Rio Grande do Sul e o que estava disponível nas prateleiras das bibliotecas era o que eu lia.
BR: E o erótico na poesia?
AF: Não sei, acho que a minha poesia pode ser levemente aproximada do erótico, mas um erótico que também é meio amoroso. Nesse meu último livro eu tenho um poema, acho que vários poemas, que não sei se são eróticos, mas que são sobre o corpo da mulher. Não sei se você está se referindo a alguma coisa em particular.
BR: Acho que é corpo mesmo. Corpo da mulher, o olhar que contempla, o olhar feminista. Acho que o erótico passa por isso tudo.
AF: Pensando no último livro, eu tenho um poema sobre tetas caídas. No Rio Grande do Sul a gente fala “teta”. Acho até que dá para dizer “peito”, mas normalmente em Pelotas a gente fala “teta”. E tem um outro poema que é muito em código que é… Ah não, vou deixar assim, ele é muito em código, mas tem a ver com o sexo lésbico. Entendedores entenderão.
AA: Eu queria fazer uma pergunta dialogando com tudo que a gente está falando até agora. Fiquei lembrando que na performance sua com a Juliana na Audio Rebel tinha umas zines. E aí acaba sendo inevitável pensar na ligação entre a capa dessa edição da Companhia das Letras [Canções de atormentar] com o Riot Grrrl, movimento punk feminista. Vocês já pensaram nessa relação entre as tetas caídas, os pentelhos brancos e as “Canções de atormentar”, essa sereia que se rebela contra o marinheiro?
AF: [O título] Canções de atormentar foi por causa dessa série que eu escrevi sobre as sereias, e para fazer um jogo com a canção de ninar, uma canção para não dormir, para deixar a pessoa meio atormentada. Originalmente os marinheiros. Mas eu tenho um grande apreço por essa coisa do punk e por esse “faça você mesmo”. Os zines são totalmente isso. Quando estava fazendo faculdade nos anos 1990 fazia zines também, que cortava com estilete, colava e levava para o xerox e era uma grande alegria fazer. Os zines que a gente fez foram todos cortados um pouco antes de ir para a cópia, um pouco antes também de passar o som. Na ida para o lugar onde ia se apresentar a gente passava num xerox. Eu acho que as pessoas gostavam disso também, os zines foram um grande sucesso. A gente vendeu todas as cópias, vendia tudo. Eu acho que tem muito espaço para fazer zine ainda, edições independentes.
JB: Vou juntar duas perguntas em uma. Você falou sobre esse projeto de um texto em prosa em primeira pessoa. Quando eu li um primeiro poema seu, “Laranjal” [de Canções de atormentar], fui convocada a essa ideia memorialista, a um passeio pela infância, a menina depois de 16 anos, então eu não sei se já tem, em alguma medida, um traço dessa escrita de memória no poema. Essa é a primeira questão, e a segunda é que eu te ouvi na Faculdade de Letras da UFRJ relatando que escreveu Um útero do tamanho de um punho para falar sobre coisas que você queria ter lido. Queria saber se nesse livro de agora se encontra presente também a busca por experiências esplêndidas, a possibilidade de vivenciar e de experimentar novas possibilidades e vivências.
AF: É uma pergunta bem ampla, Jucilene. Vou tentar responder, mas vou começar lá pelas primeiras coisas que você me perguntou. O livro novo tem a ver com essa série, mas ela é bastante sobre o entorno, sobre o meu pai lavando o carro na entrada da garagem, sobre o cara que lutava kung fu na praia. Acho que sobretudo o que tem em comum [com o poema] é o lugar onde as coisas acontecem, elas começam nessa praia que se chama Laranjal, lá em Pelotas, no sul do Brasil.
Eu acho que a infância sempre é um lugar de onde você vai tirar as coisas mais loucas. Tem um livro que eu gosto bastante de um artista visual chamado Joe Brainard que se chama I Remember (1975), vocês conhecem esse livro? Ele é só um livro de frases, e todas começam com “I remember”. E ele fica no meio: “ah, me lembro do primeiro cigarro que eu fumei”, “eu me lembro da primeira vez que eu vi um pacote de camisinhas”. Enfim, a partir dessas lembranças ele vai puxando as coisas. Ele não fala só assim: “vi um pacote de camisinha”, ele fala mais coisa: a marca era tal, sobre onde viu. Acho que puxar essas coisas da infância sempre produz uma sensação. E eu tive uma infância bastante esquisita, então acho que tem muita coisa lá.
E a outra coisa que você falou sobre sensações, eu acho que sim, que, se a gente se colocar, se estiver disponível para as coisas acontecerem, isso acaba fazendo com que a gente escreva e produza coisas mais interessantes. Tanto é que talvez as coisas que a gente escreve que têm mais impacto são escritas quando a gente está sob uma forte emoção. Ou quando a gente está apaixonado, ou quando a gente perdeu alguém, quando alguma coisa aconteceu que te revira. Se você se dispuser a isso acho que você vai acabar escrevendo com uma energia diferente. Eu acho que tem a ver com isso. Por que a gente escreve, o que move a gente, que tipo de emoção ou sentimento nos move na hora de escrever? Voltando lá no início, amor, ódio, mas certamente alguma coisa a mais acontece para a gente querer escrever um poema.
BR: Mas quando você muda [para a prosa], que é aquilo a que você está se propondo, é uma outra voz que vai falar. Na prosa, o fundamental dessa emoção, pelo que você está apresentando, já se foi. Quando você faz um poema sobre uma emoção ou quando você vai narrar hoje alguma coisa que você já viveu, não faz diferença?
AF: Acho que totalmente faz diferença, mas você pode de repente entrar num fluxo de escrita que é influenciado por algum tipo de emoção quando você está contando isso. Não sei, certamente alguém deve ter estudado isso, eu só fico aqui intuindo, tentando me aproximar de alguma coisa que eu acho que me move…
BR: Eu acho que não tem um material vasto sobre isso não. Isso é uma coisa que eu estou muito preocupada, com essa voz das mulheres que escrevem em primeira pessoa. Que voz é essa?
AF: Essa coisa de eu ter que procurar o tom para contar essa história e também certas escolhas de não romancear, de não pegar a minha história e transformar numa história de ficção, que eu vou mudando para tornar as coisas mais interessantes. Porque acho que tem muitos casos de pessoas que escrevem – como é que se chama isso? Quando é autobiográfico, mas também é ficção?
BR: Autoficção! Não, não se trata de autoficção.
AF: Porque, por exemplo, a Vivian Gornick escreveu aquele livro lá muito bom e que saiu há pouco tempo, acho até que foi pela Todavia… Afetos ferozes. Numa entrevista ela chegou a falar que criou alguns personagens para o livro, que teve diálogos com pessoas que não existiam. Que ela criou diálogos e criou personagens. Ela foi questionada, e disse que achou que isso foi um recurso que ajudou a contar a história. Então é uma escolha que você faz, eu na verdade não quero fazer autoficção. Mas também outra questão que aparece é você ter certa responsabilidade com as pessoas que são de verdade e aparecem no que você está contando. São coisas com as quais estou tendo que lidar. Por exemplo, meu pai e minha mãe já morreram e eles aparecem muito nessa história, às vezes eu acho que eles não concordariam com algumas coisas que estou falando, mas enfim. São muitas questões que para mim poderiam até aparecer em alguns poemas, mas que [na prosa] contêm um outro modo de pensar.
Lucas Bandeira: Angélica, já vi você falar mais de uma vez que o poeta e a poeta funcionariam como uma antena do que está se passando. E eu queria entender um pouco mais essa imagem, que no seu caso funciona de uma maneira muito clara por causa da força que seus livros tiveram para uma geração toda de escritores, de poetas, principalmente poetas mulheres, mas acho que não só.
AF: Então, quem é que falava que o poeta era a antena da raça? Era o Ezra Pound. Poderíamos atualizar a sua frase para: “O poeta é a antena da praça”. Acho que tem um elemento mesmo de antena. A Inês Lourenço, aquela poeta portuguesa, numa entrevista fala que a palavra “vate” tem a mesma raiz de vaticínio, que os poetas conseguiriam antecipar as coisas que estão por vir. Não estou dizendo que eu faço isso, mas eu acho que por me dedicar a isso acabo desenvolvendo uma sensibilidade para os acontecimentos.
LB: Uma escuta, não é?
AF: É, eu acho que é por aí, acho que a gente tem uma relação com o mundo e com a linguagem que é bem acentuada. Acho que talvez seja uma capacidade de percepção do mundo mesmo, que é uma coisa que você sempre tem que estar desenvolvendo. Acho que a antena pode parar de funcionar se você não se colocar no modo de escuta e de observação, de tentar ficar aberta. Tem a ideia de uma “mente de principiante” que vem do zen budismo. Eu gosto bastante da ideia de que, se você se considera sempre um principiante, por mais tempo que tenha de ofício, sempre pode ter a cabeça de alguém que está vendo a coisa pela primeira vez, o que é muito difícil. Tentar refrescar o olhar, tentar refrescar a cabeça, tentar “desviciar” a mente e o olhar. Porque a gente sempre acaba indo pelos mesmos caminhos de pensamento, não é? Tem um cara, o Michael Pollan, que escreveu um livro sobre psicodélicos, Como mudar sua mente, e ele fala que a nossa mente está sempre acostumada a ir pelos mesmos caminhos. Você pode imaginar um morro coberto de neve e as pessoas começam a descer de trenó, daqui a pouco todas as pessoas vão descer pelo mesmo caminho de trenó. Então nosso pensamento costuma ir sempre pelos mesmos caminhos. Ele fala que os psicodélicos ajudam a mudar isso. Acho bem na moda falar sobre psicodélicos, mas, do pouco que eu sei, eu sei que é verdade. Acho que é tentar manter a cabeça boa para esse tipo de transação com as coisas que estão acontecendo. Acho que faz parte para mim do que interessa em ser uma pessoa que escreve.
AGC: A gente não tocou no tema do feminismo. Gostaria que você falasse um pouco sobre a sua relação com a poesia argentina, já que foi lá que você primeiro teve contato com um feminismo orgânico, de combate, um feminismo do dia a dia que foi tematizado no livro Um útero é do tamanho de punho (2012). Além disso, o poema que dá nome ao livro foi composto para uma amiga que abortou na Cidade do México. Lá, no hospital mexicano, umas católicas ficavam mostrando fotos de fetos mortos às mulheres que iam abortar. Gostaria que você comentasse sobre o impacto que esta experiência teve na sua escrita.
AF: A poesia argentina mudou tudo para mim. Em 2006, que foi quando eu fiz a minha primeira leitura em público, lá na Casa das Rosas, eu conheci um poeta argentino, o Cristian de Nápoli, e ele naquela mesma noite me convidou para participar de um festival que organizava em Buenos Aires, chamado Salida al Mar. Eu fui e ele me apresentou um monte de poetas que eu não conhecia e que comecei a ler. Fui morar na Argentina no ano seguinte, morei lá dois anos e meio. Acho que eu tenho muita afinidade com a poesia argentina. Lembro que uma das primeiras coisas que o Cristian me perguntou foi se eu conhecia a Susana Thénon, e eu acabei traduzindo a Ova completa dela, que saiu pela Editora Jabuticaba em 2019. Mas mudou tudo para mim também porque o que encontrei lá era muito diferente do que eu estava vendo e vivendo no Brasil. Eu ter ido morar na Argentina e ter tido amigas que se consideravam feministas foi muito importante para mim, porque no Brasil eu não tinha nenhuma amiga feminista. Eu tinha amigas que diziam “não sou feminista, mas…”, e hoje elas são super feministas, mas em geral eu tinha muita amiga que passava pano para machismo, muito amigo machista também, e eu sempre achava muito estranho. Certas coisas aconteciam e eu perguntava: “Bom, vai ficar por isso mesmo?”, e “Eu tenho que rir dessa piadinha?”. As coisas mudaram muito no Brasil e nossa, eu nem sou a pessoa mais feminista que conheço hoje.
Falando do México, porque, enfim, eu sou lésbica, eu não me relaciono com homens, então a possibilidade de eu ficar grávida sem querer não existe. Meu relógio biológico a essa hora já era, já passei da idade, mas o fato de você acompanhar alguém que está passando por essa situação não é uma coisa que fica só na teoria, você vê e sente o que está acontecendo. Afinal, quem é que manda no teu corpo? Quem é que vai te autorizar a fazer certos procedimentos? Tem que passar por uma série de instâncias de autorização para você poder decidir alguma coisa sobre o seu corpo. Isso é que foi importante para mim, eu presenciar a violência de você ter tomado uma decisão, uma decisão difícil, de repente ninguém te apoiou, mas você vai lá e ainda tem que lidar com pessoas religiosas que chegam tentando te dissuadir com fotos de fetos e depois ficavam com megafones na frente do centro de saúde. Na Cidade do México o aborto é (ou pelo menos era naquela época) legalizado.[1] Foi uma experiência muito louca e eu fiquei com vontade de escrever sobre isso e acabei fazendo. Acho que foi o poema mais longo que eu escrevi.
BR: Para terminar, gostaria que você falasse sobre a experiência de ser lésbica na Alemanha. Quando você irá tomar coragem para voltar para o Brasil?
AF: Eu estou sendo lésbica basicamente aqui em casa, não tive contato com outras lésbicas além da minha namorada, mas acho que a coisa é bem mais avançada aqui. Mas eu só fico no achismo mesmo, porque não sei. Mas eu me sinto bem segura aqui. Acho que as pessoas aqui não são muito de demonstrar afeto em público, mas quando eu demonstro afeto em público não me sinto ameaçada, e acho que isso é uma grande coisa. Quanto a voltar para o Brasil, não é nem que falte coragem, sinto muita saudade da minha casa, do meu apê lá em São Paulo. Mas eu acho que por enquanto a gente vai continuar em Berlim. Eu estou fazendo uma série de leituras, tudo que eu não fiz durante a pandemia estou fazendo este mês. Quero tentar fazer mais contatos e melhorar o meu alemão. Estou estudando alemão todos os dias, a minha intenção é tentar traduzir algo do alemão. Tem vários motivos para continuar aqui por algum tempo, mas a gente vai voltar sim. A gente deve voltar no mais tardar em 2023. Dependendo do resultado das eleições a gente volta antes, mas vamos ver.
* Beatriz Resende é editora da Revista Z Cultural; Augusto Guimaraens Cavalcanti é escritor e faz pós-doutorado pelo PACC/Letras/UFRJ com bolsa da Faperj; Jucilene Braga é doutoranda do Programa de Ciência da Literatura da UFRJ; Adriana Azevedo é professora substituta de Teoria Literária na UFRJ; Lucas Bandeira é editor executivo da revista e faz pós-doutorado no PACC/Letras/UFRJ, com bolsa da Faperj.
Nota
[1] Desde 2007 é permitida na Cidade do México a interrupção da gravidez de até 12 semanas. Em setembro de 2021, a Suprema Corte mexicana descriminalizou o aborto no país. (N.E.)

