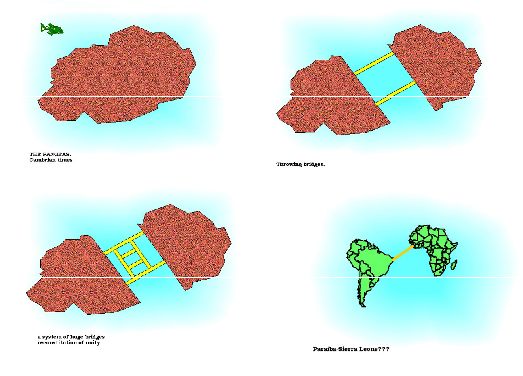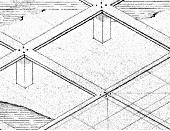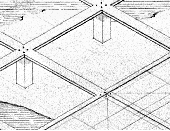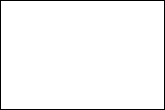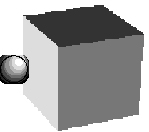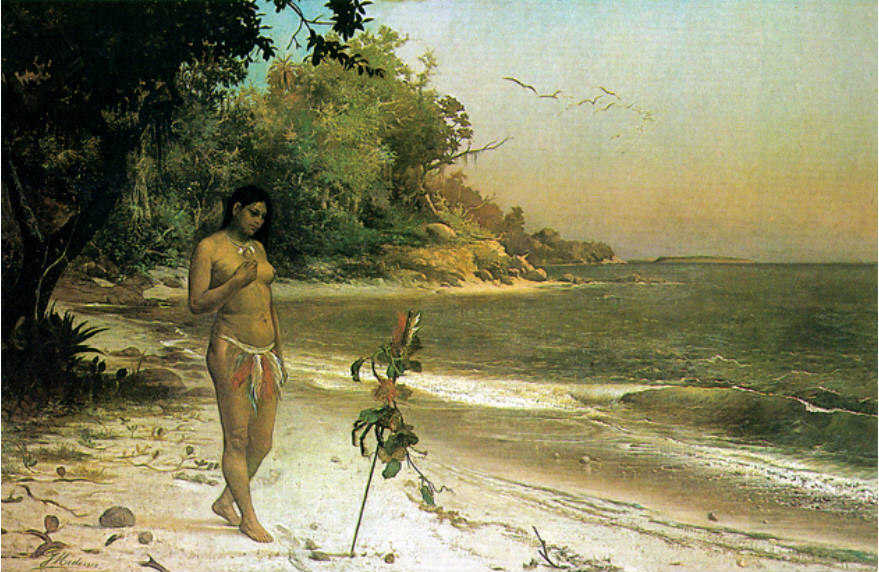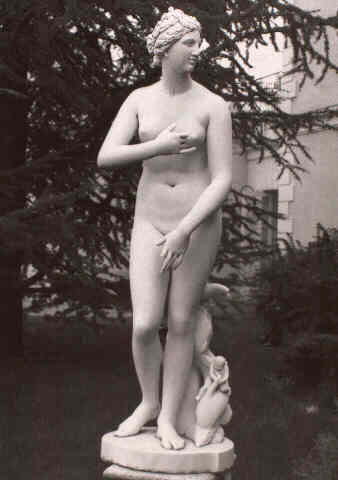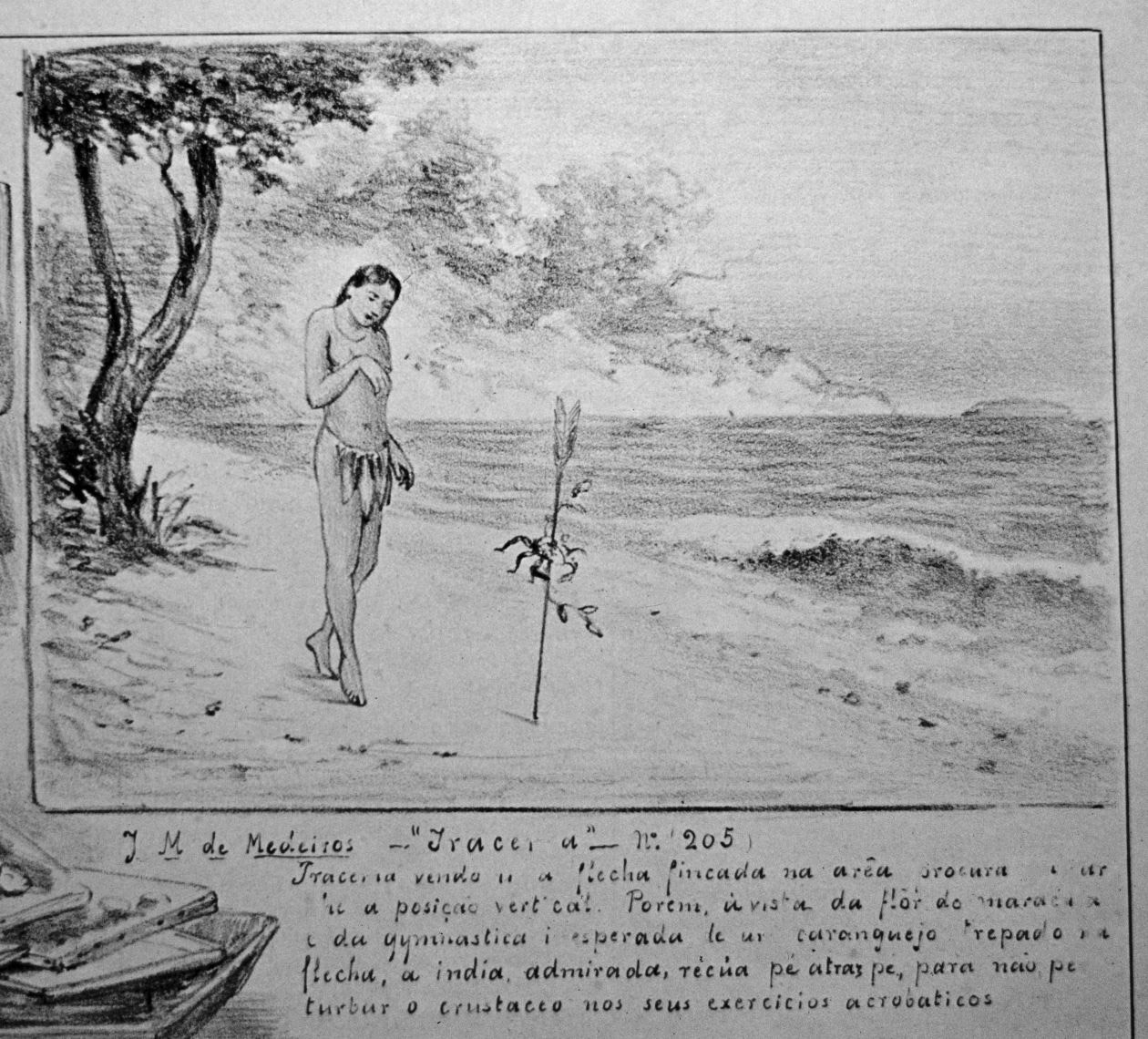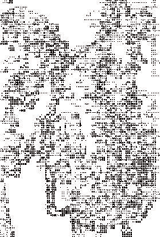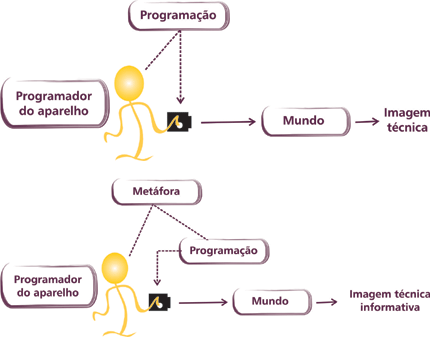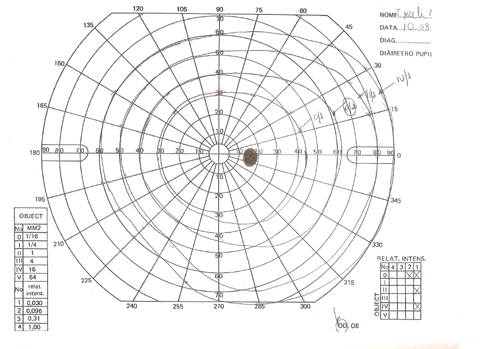“Se o mundo fosse como devia ser, se não houvesse monstros e magia…” (MEYER, 2009) 1
“You think you’re a vampire,” Simon’s mother said, numbly. “You think you drink blood.”
“I do drink blood,” Simon said. “I drink animal blood.”
“But you’re a vegetarian.” His mother looked to be on the verge of tears.
“I was. I’m not now. I can’t be. Blood is what I live on.” Simon’s throat felt tight. “I’ve never hurt anyone. I’d never drink someone’s blood. I’m still the same person. I’m still me.” (CLARE) 2
Em 1993, após assistir ao filme Drácula de Bram Stoker, 3 a surpresa foi tão grande quanto a emoção. O que de início era um filme de terror tornou-se, doravante, o desnudamento de uma figura mitológica, conhecida e reconhecida, construída em literatura e cinematografia, sempre com imagens controversas e diversas. Não havia – como ainda acreditamos não haver – uma personalização absoluta do que representaria o vampiro. No entanto, naquele momento, muito do que ele simbolizava e representava mostrou-se de forma intensa e contundente, levando-nos a questionar o que seriam os vampiros e por que seu simbolismo é tão presente, forte e controverso.
Ao iniciar a pesquisa 4 a partir do filme de Francis Ford Coppola, vários obstáculos apresentaram-se, o que também foi uma surpresa. Afinal, que dificuldades se apresentariam à tentativa de observar mais de perto uma figura tão conhecida e, de certa forma, tão presente no imaginário de diferentes povos e culturas? Eram tantos os filmes sobre vampiros, tanta literatura, música. Conhecê-los mais de perto deveria ser fácil.
Porém, não contávamos com sombras tão densas. Os filmes não estavam visíveis, não foram encontrados em locadoras de vídeo. Para assistir a Nosferatu, 5 de F. W. Murnau, foi preciso recorrer à biblioteca de uma escola de idiomas e ignorar os letreiros em alemão. Dança com vampiros 6 não estava acessível. Fome de viver 7 também não. Os filmes de Bela Lugosi 8 não estavam disponíveis. Os caminhos que havíamos escolhido traçar para contemplar os vampiros, para conseguirmos nos aproximar do Drácula de Bram Stoker, não estavam claros. Foram precisos alguns anos e certa contraposição às sombras – ou talvez um mergulho nelas, portando um pequeno feixe de luz – para entendermos os nossos empecilhos.
Entrevista com o vampiro, 9 filme baseado no livro de Anne Rice, 10 foi lançado com grande repercussão em 1994. Traz às telas dilemas, questionamentos, problemas morais, filosóficos e éticos da humanidade – como morte, envelhecimento, beleza, além do velho conflito entre o bem e mal –, a partir do encontro de um jornalista e um vampiro. Nele, o vampiro Louis, interpretado por Brad Pitt, conta ao jornalista a sua vida de vampiro, expondo sua força, fraquezas, angústias e violência. Louis apresenta uma figura conhecida hoje, “o vampiro com consciência”,11 aquele que questiona o que é e o modo como existe. Na narrativa de Anne Rice, Louis se contrapõe a Lestat, o vampiro que não mostraria dúvida do que é e de como vive. Com Lestat, Louis e suas entrevistas, a imagem do vampiro aparecia novamente em destaque, um ano após o Drácula de Bram Stoker.
Em 2008, foi lançada mundialmente a versão cinematográfica da saga literária criada por Stephenie Meyer em 2005, Crepúsculo 12. Elaborada a partir de um sonho da autora, em que um vampiro apaixonava-se por uma humana, surgiu a saga composta de quatro livros. Neles, o personagem Edward foi transformado em vampiro como uma alternativa à morte. O vampirismo aparece como a sua possibilidade de viver, não uma renúncia à vida. Parte de uma família que se recusa a sobreviver de sangue humano, ele encontra em Bella, a humana por quem se apaixona, outras possibilidades de recuperar sua própria humanidade. A partir dos livros, surgiram os filmes. Seguido a tudo isso, surge um fenômeno de superexposição. Agora, é possível encontrar os vampiros nos locais mais inusitados e inesperados.
Hoje a imagem do vampiro não se encontra mais nas sombras de um culto cultural restrito a determinada idade, local, interesse. Não temos mais que abrir atalhos em caminhos escondidos para conseguir encontrá-los. Eles se encontram expostos e iluminados. Isto um fenômeno cultural contemporâneo pode proporcionar: a superexposição de uma imagem à luz. Por circunstâncias e elementos que ainda buscamos compreender, uma imagem que já se encontrava presente em sociedade há séculos, que culturalmente nos era conhecida, passa, hoje, a ser supervalorizada, exposta, discutida, comercializada.
No entanto, seja nas sombras de uma figura cult, seja na superexposição iluminada de um acontecimento cultural de massa, a imagem não necessariamente se faz mais clara. A falta de luz ou o seu excesso podem representar, igualmente, uma deturpação da imagem. Tampouco essa forma de superexposição significa que se promova uma atenção, uma melhor contemplação que pudesse levar a uma maior compreensão da imagem, mas apenas pode significar que ela sai das sombras para expor-se no plano do visível.
Segundo Fredric Jameson, em As sementes do tempo 13, cada vez mais pode acontecer de os produtos culturais deslocarem-se da esfera da arte, que se faz pela diferença, para a esfera da massa, que se faz pela identidade. Os artefatos culturais nos quais se incluem os vampiros, hoje, estariam mais próximos dos fenômenos que ocorrem na esfera da massa: proporcionam mais a identificação que a diferença.
O excesso de exposição pode ofuscar a visibilidade de uma imagem. Ao mesmo tempo em que, criada para ser vista, sua exposição pode, muitas vezes, retirar o que lhe é inerente, evidenciando a identificação de aspectos mais gerais de personagens e narrativas em detrimento de sua especificidade e essência. Segundo Hannah Arendt,
…tudo o que vem a público pode ser visto e ouvido por todos e tem a maior divulgação possível. Para nós, a aparência – aquilo que é visto e ouvido pelos outros e por nós mesmos – constitui a realidade. (…) até mesmo as maiores forças da vida íntima – as paixões do coração, os pensamentos da mente, os deleites dos sentidos – vivem uma espécie de existência incerta e obscura, a não ser que, e até que, sejam transformadas, desprivatizadas e desindividualizadas, por assim dizer, de modo a se tornaram adequadas à aparição pública.
(…) A presença de outros que veem o que vemos e ouvem o que ouvimos garante-nos a realidade do mundo e de nós mesmos ...14
O vampiro: símbolo de vida e morte
O vampiro de Drácula de Bram Stoker, o filme, nos conduz à imensa dor da perda. Uma dor tão intensa e profunda que despe quem a sofre da própria humanidade. O Conde Drácula, ao perder tudo o que o constituía como ser humano – seu amor, sua pátria, suas crenças –, abre-se à escuridão do não-ser. Existe, mas não vive. Anda sobre a terra, mas seu coração não bate. A vida não mais o habita. A essência da vida ele precisa adquirir de outra forma, por meio do sangue. Morto em vida e esvaziado de si, o vampiro alimenta-se daquilo que pulsa nas veias do outro. Os vampiros estão mortos em sua perambulação quase sempre noturna. Não têm mais vida. São frios. Não têm alma. Insones, vivem no escuro, espreitam. A essência da vida não mais os compõe, precisando ser adquirida. O calor e a energia vital são usurpados de quem ainda os possui.
Segundo Jean Chevalier e Alain Gheerbrant, “o sangue é universalmente considerado o veículo da vida. (…) O sangue corresponde, ainda, ao calor, vital e corporal, em oposição à luz, que corresponde ao sopro e ao espírito.”15A matéria de que é feita a vida.
Em Drácula de Bram Stoker, a figura do vampiro relaciona-se também com o simbolismo cristão, à contraposição céu/inferno, mas a ela não se reduz. O vampiro seria, sob esse aspecto, uma figura demoníaca que, ao final, se abre à redenção que, no filme, ocorre em uma igreja. Esse cenário parece ressaltar a ação – e esta é o que parece importar ali. A transformação é percebida nos movimentos, a partir dos gestos e da atitude de Drácula em relação à luz, à sombra e aos símbolos presentes no ambiente. Nesse momento, é possível vislumbrar em sua fisionomia o reconhecimento de sua própria dor e o seu desapego à escuridão. É a vida que ele busca sempre, não a morte.
A história de Conde Drácula popularizou o nome, que se tornou um sinônimo de vampiro. Seu local de nascimento, a Transilvânia, a sua casa, tornou-se também a morada de todos os vampiros. Apesar de se tratar de uma lenda que surgiu em local específico – o leste europeu 16-, sua associação com os vampiros é mundial. Drácula, o vampiro, se estendeu a outros locais, outros cenários, outras narrativas.
Essa forma de transposição da lenda e sua perpetuação no mundo real das produções culturais, fez com que, por exemplo, Roddy Doyle compusesse, de maneira instigante, o seu conto Blood.17 O personagem dessa narrativa cresceu na cidade de Drácula e passava pela casa de Bram Stoker todos os dias a caminho da escola. Apesar de haver crescido tão próximo à lenda, ele não se sensibilizava com os vampiros. Dormiu durante o filme Drácula de Bram Stoker por considerá-lo enfadonho. As imagens da narrativa não o sensibilizaram, mas ele não pode evitar que os vampiros invadissem a sua vida cotidiana. Ele não se interessava por histórias, filmes ou livros de vampiros, não se identificava com eles, mas mesmo assim não conseguiu mantê-los fora da sua vida. Apesar de seu desinteresse por esses seres, um dia ele acorda com uma necessidade extrema de beber sangue.
O vampiro e seu simbolismo se deslocam também das muitas narrativas que conhecemos e se propagam para o mundo. Transformam-se em ação, desejos, produtos. Extrapolam a ficção, ultrapassam as barreiras do sonho e ficam à nossa disposição não só em representação, mas em matéria. Estão presentes em produtos comercializados – copos, camisetas, roupas de cama, cadernos, joias. Passam a compor o nosso cotidiano; em reminiscência, trazem aspectos físicos do que representam. Como objetos da memória, afastam-nos do esquecimento e tornam-se cada vez mais presentes a partir das imagens que evocam.
Outro aspecto essencial na jornada do vampiro, nesse amálgama feito de realidade e ficção, é sua estreita associação ao mito do amor romântico. Presente na sociedade ocidental contemporânea de forma arrasadora, ele está na origem da dor do vampiro de Bram Stoker. O amor é também a força redentora, e se apresenta como a escolha de salvação e fator de humanidade aos vampiros nas narrativas atuais. Universal e de grande apelo emocional, o amor romântico também ultrapassa fronteiras.
Esse amor encontra-se personificado, sobretudo, na força das escolhas que os vampiros podem fazer. Seres que, oscilando entre a emoção, o instinto e razão, buscam se constituir mais como humanos do que como monstros. Sob essa perspectiva, podemos dizer que o amor os redime. O amor é o grande desafio a ser conquistado e parte essencial da jornada desses personagens que, como heróis, tornam-se cada vez mais próximos ao seu leitor. O amor é o elo que pode unir vampiros e humanos, trazendo do universo da ficção, forte identificação que alcança a vida real de leitores, sobretudo aqueles oriundos de um público bastante jovem. Mas não somente. A busca da superação de sua condição de vampiro, o anseio por outra realidade menos monstruosa, o seu afastamento da violência de um predador, tudo isso pode se justificar também pela força do amor romântico. Ele está na essência de quase todas as escolhas. É o que torna plausível o desejo de mudança dos vampiros e também de humanos.
O movimento realizado pelo vampiro no filme de Coppola já apontava para esse elemento importante para a composição da imagem atual do vampiro, ou seja, a escolha. Se nem sempre tornar-se um vampiro é uma escolha consciente, a superação da sua condição demoníaca poderia sê-lo. Ele precisaria agir no sentido da sua humanidade, e não contrariamente a ela. Esse é um dos aspectos que o tornaria adequado ao mundo e à sociedade dos homens. É a opção pela humanidade que daria à sua aparência, gestos e atitudes a qualidade necessária para estar em sociedade. Ele não mais seria um monstro incontrolável. Esse aspecto retira da imagem do vampiro muito do extremismo que está contido no seu simbolismo. Se a perda da humanidade foi uma resposta extrema à dor, esse extremismo não mais se apresentaria para o vampiro nas narrativas atuais. Talvez essa seja uma das razões do enorme sucesso dos vampiros de Stephenie Meyer.
Ao vampiro associam-se também outros instintos que compõem o ser humano. Dois deles apresentam-se muito fortemente relacionados: a violência e a sexualidade. Ambos encontram-se largamente discutidos, com maior ou menor detalhamento, não somente nos telejornais, em casa ou na escola, mas sim, e com muita ênfase, nas narrativas de ficção. Expressam condições passíveis de serem traduzidas em imagens de grande impacto visual e sonoro, sobretudo no cinema e na televisão. Comumente, violência e sexualidade andam juntas – essa combinação pode proporcionar uma associação dessas duas expressões no imaginário contemporâneo. O vampiro traz, desde sempre, a violência e o sexo nas suas representações. Portanto, é emblemático que uma sociedade que valoriza o controle dos instintos, sobretudo pelo comportamento civilizado, instituído e regulamentado, tenha como importante fenômeno atual – transformado, em alguns momentos, em grande espetáculo de massa e de mídia – uma manifestação cultural assentada em vampiros que, como heróis, tentam superar e controlar esses dois instintos básicos em nome do amor, da humanidade e da possível salvação de sua alma.
Essa trajetória do vampiro rumo à conquista de sua humanidade assemelha-se à jornada do herói, conforme descreve Joseph Campbel em O mito do herói.18Depois de viver na inconsciência de sua verdadeira essência, o herói passa pela tomada de consciência de sua própria condição e, daí, para a realização de seu potencial.
Na jornada dos heróis atuais, encontram-se presentes a busca de certa adequação ao mundo moderno e a aceitação das diferenças. Aqui a propagação na literatura e no cinema dos vampiros adolescentes fortalece o simbolismo. Dessa forma, os vampiros presentes nas narrativas atuais teriam uma escolha que estava ausente em Drácula. A escolha de superar os instintos, ou de pelo menos aparentar que o fazem. E assim nos aparecem os vampiros hoje: seres humanos que não tiveram outra escolha senão se tornarem o que são. Mas eles são também criaturas que não se conformam com a sua condição. Parece não estarem dispostos a se tornar apenas mais um clichê de filme de terror. Possuem escolhas e as exercem. Lutam contra sua natureza e instintos predadores para reconquistarem a humanidade perdida.
Outros elementos e simbolismos, propostos nas narrativas dos autores mais atuais, passam a compor a imagem do vampiro. Que, nessas histórias, eles apareçam cada vez mais novos, pode colocar em foco o poder e a importância de escolhas cada vez mais precoces. Longe da imagem de um predador ancião sem consciência, os vampiros hoje representam a possibilidade de tornarem-se o que escolherem, sugerindo o mesmo para um mundo no qual a humanidade encontra-se cada vez mais diluída, contraditória e sem saída. Talvez por isso a importância de uma reflexão sobre o deslocamento das narrativas sobre vampiros que visam públicos mais próximos da adolescência – momento essencial de escolha da construção da própria individualidade.
Os vampiros presentes nessas narrativas são adolescentes que, para estarem em sociedade, precisam mudar o sentido do que significa ser vampiro. A etimologia da palavra adolescente ressalta um dos aspectos da atração do simbolismo do vampiro para essa época da vida: originada do latim adoléscens, significa aquele que cresce, engrossa, aumenta. Aquele que se torna. Nas narrativas ficcionais atuais, o personagem que não sabe o que e quem é descobre sua verdadeira vocação, sua essência na época da adolescência. Criado em sociedade, o adolescente um dia descobre que não faz parte dela como imaginava. Descobre em si outras potencialidades, possibilidades e aptidões. Sua vida até então poderia ter sido como um ensaio, e o que virá a seguir, após a descoberta, será a sua vida.
A adequação e a aparência
Ao mesmo tempo em que a visibilidade confere ao vampiro seu lugar no mundo, ela lhe retira a força de seu simbolismo. As paixões, a dor da perda, o extremo que ele simboliza precisam ser domados e transformados para que ele se apresente adequadamente em sociedade. Simon, na epígrafe apresentada no início deste texto, explica para a mãe que, apesar de ter se tornado um vampiro, ele continua o mesmo. Morreu, mas ainda existe. Continua a ir à escola, a ensaiar com a banda de que faz parte, a divertir-se com os amigos. O que ele é não interfere no que ele aparenta ser em sociedade. A sua sede de sangue ou as mudanças por que passa são invisíveis aos outros. E para a sociedade dos homens, cada vez mais, é o visível que importa, não necessariamente a essência.
Os vampiros do seriado True Blood, exibido pela TV HBO,19 encontraram na criação do sangue sintético a camuflagem de civilidade que precisavam para expor ao mundo outro comportamento; com a possibilidade de se alimentaram artificialmente, sua necessidade de sobrevivência e sua condição de predadores do ser humano poderiam se transformar. No entanto, longe da visibilidade social, eles continuam sendo o que sempre foram; agem como antes de “saírem do caixão” e revelarem ao mundo o que são: predadores da humanidade.
Hannah Arendt (2000) contrapõe a sociedade moderna à grega-clássica com o seguinte aspecto: Na Grécia, ser cidadão significava agir. Na sociedade contemporânea, diferentemente, cabe ao cidadão se comportar. O comportamento é a sua ação em sociedade. O comportamento pode se configurar como uma forma de adequar-se às exigências sociais. Os vampiros, figuras mitológicas e de simbolismo intenso, não escapariam a essa exigência.
O simbolismo do vampiro se diferencia e se amplia no livro Crepúsculo por um aspecto significativo da história: a humana opta por ser vampira. Bella não sofre o destino dos outros vampiros da sua nova família. Ela não passa pela inevitabilidade da transformação. Ela tem uma escolha. Nem sempre na adolescência é possível ter a escolha. Bella tem essa possibilidade e, para o adolescente, essa é uma questão essencial. É a existência de uma opção. É a possibilidade de escolher seu futuro e quem deseja ser. É encontrar um local de existência em que haja adequação, felicidade e novas possibilidades. Assim, o vampirismo passa a ser não só um destino inevitável e cruel, de perda e dor, mas uma escolha por um modo de ser e por novas possibilidades de sobrevivência.
A superexposição dessa história traz ao foco da questão outras imagens que estão próximas ou têm alguma associação com os vampiros. Assim, com os vampiros – agora mais adolescentes, mesmo que centenários – e a sua grande exploração cultural e comercial, surgiram outras obras de ficção baseadas em figuras sobrenaturais. Os vampiros invadiram o mundo consciente, e com eles vieram os lobisomens, os transformadores, os fantasmas, as fadas, os nefilins, os anjos caídos. São adolescentes, presentes em sagas literárias que contam, em inúmeros livros, a jornada de heróis de 17 anos que precisam escolher o que querem se tornar e o que fazer, com o que são e com suas próprias qualidades.
A ampliação desse universo e a sua discussão por meio de obras literárias e cinematográficas sugerem narrativas que dialogam entre si e trazem essa conversa para o mundo da produção cultural. Os personagens, as circunstâncias em que vivem, o que têm à sua disposição não estão fechados em si. O sangue sintético deTrue Blood pode representar uma possibilidade para os vampiros de outras narrativas 20 . O diálogo se expande e, assim, o simbolismo tende a ampliar-se.
Todos esses símbolos já estavam presentes – no mundo, no chamado consciente coletivo, nos livros, pinturas, filmes, revistas em quadrinhos. Nas músicas. Na imaginação. No universo mitológico. O advento desse fenômeno de larga escala conferiu-lhes, no entanto, maior destaque. Colocou-os no centro de discussões, da paixão dos fãs e também como objetos de rejeição para aqueles que os consideram apenas como mais um modismo de qualidade duvidosa e movido a milhões de dólares.
A superexposição
Um fenômeno cultural traz consigo inúmeras implicações. Dentre elas, talvez a mais importante, no caso em tela, seja justamente aquela que escapa à maioria das visões mais superficiais e busca assentar-se em um olhar atencioso. O olhar atento implica abrir os olhos encarando o que vemos nos múltiplos prismas por meio dos quais se apresentam. Abrir os olhos para tentar enxergar além da superexposição. Olhar a imagem e atentar para o que ela deseja nos dizer, sem o a priori dos rótulos.
Jan Masschelein, em seu artigo E-ducando o olhar: a necessidade de uma pedagogia pobre, fortemente inspirado em Walter Benjamim, ressalta o que seria essa abertura do olhar:
Abrir nossos olhos é ver aquilo que é evidente; trata-se, como eu diria, de estar ou tornar-se atento ou expor-se. Caminhar pela estrada e copiar o texto são maneiras de explorar e relacionar-se com o presente, que são, acima de tudo, e-ducativas (…) Eles constituem um tipo de prática de pesquisa que envolve estar atento, que é aberta para o mundo, exposta (ao texto) para que ele possa se apresentar a nós de forma que nos comande. Esse comando não é o poder de um tribunal, não é a imposição de uma lei ou princípio (que supostamente deveríamos reconhecer ou impor a nós mesmos), mas sim a manifestação de uma força que nos põe em movimento, e assim abre o caminho. Ela não nos direciona, não nos leva à terra prometida, mas nos impulsiona.21
Olhar atentamente a imagem do vampiro hoje é deixá-la nos conduzir e contemplar o que ela evoca. É ter o olhar vazio para conseguir enxergá-la para além da moldura das ideias preconcebidas, do preconceito e dos modismos. É perceber como certo movimento de vida criou-se ao redor dessas narrativas, ofuscando muitas vezes o que elas próprias desejam expressar. É superar um pouco das barreiras criadas pelas classificações de idade e espaço nas obras literárias e cinematográficas. É tentar não ir simplesmente contra o que prevalece, mas buscar novas significações para velhos gestos. É buscar compreender como a imagem se propaga para além do seu direcionamento inicial e se faz presente de muitas formas. Crepúsculo é, por exemplo, uma história classificada como juvenil, mas que não se restringe hoje apenas ao público jovem. Restringi-la é uma forma de não abrir os olhos, de considerar suas possibilidades expressivas em um plano muito superficial.
As leituras, os visionamentos, as pesquisas que realizamos são formas de conhecimento de nós mesmos e do mundo em que vivemos. Elas não se configuram apenas num ambiente acadêmico. A pesquisa de fenômenos culturais não se limita às obras a que se refere. Elas são o nosso ponto de partida, o impulso. Elas conduzem-nos, como se referiu Messchelein acima. A partir delas nos movimentamos. O que traz esse impulso, o que ocasiona esse movimento é o que constitui essa pesquisa. Ela se constitui de muitos elementos, um verdadeiro caleidoscópio, feito para ser visto por um olhar atento e alegórico.
Walter Benjamim destacou as possibilidades de fazer emergir novas percepções existentes nesses entremeios de histórias, signos, símbolos, sentidos, significados, objetos de que se constitui a alegoria. Para o autor, a alegoria “está mais tenazmente radicada onde a caducidade e o eterno se chocam mais fortemente”22. O que é perecível e o que permanece juntam-se para nos trazerem outros significados; buscam o que é presente e o sintetiza com o passado, o que foi e o que era, e, ainda, o que poderá a vir ser. As possibilidades de cada imagem, em alegoria, expandem-se e se ampliam a partir de uma obra. Mas não se limitam a ela. Instalam-se no mundo, criam novos significados e novos simbolismos.
Dessa forma, o olhar atento também quer conseguir outro intento: superar preconceitos. Superar as limitações que os conceitos fechados nos trazem. “Os conceitos são roupas de confecção que desindividualizam conhecimentos vividos. Para cada conceito há uma gaveta no móvel das categorias. O conceito é um pensamento morto, já que é, por definição, pensamento classificado” (BACHELARD, 1993)23. Se as alegorias ampliam as possibilidades do que nelas está figurado, o pensamento morto não tem nelas um lugar cativo. Só os conceitos vivificados podem participar desse processo secular de fabricação estética e política de imagens e narrativas que proporcionam encantamento – e estranhamentos – no universo humano como parte da vida privada e social.
As narrativas de ficção se ampliam nas alegorias que apresentam e instalam-se no mundo, seja no mundo material, no das ideias, no dos sonhos, no da imaginação, no dos produtos culturais 24. A linha de separação entre eles torna-se cada vez menos visível. Olhar as narrativas que se apresentam ao mundo e acolher o que elas nos trazem cria novas possibilidades de compreensão do próprio mundo. Ultrapassa a ficção e transforma a realidade.
O inferno dos vivos não é algo que será: se existe, é aquele que já está aqui, o inferno no qual vivemos todos os dias, que formamos estando juntos. Existem duas maneiras de não sofrer. A primeira é fácil para a maioria das pessoas: aceitar o inferno e tornar-se parte deste até o ponto de deixar de percebê-lo. A segunda é arriscada e exige atenção e aprendizagem contínuas: tentar saber reconhecer quem e o que, no meio do inferno, não é inferno, e preservá-lo e abrir espaço. (CALVINO, 1990)25
*Laura Maria Coutinho é graduada em Audiovisual: Cinema, Rádio e Televisão e mestre em Educação pela Universidade de Brasília; doutora em Educação, Conhecimento, Linguagem e Arte pela Universidade de Campinas. Professora da Faculdade de Educação/UnB, atua na extensão, graduação e pós-graduação.
** Adriana Moellmann é graduada em História, mestre em Educação pela UnB e doutoranda pela Faculdade de Educação da Universidade de Brasília – UnB. Seu projeto de pesquisa, intitulado “Amar mais as Sombras que os Corpos: imagens e sons da ficção e da realidade”, tem orientação da Prof. Dra. Laura Maria Coutinho.
1 MEYER, Stephenie. Eclipse. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2009, p. 425.
2 Trecho do livro City of fallen angels, de Cassandra Clare, com publicação prevista para abril de 2011. A citação consta do site dedicado à saga de que faz parte o livro: www.imortalinstruments.com. Acesso em 14/10/2010. Tradução livre: “Você acha que é um vampiro”, disse a mãe de Simon, meio entorpecida. “Você acha que bebe sangue”. “Eu bebo sangue,” disse Simon. “Eu bebo o sangue de animais.” “Mas você é vegetariano.” A mãe de Simon parecia estar à beira das lágrimas. “Eu era. Não sou mais. Não posso ser. Agora eu vivo de sangue.” Simon sentiu sua garganta apertar. “Eu nunca machucaria ninguém. Eu nunca beberia o sangue de uma pessoa. Eu continuo a ser a mesma pessoa. Eu ainda sou eu.”.
3 Drácula de Bram Stoker (Dracula). De Francis Ford Coppola, EUA, 1992. Baseado no livro Drácula, de Bram Stoker (São Paulo: Martin Claret, 2002).
4 Essa pesquisa com o título Revista, Televisão, Cinema: a imagem do vampiro, realizada por Adriana Moellmann e Paula Christina Miranda Rêgo, à época alunas de graduação em História, foi desenvolvida no espaço da disciplina “História das Religiões” – Prof. Victor Leonardi – Departamento de História/UnB/1993.
5 Nosferatu (Nosferatu, eine Symphonie des Grauens). De F. W. Murnau, Alemanha, 1922. Werner Herzorg filmou uma versão do filme – Nosferatu, o vampiro da noite (Nosferatu: Phantom der Nacht) em 1979.
6 Dança com vampiros (The fearless vampire hillers). De Roman Polanski, Inglaterra, 1967.
7 Fome de viver (The hunger). De Tony Scott, EUA/Inglaterra, 1983.
8 Ator austro-húngaro (atual Romênia), famoso por interpretar vampiros no cinema. Um deles foi o próprio Conde em Drácula (Dracula), de Tody Browning, EUA, 1931. A banda inglesa Bauhaus o tem como tema de uma de suas músicas, Bela Lugosi’s dead. Esta música é o tema de abertura do filmeFome de viver, em uma cena incrivelmente impactante com Catherine Deneuve e David Bowie.
9 Entrevista com o vampiro (Interview with the vampire: The vampire chronicles). De Neil Jordan, EUA, 1994.
10 Escrito em 1976, Entrevista com o vampiro – na edição brasileira, pela editora Rocco, com tradução de Clarice Lispector –, inicia a série que apresentou ainda O vampiro Lestat e A rainha dos condenados.
11 A expressão refere-se aos vampiros que questionam o que são. Insatisfeitos com o seu destino, tentam viver de forma diferenciada. A expressão é usada, comumente, de forma depreciativa, como se a aquisição de uma consciência fosse contrária à natureza do vampiro. Alguns vampiros trazem fortemente essa característica. Além de Edward, de Crepúsculo, há Stefan, da série de livrosDiários do Vampiro (L. J. Smith, Galera Record, 2009) e da série de TV sob o mesmo nome (Vampire diaries, EUA, Warner, 2009). Aqui também há a contraposição, como ocorre em Entrevista com o vampiro: contrariamente a Stefan, seu irmão, Damon, sustenta a imagem do vampiro como tradicionalmente a conhecemos: violenta e sem escrúpulos – pelo menos aparentemente.
12 MEYER, Stephenie. Crepúsculo. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2008.
13 JAMESON, Fredric. As sementes do tempo. São Paulo: Ática, 1997.
14 ARENDT, Hannah. A condição humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005, pp. 60/61.
15 CHEVALIER, Jean & GHEERBRANT, Alain. O dicionário dos símbolos. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1991, pp. 800.
16 De acordo com CHEVALIER & GHEERBRANT, 1991, p. 930.
17 DOYLE, Roddy. Blood. In: Stories: All-new tales. Gaiman, Neil & Al Sarrantonio (org.). Estados Unidos: HarperCollinsPublishers, 2010, pp. 5 a 14.
18 CAMPBELL, Joseph. O poder do mito (com Bill Moyers). São Paulo: Palas Athena, 2006.
19 True Blood. EUA, 2008. Série de TV criada e produzida por Alan Ball.
20 Assim acontece com Jane Jameson, vampira recém-criada no livro de Molly Harper, Nice Girls Don`t have fangs (EUA, Pocket Books, 2009). Os livros da série trazem vários elementos de outras histórias da literatura, numa referência constante, que se possibilita ao leitor o diálogo com outras narrativas.
21 MASSCHELEIN, Jan. E-ducando o Olhar: a necessidade de uma pedagogia pobre. In Dossiê Cinema e Educação – Educação & Realidade. Porto Alegre, 2008 v. 33, p. 39.
22 BENJAMIN, Walter. A origem do drama barroco alemão. São Paulo: Brasiliense, 1984, p. 243.
23 BACHELARD, Gaston. A poética do espaço. São Paulo: Martins Fontes, 1993, p. 88 (Coleção Tópicos).
24 Desde o surgimento do fenômeno Crepúsculo, novos vampiros e seres sobrenaturais surgiram em sagas literárias, algumas já com previsão de serem adaptadas para o cinema. Essa afirmação não exclui a existência de inúmeras séries anteriores ao fenômeno. É importante reconhecer a invasão de novas séries no mercado literário desde 2005. Um exemplo foi o lançamento, em 2009, da série de televisão norte-americana Vampire diaries, produzida pela CW a partir da saga homônima escrita por L. J. Smith em 1991 e em 2009 houve o lançamento, pela autora, de um novo livro da saga, dezesseis anos após o primeiro. No Brasil, o fenômeno Crepúsculo ocasionou o maior número de tradução de livros sobre vampiros que até 2009 só eram encontrados em inglês. Algumas das sagas vampirescas atuais são: os livros de Sookie Steakhouse, que deram origem à série de TV True Blood, escritos por Charlaine Harris (2001, 10 livros); a saga Vampire academy, da autora Richelle Mead (2007, 5 livros, com lançamento previsto nos cinemas em 2013); House of night saga, escrita por P.C e Kristin Cast (2007, 7 livros – as autoras são mãe e filha, respectivamente – P.C. convidou a filha a escreverem juntas para poder adaptar seus livros à uma “linguagem mais adolescente”); Mortal instruments, de Cassandra Clare (2003, 3 livros, com previsão para chegar aos cinemas em 2012); Wicked lovely, de Melissa Marr (2009, 3 livros); Cirque du freak, a Saga de Darren Shan (2000, 12 livros e um filme), de Darren Shan; The Immortals, de Alison Noel (2009, 3 livros); os livros de Jane Jameson, de Molly Harper (2009, 3 livros); Fallen, de Lauren Kate (2010, 2 livros); Hush hush, de Becca Fitzpatrick (2009, 2 livros). Apesar de longa, esta lista está longe de abarcar sequer uma pequena porcentagem das séries hoje à disposição do leitor e espectador. No entanto, é importante destacar também como as sagas cresceram rapidamente, e tiveram vários livros lançados em curto espaço de tempo. Dos citados, apenas Cirque du freak, Jane Jameson e Wicked lovely não têm nenhum de seus livros traduzidos.Cirque du freak e Jane Jameson são sagas já encerradas, além de Crepúsculo; todas as outras continuam em andamento, com novos livros previstos para 2010/2011.
25 CALVINO, Italo. As cidades invisíveis. São Paulo: Companhia das Letras, 1990, p. 150.