Resumo: O presente artigo pretende discutir o papel da língua na definição das desigualdades sociais e raciais, dentro e fora do ambiente escolar de Luanda, durante a época colonial, através da análise dos contos “A menina Vitória” e “O velho Pedro”, escritos por Arnaldo Santos e publicados na coletânea Quinaxixe em 1965. Nessas narrativas, a personagem Vitória, uma professora mulata que se comporta à maneira dos portugueses, contrapõe-se a Pedro, um médium que mora no musseque e que possui habilidades curativas extraordinárias, pela função educativa que esses adquirem na narrativa, além das diferentes metodologias didáticas adotadas, demonstrando as tensões culturais e sociais na cidade de Luanda durante a colonização portuguesa. Ademais, a descrição e a caraterização destes personagens, feitas através de uma linguagem polifônica que inclui termos quimbundos num texto maioritariamente escrito em português, mas na sua variedade angolana, demonstra as conexões entre língua e poder na sociedade luandense segundo a percepção do autor.
Palavras-chave: literatura angolana; Arnaldo Santos; educação; assimilados; quimbundo; língua.
Abstract: The aim of the present paper is to discuss the role of language in the definition of the racial and social inequalities, inside and outside the school environment of Luanda during colonial time, by analysing Arnaldo Santos’s short stories “A menina Vitória” and “O velho Pedro”, belonging to the collection of nine short stories titled Quinaxixe and published in 1965. In the above stories, Vitória, a mixed-race teacher who acts like a Portuguese, places herself in contraposition against Pedro, an old sorcerer who lives in the musseque (slum) and has extraordinary healing powers, due to the educative function that both characters acquire in the narrative, besides the different methodologies adopted, hence showing the cultural tensions occurring in Luanda during the Portuguese colonisation. In addition, the description and characterisation of the above personages, done through a polyphonic language the blends Kimbundo terms within a Portuguese text, in its Angolan variety, demonstrates the connections between language and power in the society of Luanda, according to the author.
Keywords: Angolan literature; Arnaldo Santos; education; assimilation, kimbundo; language.
Introdução
O presente artigo pretende discutir o papel da língua na definição das desigualdades sociais e raciais, dentro e fora do ambiente escolar em Luanda na época do colonialismo, nos contos “A menina Vitória” e “O velho Pedro”, escritos por Arnaldo Santos e publicados na coletânea Quinaxixe em 1965. Nas narrativas, a personagem Vitória, uma professora mulata que se comporta à maneira dos portugueses, contrapõe-se a Pedro, um médium que mora no musseque e possuidor de habilidades curativas extraordinárias, pela função educadora que estes personagens adquirem na narrativa e pelas diferentes metodologias didáticas adotadas, ressaltando as tensões culturais e sociais na cidade de Luanda durante a colonização portuguesa. Ademais, a descrição e a caraterização destes personagens, feitas através de uma linguagem polifônica que inclui termos quimbundos num texto escrito principalmente em português, na sua variedade angolana, contribui para a caraterização dos sujeitos, mas também demonstra as conexões entre língua e poder na sociedade luandense, segundo a percepção do autor.
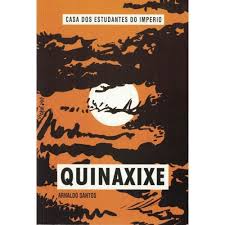
Quinaxixe é uma coletânea de nove contos que retratam a vida dos moradores do bairro homônimo de Luanda, maioritariamente povoado pelos nativos negros e mestiços nascidos em Angola, os quais se confrontam constantemente com o poder colonial português em todos os aspetos da vida privada e social. A conexão entre o autor e este lugar geográfico é muito significativo, sendo que Arnaldo Santos escreveu esta obra inspirado pelos eventos que caraterizaram a própria infância no bairro mencionado. Dando voz aos marginalizados da sociedade luandense, o autor usa uma linguagem impregnada de vocábulos e expressões que vêm do quimbundo para sustentar um discurso anticolonial e que discute as tensões sociais e culturais da própria terra.
Como é noto, a colonização portuguesa impôs a própria cultura e a própria língua na administração e na educação em Angola, obrigando os nativos falantes das línguas bantu a comunicarem somente em português e a adquirirem os costumes dos colonizadores, em detrimento da própria identidade linguística e cultural. Neste sentido, a obra de Santos descreve as emoções dos personagens perante às formas opressivas de supressão das culturas locais, para questionar e redefinir as múltiplas culturas dos angolanos colonizados e para criticar o regime colonial, em nome da liberdade de expressão. De fato, como veremos na análise dos contos “A menina Vitória” e “O velho Pedro”, as distinções sociais e raciais são expressas através de uma série de escolhas linguísticas que remarcam a subalternidade das culturas nativas bantu na sociedade colonial instaurada pelos portugueses, onde a categoria social dos assimilados toma uma função relevante, por suportar a superioridade racial e social dos colonizadores. Na sua obra, Arnaldo Santos revoca constantemente os assimilados para levantar um debate ideológico, criticando o processo de absorção da cultura portuguesa em Angola.
Devido ao desejo de “civilizar” os nativos africanos, a legislatura e o sistema educativo angolanos da época colonial tinham como objetivo o “branqueamento” da sociedade e a eliminação dos traços caracterizantes as etnias locais. Sob o ponto de vista legal, conforme o Estatuto Político, Civil e Criminal dos Indígenas das colónias portuguesas de África, retificado e aprovado em 1929, os assimilados eram todos aqueles angolanos que tinham obtido a cidadania portuguesa somente depois de terem cumpridos os requisitos necessários: a idade mínima de 18 anos; saber falar corretamente em português; ter um emprego ou recursos que dessem a possibilidade de providenciar alguma forma de sustentamento para a pessoa e para a própria família; uma boa conduta e a aquisição dos hábitos portugueses, a nível público e privado; ter prestado serviço militar (Meneses, 2010, p. 85). A ideia fundante da política colonial portuguesa era o conceito segundo o qual os povos nativos africanos eram considerados crianças num estado primitivo da evolução humana, portanto, a assimilação da cultura dominante podia servir para eles atingirem à fase adulta (Duvpy, 1961, p. 295).
Devido à necessidade de “civilizar” os nativos negros, também as escolas angolanas refletiam essa tendência. De fato, como podemos ver ao longo da história da educação da então colônia, houve uma distinção entre brancos, assimilados e indígenas, os quais tinham acesso a uma instrução diferente, conforme a própria raça e ao próprio status social. Em 1845, foram criadas as “escolas principais de instrução primária”, onde os estudantes aprendiam a ler, escrever e contar, graças ao decreto criado por José Joaquim Falcão, ministro de Estado, da Marinha e do Ultramar, durante o reinado de D. Maria II. Essas escolas eram frequentadas pelas pessoas “evoluídas”, enquanto, para os indígenas, o Governo ainda planejava a criação de Escolas Rudimentares (Gomes, 2014, p. 2). Subsequentemente, Sá da Bandeira, ministro da Guerra e dos Negócios Estrangeiros, aprovou a portaria régia, em 1856, que estabelecia que os filhos dos potentados indígenas recebessem uma educação portuguesa, para que eles pudessem difundir esse conhecimento para o próprio povo (Liberato, 2014, p. 1006).
Na década de 1910, a política colonial da República Portuguesa impôs uma soberania branca, que teve, na personalidade de Norton de Matos (governador geral de Angola, entre 1912 e 1914, e alto-comissário entre 1921 e 1924) a expressão do dito “darwinismo social”, que previa a consolidação da raça portuguesa em Angola, ao fim de implantar uma “forma de civilização superior” (Liberato, 2014, p. 1006). Norton defendia a distinção entre a educação para os indígenas e a para os portugueses, promovendo a criação de institutos para os africanos que ensinassem a língua portuguesa, as quatro operações aritméticas e os cálculos com a moeda local, além da higiene pessoal e da limpeza do lar (Liberato, 2014, p. 1008).
Com a instauração da ditadura militar, no final dos anos 1920, o regime político autoritário, policial e corporativista era regulado por uma moral nacionalista cristã. Nos primeiros anos do Estado Novo, as escolas tinham o objetivo de transmitir um conhecimento baseado na ideologia salazarista que não permitia o desenvolvimento de um pensar crítico que pudesse comprometer o poder ditatorial (Liberato, 2014, p. 1009). Foi nesse contexto político que a instrução primária, graças ao Diploma legislativo n. 518 de 1927, foi reestruturada de forma que houvesse um plano curricular específico para os portugueses e os assimilados, por um lado, e um para os indígenas, pelo outro (Gomes, 2014, p. 3). Neste sentido, o Diploma legislativo n.º 238 de 1930, formalizou a separação dos objetivos para os dois tipos de instrução: de acordo com a dita lei, no caso dos indígenas, a educação devia servir para a civilização dos nativos, enquanto os portugueses e os assimilados beneficiavam de uma formação que os preparasse para a vida social e adulta. Esta distinção, baseada na raça, foi reforçada ulteriormente através do Acordo Missionário de 1940 e do Estatuto do Missionário de 1941 (Gomes, 2014, p. 3).
Para terminar esta breve resenha histórica, em 1964, foi fundada a Secretaria Provincial de Educação de Angola, dirigida por José Pinheiro da Silva, defensor da ideologia salazarista e da ideia de criação de uma “Angola portuguesa”, para suprimir qualquer movimento subversivo (Gomes, 2014, p. 3). No mesmo ano, o Decreto-Lei n. 43.893 reformou a educação primaria, através da difusão de um plano curricular único para todos os portugueses, conforme o sistema educacional da mãe-pátria (Gomes, 2014, p. 3).
As próximas seções do presente artigo articularão a análise dos dois contos de Arnaldo Santos, onde será possível notar uma demarcação acentuada das disparidades entre assimilados e negros, através de uma linguagem que reflete a política colonial portuguesa delineada nesta parte introdutória.
A menina Vitória
Depois de discutir brevemente as fases salientes da história da educação em Angola, esta seção enfoca-se na análise do conto de Arnaldo Santos “A menina Vitória”, que é exemplar em relação à discussão das contraposições entre português e quimbundo no âmbito escolar angolano, durante a época colonial. Esta obra, de fato, denuncia a maneira em que as escolas costumavam silenciar as culturas nativas, através de um plano curricular meramente português. O ambiente escolar criado pelo autor critica e reconstrói o processo colonial de assimilação, representando as transformações culturais e sociais que o dito processo implicava, e promovendo, de forma implícita, um sentimento de resistência que defendesse o legado cultural dos nativos bantu, em nome da independência e da formação do país angolano.
O título do conto vem do nome da protagonista, Vitória, uma mulher mestiça assimilada, professora de Gigi, um menino que foi obrigado a mudar de escola por motivos higiênicos e pela baixa qualidade do ensino. O substantivo menina confere um aspeto de inocência à protagonista, apesar da atitude agressiva e da índole racista dela, que impede ao jovem estudante de se integrar na nova escola, por causa da sua raça e da sua classe social. Desta forma, a aparente bondade da professora representada no título desaparece ao longo do conto, onde encontramos vários exemplos que demonstram o caráter discriminatório de Vitória contra todos aqueles que não tivessem assimilado a cultura e a maneira de falar dos portugueses.
O conto começa apresentando Sr. Silvio Marques, o pai de Gigi, que decide transferir o próprio filho para o colégio da Bucha Beatas, uma escola mais cara, mas que, segundo este personagem, podia providenciar uma instrução melhor que pudesse formar o jovem estudante e prepará-lo para uma carreira profissional no setor público, garantindo-lhe, assim, um futuro próspero e uma condição social mais avantajada. Mas além da escola, Gigi é obrigado a mudar também de estilo de vida, evitando a companhia dos amigos do musseque que lhe poderiam afetar a fala e o comportamento.
Transferiram-no no meio do ano lectivo, para o colégio do Bucha Beatas, por causa dos piolhos da Escola 8 e da prosódia, em que os professores o achavam muito fraco. O Sr. Sílvio Marques embora pouco exigente consigo em relação à pronúncia — trocava amiúde os vv pelos bb — era no entanto muito cuidadoso a fechar as vogais. Ralhava severamente o Gigi sempre que lhe ouvisse algum desconchavo, ou então abria-lhe muito os olhos, o que significava o mesmo. Também os amigos dele aos domingos, debaixo da mulembeira e entre uma ou outra jogada de sueca, comentavam as incorrecções do Gigi. E sibilavam (alguns eram da Beira Alta) lamentando que a pronúncia do garoto se estragava, que era preciso afastá-lo da companhia dos criados e dos colegas dos musseques (Santos, 1965, p. 45).
No presente trecho o autor descreve as dificuldades dos nativos em absorver o idioma do dominador. Até o Sr. Silvio Marques achava complicado pronunciar a letra “v”, devido à influência do quimbundo, sua língua-mãe. Apesar disto, o homem repreendia Gigi caso cometesse algum erro (desconchavo), que precisava ser corrigido imediatamente. Além do pai, também os amigos dele criticavam asperamente a maneira do menino e sugeriam para que ele se afastasse dos rapazes do musseque, ao fim de “limpar” a própria pronunciação. Embora seja evidente, desde o princípio da estória, o comportamento depreciativo dos personagens em relação à língua e a cultura dos nativos, o autor quer criticar o processo de “branqueamento” que a assimilação pressupõe, condenando, implicitamente, todos aqueles que anelam ser portugueses, para se sentirem superiores aos indígenas e para beneficiarem de privilégios que lhes eram recusados.
Ademais, graças às escolhas linguísticas usadas pelo autor, o conto quer transmitir a sensação de estranhamento e de deslocamento dos nativos dentro do espaço colonial. Por exemplo, a árvore local mencionada acima, a mulembeira, onde os amigos de Silvio Marques jogam, por um lado representa a identidade dos povos autóctones pela função social e espiritual que esta planta carrega, adquirindo um valor simbólico de resistência e de afirmação da própria identidade (Miranda, 2009, sem página), enraizada na terra desde um tempo ancestral e reforçando a visão holística das culturas bantu que se baseiam na harmonia do homem com a natureza e com o mundo inteiro (Costa, 2009, sem página). Por outro lado, a dita planta sofre com as mudanças histórica e cultural que se verificam em Angola, na época da publicação da obra, por virar o lugar onde os personagens jogam à sueca, palavra que claramente demonstra uma marcada influência colonial também nas atividades lúdicas dos residentes, inspirados por uma cultura alheia que se impõe sobre os jogos tradicionais (Santos, 2017, p. 44).
Outro termo de origem quimbunda que manifesta essa sensação de deslocamento é representado pela palavra musseque, o típico bairro com chão arenoso onde moram os marginalizados de Luanda, que aqui indica o lugar de onde Gigi tem que se afastar, porque os moradores dessa área influenciam negativamente o menino, prejudicando-lhe um futuro como assimilado, o sonho dos pais do menino e a aspiração dos demais naquela época.
Depois da introdução providenciada acima, Arnaldo Santos apresenta a personagem de Vitória, que dá nome ao conto. Ela representa a classe dos assimilados e do sistema educacional colonial. Aqui, a menina é definida de mulata, palavra que, em si, demonstra a conotação racista da língua portuguesa, por derivar de mulo, sublinhando, de forma negativa, o hibridismo racial da personagem (Menocci, 2018, p. 4). De todas as maneiras, a jovem mulher tenta aparecer e comportar-se como os portugueses, escondendo, assim, a própria descendência africana. De fato, a maquilhagem branca (pó de arroz) que a protagonista põe frequentemente na cara pode ser vista como uma forma de cobrir a própria cor natural, criando uma “máscara”, na tentativa de disfarçar a identidade real (Menocci, 2018, p. 4). Ademais, o gesto de tocar o cabelo loiro de um dos estudantes sentados na primeira fila demonstra a ambição da mulher em ser o que não é, depreciando tudo o que seja associado à fisionomia dos nativos negros, considerados um padrão de que é preciso afastar-se. Desta forma, Vitória tenta replicar a cultura dominante europeia, reproduzindo os mesmo mecanismos de opressão dos colonizadores. Ela não parece ter ressentimento pelas atrocidades cometidas pelos portugueses, que exploraram e submeteram os nativos de África, e reforça a posição dos dominadores, seja a nível físico, seja social, silenciando qualquer pessoa que expressasse livremente a própria identidade.
A professora da 3.a classe, a menina Vitória, era uma mulatinha fresca e muito empoada, que tinha tirado o curso na Metrópole. Renovava o pó de arroz nas faces sempre que tivesse um momento livre, e durante as aulas gostava de mergulhar os dedos nos cabelos alourados e sedosos de uns meninos que se sentavam nas primeiras filas. Olhou-o com desconfiança e depois do primeiro exame mandou-o para uma carteira do fundo da aula, junto de um menino com cara de puto, a quem chamava cafuzo, por ser muito escuro. Mas o menino cafuzo chamava-se Matoso, o que, de início, pareceu ao Gigi insuficiente para justificar o seu mutismo. Vergado na cadeira, não tirava os olhos do livro, nem mesmo quando a menina Vitória se referia a ele, quase sempre com desprezo, ao recriminar outro aluno. «Pareces o Matoso a falar…», «Sujas a bata como o Matoso…», «Cheiras a Matoso…», — e ele grudava-se cada vez mais à carteira, transido por aqueles comentários impiedosos (Santos, 1965, p. 46).
Ademais, na segunda metade de parágrafo, vemos o comportamento suspeitoso da menina, que afasta Gigi até mandá-lo para o fundo da sala, para ele se sentar ao lado de Matoso, alcunhado de cafuzo, devido à cor da própria pele – no Brasil, a palavra cafuzo refere-se a todas as pessoas nascidas de pais nativos-americanos e negros, mas neste contexto, o termo é usado como depreciativo para remarcar a cor escura do menino, que é constantemente usado como referência negativa da qual é preciso afastar-se. E a atitude racista da professora é enfatizada, ainda mais, através de expressões como “Pareces o Matoso a falar…”, “Sujas a bata como o Matoso…”, “Cheiras a Matoso…”, que associam a língua dos nativos ao aspecto físico, à escassa higiene pessoal e à falta de educação, para ridiculizar, mais uma vez, os nativos africanos. Relembrando as palavras de Fanon (2008, p. 33): “O negro tem duas dimensões. Uma com seu semelhante e outra com o branco. Um negro comporta-se diferentemente com o branco e com outro negro.” Sílvio Marques e Vitória atuam um processo de autocensura muito repressivo porque a sociedade lhes impõe apagar qualquer traço do próprio ser e da própria cultura, imitando os cânones estéticos e as etiquetas socias portugueses para eles se integrarem na sociedade. Ademais, Gigi, embora se sinta próximo a Matoso, devido ao aspecto físico e à maneira de falar e de se comportar, é obrigado a tomar distância dele, a fim de se integrar na escola. Na realidade, Gigi gostaria de se expressar livremente, sem constrangimentos de nenhum tipo, mas o sistema educacional colonial não permite essa liberdade. No próximo trecho, de fato, o jovem protagonista tenta eliminar qualquer traço da própria cultura nativa para absorver aquela dos colonizadores, embora o trastorno que esta forma de censura comporte na mente do menino.
Procurava esquecer o colorido vivo das penas dos maracachões, dos gungos, dos rabos-de-junco que ele perseguia na floresta e cujo canto escutava trêmulo atrás dos muxitos, o sabor ácido dos tambarinos que colhia sedento, o suor e o cansaço das longas caminhadas pelas barrocas, emoção dos seus jogos de atreza e cassumbula. Imitava passivamente a prosa certinha do gosto da menina Vitória. Esvaziava-a das pequeninas realidades insignificantes que ele vivia, das suas emocionantes experiências de menino livre, agora proibidas e imprestáveis. (Santos, 1965, p. 48).
As memórias felizes de Gigi brincando com os pássaros da vegetação local (muxito), aqui descritos com nomes quimbundo ou português na sua variedade local (gungos, e rabos-de-junco), ou os jogos típicos de atreza e cassumbula que retratam a vida do dia-a-dia no musseque, são reprimidas pelo menino para se adequar à cultura imposta pela professora, agressiva e exigente. Neste sentido, Campos (2017) afirma que Gigi quer aderir a uma cultura que não lhe pertence, tentando apagar as memórias e as cores do seu mundo e repetindo gestos que não fazem sentido para ele, como o ato de repetir “a prosa certinha do gosto da menina Vitória”. As palavras ligadas à natureza e à cultura locais representam, aqui, a memória do jovem protagonista, simbolizando todos aqueles nativos que, durante a época da colonização, foram obrigados a apagar a própria identidade em favor da cultura dominante portuguesa. Sem esses termos tão específicos em língua quimbunda ou na variedade angolana de português, o autor não poderia explicar as memórias de Gigi, que deseja voltar para aqueles momentos felizes da própria vida, em que se sentia realmente livre. Devido à impossbilidade de escolher, o menino representa os sentimentos fragmentados de todos aqueles nativos que, durante a época colonial, não sabiam efetuar uma mediação entre a cultura própria e aquela exógena (Campos, 2017).
Depois de várias humilhações sofridas pelo jovem protagonista, o conto de Santos acaba com a enésima palmatória de Vitória que repreende o menino por ter usado, no próprio ensaio, o artigo definido para descrever um importante político colonial. Inicialmente Gigi não percebe a razão pela qual a professora quer puni-lo, sendo que ele tinha escolhido os vocábulos adequados muito atentamente, conforme às instruções dela. Contudo, os esforços feitos para não decepcionar a professora não foram suficientes para evitar essa reação tão agressiva, como podemos ver no trecho em baixo:
Olhou o caderno que ela lhe devolvera, aberto nas mãos, mas não distinguiu as letras sùbitamente misturadas. A acusação, porém, veio sem tardar, inexorável, imprevisível. Como é que ele se atrevera a tratá-lo por tu! Como é que ele tivera o arrojo de o nomear com um simples artigo definido!?
— Ouve lá.., tu julgas que ele anda sujo e roto como tu, e come funje na sanzala…?
— Não… não.., não é… — gemia o Gigi, desnorteado, tentando estancar o fluxo daquelas insinuações que ele temia. (Santos, 1965, p. 51)
A exclamação dura da menina Vitória pode ser vista como uma tentativa de denegrir o aluno, não só remarcando a sua inferioridade em nível estético (“sujo e roto como tu”), como já vimos no exemplo anterior, quando a professora ofendia Matoso, mas também em nível cultural, mencionando o prato típico angolano (funje) e a organização social tradicional das etnias ovimbundo (sanzala), para reforçar a distância cultural entre os nativos, considerados “primitivos”, e os colonizadores, urbanizados e, supostamente, mais “evoluídos”. Neste sentido, Pires Laranjeira (1995, p. 416) relembra-nos que o código etno-antropológico que emerge na literatura da época é caracterizado por lexemas e conceitos que se referem a um estilo de vida rural, dependente do setor primário, em contraposição à sociedade do consumo instaurada com o colonialismo. A dita contraposição remarca as diferenças entre natureza e urbanização, que são usadas constantemente pelos colonizadores para exercerem o próprio domínio a nível ideológico e cultural (Laranjeiras, 1995, p. 416). Este tratamento de inferioridade se reflete na palmatória de Vitória que humilha Gigi que, na impossibilidade de providenciar uma explicação adequada para justificar a própria escolha estilística (ou seja, o artigo definido antes do nome do personagem político colonial), chora e uma sensação de torpor lhe invade o corpo, até enfraquecer. O menino sente-se triste pelas lutas constantes que tem que enfrentar na nova escola e pergunta-se o porquê desses maus-tratos, desde que Vitória tem ascendência africana como ele. Em seguida, o aluno entulha o caderno e chora, sem lágrimas, com a cabeça dentro da carteira. Depois de ser agredido violentamente pela professora, os olhos do menino são, conforme à narração de Santos, “orgulhosamente” raiados de sangue, como aqueles de Matoso, porque se dá conta de não querer assimilar a cultura do colonizador, mas prefere expressar a própria identidade sem constrangimentos, representando todos os nativos que foram subjugados pelo regime colonial.
O velho Pedro
Depois de ter analisado “A menina Vitória”, passamos a examinar o conto “O velho Pedro”, a narrativa de um ancião que mora isolado numa barroca de Kinaxixi. No começo da narração, este personagem é ridicularizado pelos meninos do bairro por causa da aparência assustadora e pelo estilo de vida que não se conforma aos cânones impostos pelos colonizadores, de forma semelhante ao conto anterior. Por outro lado, contrariamente ao primeiro conto, o protagonista, Pedro, representa o legado tradicional bantu, por recusar o processo de assimilação. De fato, o homem é um médium que pratica rituais ancestrais para curar as doenças mentais e físicas dos seus pacientes, de acordo com os ditados herdados dos antepassados.
Quando os meninos do musseque jogam na rua, as mães pedem para eles terem “cuidado com o cambungú da barroca” (Santos, 1965, p. 25), um ogre típico da narrativa oral bantu, do quimbundo kimbungu (Porto Editora, online). Apesar das advertências, os jovens personagens continuam na mesma, mexendo nos objetos acumulados na caverna onde mora o velho Pedro:
Só quando chovia e porque, diziam-se, vinham cacussos na corrente, é que alguns se atreviam a enfrentar o risco da aparicao do cambungú… Se ele aparecia mesmo, silenciava no alto da barroca, magro, anguloso, como um diquixi de madeira. No rosto ossudo, os olhos redondos brilhavam febris sobre uma barba castanha. Os garotos ficavam transidos, sem reações, prensados entre aquele olhar fixo e imperativo, e o fundo vermelho do buraco (Santos, 1965, p. 26).

Mas um dia, o homem sai da cava e todos os meninos ficam assustados por causa do aspecto físico dele, descrito pelo autor como um diquixi de madeira, um outro monstro da tradição oral bantu que, segundo a investigação de Oliveira (2001, p. 55), vem do radical bantu kixi que pode ter vários significados, entre os quais: máscara/mascarado, feitiço, espírito/alma, monstro/antropófago, albino e anão. No presente texto, a descrição do homem feita através de uma referência explícita ao ser monstruoso da narrativa popular, confere uma conotação negativa ao homem. De fato, a descrição física fornecida pelo autor (o rosto ossudo, os olhos redondos, febris, a barba castanha) reforça os estereótipos dos médiuns, devidos aos preconceitos raciais construídos pela cultura colonial ao fim de subjugar e depreciar os dominados física e ideologicamente. Neste sentido, Hellis e Ter Haar (2004, p. 94) afirmam que as práticas rituais tradicionais são consideradas de malignas por três razões principais: primeiramente, a demonização das ditas práticas pelos missionários que evangelizaram o continente africano; por conseguinte, a difusão de outras crenças entre as novas gerações determinou uma diminuição dos guias espirituais tradicionais; ademais, como o mundo espiritual é visto como uma reflexão daquilo material, não surpreende que espelhe as condições adversas em que se encontram os nativos na vida cotidiana. A posição destes acadêmicos podem servir de explicação para entender o comportamentos dos meninos do musseque, que consideravam o homem de um ser maligno por causa da sua aparência. Ademais, os jovens protagonistas não paravam de desafiar o velho Pedro, como podemos ver no trecho seguinte.
Em certa ocasião teve uma explosão nasal para o Zeca e o Neco, que esgaravatavam distraìdamente no fundo da barroca, uns imbricados monturos de coisinhas bambas. «Fora chafurdos!». — Sob o impacto daquele grito, eles difìcilmente perceberam a separação dos termos, porque os sons se juntaram nos seus ouvidos tensos, enrolados uns nos outros, formando um volume único.
No dia seguinte o Zeca, porque a mãe dele, a D. Brízida, andara no liceu, explicou com arrogância e ódio que «chanfurdos» era uma quimbundisse do velho negro. O Neco concordou, vingativamente, embora não reconhecesse absolutamente perfeita semelhança entre aquela palavra e os sons que lhe tinham ficado gravados nos ouvidos. Mas enfim, devia ser quimbundisse, pois também o criado dele, o Catuto, metia muitas palavras na conversa, que a mãe lhe proibia de imitar, porque eram de quimbundo. Além disso aquele andava sempre mais roto e sujo que o criado dele, e nem se lavava! (Santos, 1965, p. 26-27)
Zeca e Neco, dois companheiros de escola e vizinhos de casa, costumam ir à caverna do homem para mexerem nos objetos acumulados pelo ancião, sem mostrar algum respeito pelas propriedades dele. Por isso, um dia, Pedro grita “fora chafurdos!” para que os meninos saiam da caverna e parem de perturbar. A exclamação do homem suscita perplexidade na mente dos jovens protagonistas, os quais não percebem a palavra proferida; de fato, eles pensam que o homem tenha dito chanfurdo e, por isso, afirmam que se trata de uma quimbundisse. Desta forma, o velho Pedro é considerado iliterato e incapaz de falar um bom português. Por conseguinte, essa presumida falta de escolaridade, segundo os meninos, é sinônimo também de falta de higiene pessoal e de elegância. Assim, constatamos que a língua, mais uma vez, toma um papel importante na produção literária de Santos, por descrever as distinções socioculturais entre os nativos quimbundo e os portugueses, através de imagens estereotipadas da cultura local e das práticas espirituais de origem bantu que colocam os colonizados num nível inferior respeito aos colonizadores. Tudo isto é, de fato, reforçado graças à comparação entre o ancião e o Catuto, que aqui é usado como referência negativa, de forma parecida ao Matoso do conto anterior; quem fala quimbundo é pobre e sujo, segundo o menino Zeca.
Contudo, ao longo da estória reparamos que os jovens protagonistas mudam gradativamente a própria opinião em relação ao velho Pedro, o qual não é assim tão mau como eles acreditavam antes.
Às vezes regressava com o Zeca que também tinha sido castigado com o velho e que lhe falava dos novos companheiros, pretos e mulatos, graúdos e bassuleiros que passavam os intervalos a lutar. Mas do cambungú nada! Parece que tinha desaparecido. Falavam de um Sr. Pedro, brando, que ensinava a ler na cartilha e soletrava pacientemente o b a – ba, como se falasse com as almas dos meninos traquinas. «Diz também umas palavras difíceis», cochichou um dia o Zeca muito sério, enquanto entrelaçava uma cadeirinha de capim (Santos, 1965, p. 29).
Esta citação descreve uma cena em que Zeca compartilha a experiência vivida pela irmã Juju, a qual, visitou o velho Pedro para resolver o próprio distúrbio da linguagem, adquirido depois de ter encontrado o cambungú, trazendo consigo “uma cartilha e uma pedra-negra” (Santos, 1965, 28). Graças à sabedoria do médium, a mulher supera o próprio problema e volta a ser feliz novamente. De fato, Pedro, aplicando os conhecimentos herdados pelos antepassados, consegue solucionar as dificuldades da mulher ensinando-lhe a ler e soletrando diligentemente, através de rituais ancestrais que, ainda na época da narração, demonstram certa validade. Desta forma, o médium demonstra uma índole bondosa, providenciando o próprio saber para o bem da comunidade. Ademais, reparamos uma contraposição entre a imagem negativa inculcada pelos colonizadores a respeito das culturas locais, na primeira parte da narração, enquanto, na segunda parte, o autor ressalta a atitude positiva dos nativos e dos mestiços não assimilados no que se refere às práticas rituais ancestrais que, desde tempos imemoriais, ajudam para a salvação espiritual e física do ser humano.
Ao longo da estória, os meninos do musseque adquirem maior consciência do fato que o velho Pedro não é maléfico como parecia no começo do conto. No trecho final da narração, vemos, de fato, que Neco decide deixar de lado os preconceitos e a raiva contra o velho homem para encontrá-lo e ver se é verdadeiramente capaz de afastar o azar do bairro:
Subitamente ele voltou-se e o Neco baixou os olhos com medo de enfrentar aquele rosto de diquixi, que ele temia. Viu depois a sua sombra caminhar e parar junto de si. O coração pulsava-lhe desordenadamente e ele mal sentiu que uma mão negra e enrugada se pusara no seu ombro. Os olhos redondos do Sr. Pedro brilhavam febris, mas ele sorria. O Neco estremeceu. E no acordo que os seus sorrisos selaram ia nascer o Sr. Pedro, e desaparecia o cambungu das barrocas (Santos, 1965, p. 32).
Este parágrafo mostra os sentimentos contrastantes do jovem personagem a respeito do médium e das crenças tradicionais que ele representa. O velho Pedro ainda tem um aspecto assustador mas, ao aproximar-se a Neco, a aparência maldosa esvanece. O menino cai em transe depois de ter olhado para o sorriso do ancião, que parecia um diquixi mas, após ter aberto os olhos, o “cambungú das barrocas” desaparece para sempre. Apesar dos preconceitos negativos contra a pessoa de Pedro, o poder das práticas espirituais nativas demostra a sua validade, pela função “evangélica” que adquire, favorecendo o regresso às raízes bantu, partindo da perspectiva colonial cristã imposta pelo poder colonial.
Conclusões
Para terminar, a análise linguística dos contos “A menina Vitória” e “O velho Pedro” de Arnaldo Santos, demonstrou que através de determinadas escolhas lexicais entre quimbundo e português operadas pelo autor, os dois protagonistas se colocam em contraposição dentro da coletânea Quinaxixe por várias razões.
Primeiramente, a menina Vitória parece ser uma personagem positiva, mas na realidade demonstra o seu lado maligno. De fato, ela representa todos os assimilados que recusam a própria identidade racial e cultural para assumir aquelas do colonizador de uma forma agressiva, que replica os métodos usados pelos colonizadores. Como vimos na análise desenvolvida ao longo do presente artigo, a professora aspira a ser portuguesa, comporta-se como tal e denigre Gigi and Matoso através de uma linguagem agressiva, para se afastar deles, considerando-se de “superior”. Por outro lado, o velho Pedro é descrito como um monstro no início do conto, sendo visto pelos meninos do musseque como um dos ogres dos contos tradicionais de origem bantu, mas, no fim da narração, demonstra o seu lado bondoso, por usar a própria sabedoria ancestral para ajudar e cuidar dos membros da comunidade. A sua aparência maléfica esvanece, quando o homem apoia a própria mão no ombro de Neco, estabelecendo, assim, uma relação de confiança e de compreensão mútua.
Ademais, Vitória ensina a língua e a cultura portuguesas de forma repressiva, e espera que os seus alunos mudem a própria maneira de falar e de pensar, seguindo os ditados dos colonizadores. Neste contexto, a língua do colonizador torna-se a única forma de comunicação possível, de acordo com as políticas postas em ato na época da publicação do livro de Santos. Por outro lado, Pedro consegue resolver a distúrbio da fala de Juju, devido a uma trauma que sofreu por ter encontrado o cambungú, o monstro da narrativa tradicional bantu. Depois da visita do velho Pedro, a mulher consegue falar normalmente e supera o transtorno de ansiedade que tinha. O médium, falando com as palavras dos ancestrais, transmite, assim, um conhecimento antigo para o bem da comunidade inteira, contrariamente aos estereótipos criados pelos colonizadores.
Além disso, o conto “A menina Vitória” termina negativamente, com a palmatória de Gigi que é humilhado pela professora e pelos colegas da turma. Contudo, o jovem protagonista aprende a ser orgulhoso pela própria identidade, apesar dos sofrimentos que esta escolha lhe possa causar. Por outro lado, o fim de “O velho Pedro” é positivo, de fato o monstro dos contos tradicionais bantu desaparece para sempre e o ancião mostra a própria índole benévola pela capacidade de curar todos os problemas de saúde dos membros da comunidade através das habilidades mediúnica que aprendeu com os ancestrais. O protagonista desta narrativa representa o legado das culturas bantu que está por desaparecer, devido às mudanças socioculturais em ato, enquanto os meninos do musseque personificam o futuro da sociedade angolana que, na época, não era ainda um país autônomo. Contrapondo o antigo com o novo, a língua quimbunda com a portuguesa, o autor consegue representar duas realidades distintas, a do dominante e a do dominado, de uma forma que subverte a hierarquia estabelecida pelo poder colonial, considerado o fim positivo deste conto.
Para terminar, o presente artigo ressaltou algumas das estratégias lexicais adotadas por Arnaldo Santos para descrever a própria sociedade e criticar o regime colonial, através de uma linguagem que incorpora termos de origem quimbunda num texto maioritariamente português, mas na sua variedade angolana, representando, assim, a maneira de falar dos marginalizados da sociedade luandense, na época da publicação do livro Quinaxixe. Em detalhe, Santos coloca no centro da própria narrativa a figura dos assimilados, que se põem numa posição controversa por recusar a própria identidade e abranger a língua e a cultura do opressor, apesar das atrocidades do colonialismo, que provocaram alienação e intolerância. Representando a sociedade luandense, dentro e fora do ambiente escolar, através de um amplo leque de registros linguísticos, o autor consegue discutir as tensões da própria sociedade que questiona a identidade dos angolanos e deseja um futuro melhor e próspero para o futuro país angolano, em nome da liberdade de expressão.
*Vincenzo Cammarata é pesquisador de doutorado do King’s College London, Departamento SPLAS, Reino Unido. A sua área de investigação se baseia na análise linguística e literária relativamente à tradição oral de origem bantu, na narrativa curta pós-colonial angolana. Vincenzo é mestre em Tradução Audiovisual (Sheffield University, Reino Unido) e licenciado em Mediação Linguística paras as Instituições, as Empresas e o Comércio (Università della Tuscia, Itália).
Referências
CAMPOS, Maria do Carmo Sepúlveda. A pedagogia do silêncio: da violência do opressor à resistência do oprimido. Disponível em: https://www.ueangola.com/criticas-e-ensaios/item/145-a-pedagogia-do-sil%C3%AAncio-da-viol%C3%AAncia-do-opressor-%C3%A1-resistencia-do-oprimido. Acesso em: 10 dez, 2017.
COSTA, Cátia Miriam. “A árvore convertida em palavras”. Mulemba, Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, outubro, sem páginas, 2009.
DUVPY, Jamies. “Portuguese Africa (Angola and Mozambique): Some Crucial Problems and the Role of Education in Their Resolution”. The Journal of Negro Education, African Education South of the Sahara, v. 30, n. 3, pp. 294-301, 1961.
ELLIS, Stephen, TER HAAR, Gerrie. Worlds of power. Religious Thought and Political Practice in Africa. London: C. Hurst & Co. (Publishers), 2004.
FANON, Franz. Pele negra, máscaras brancas. Salvador: EDUFBA, 2008.
GOMES, Catarina Antunes. “O mito da portugalidade no ensino colonial: a história e a razão metonímica”. Mulemba, Rio de Janeiro, v. 4, n. 8, p. 1-11, 2014.
LARANJEIRA, Pires. A negritude africana de língua portuguesa. Coimbra: Edições Afrontamento, 1995.
LIBERATO, Ermelinda. “Avanços e retrocessos da educação em Angola”. Revista Brasileira de Educação. Rio de Janeiro, v. 19, n. 59, outubro-dezembro, p. 1003-1031. 2014.
MENESES, Maria Paula G. O ‘indígena’ africano e o colono ‘europeu’: a construção da Diferença por processos legais. E-cadernos ces, Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, v. 07, p. 68-93, 2010.
MENOCCI, Ana Carolina. “O espaço que exclui, que exila: uma análise do conto ‘A menina Vitória’ de Arnaldo Santos”. MEMENTO. Universidade Vale do Rio Verde, v. 9, n. 2, p. 1-12, 2018.
MIRANDA, Maria Geralda. “O embondeiro e a mulemba: árvores e literatura”. Mulemba, Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, outubro, sem páginas, 2009.
OLIVEIRA, Américo Correia. “Do imaginário angolano”. AFRICANA STUDIA, Porto, n. 4, p. 49-78, 2001.
SANTOS, Arnaldo. Quinaxixe. Lisboa: Edição da Casa dos Estudantes do Império, 1965.
SANTOS, Robson Caetano. “A europeização no ensino da língua portuguesa presente no conto ‘A menina Vitória’, de Arnaldo Santos, e ‘Infância’, de Graciliano Ramos”. Litterata, Ilhéus, v. 7, n. 1, janeiro-junho, p. 39-55, 2017.

