Professora associada da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Vera Lúcia Follain de Figueiredo é autora de Os crimes do texto: Rubem Fonseca e a ficção contemporânea (2003), livro fundamental sobre a obra do autor de A grande arte e Feliz ano novo. É ainda autora de Narrativas migrantes: literatura, roteiro e cinema (2010) e Da profecia ao labirinto: imagens da história na ficção latino-americana (1994). Nesta entrevista, feita no dia 16 de abril, um dia após o falecimento de Rubem Fonseca, Follain de Figueiredo revisita algumas das principais características da obra do escritor e comenta a relação do escritor com a cidade e com o cinema.
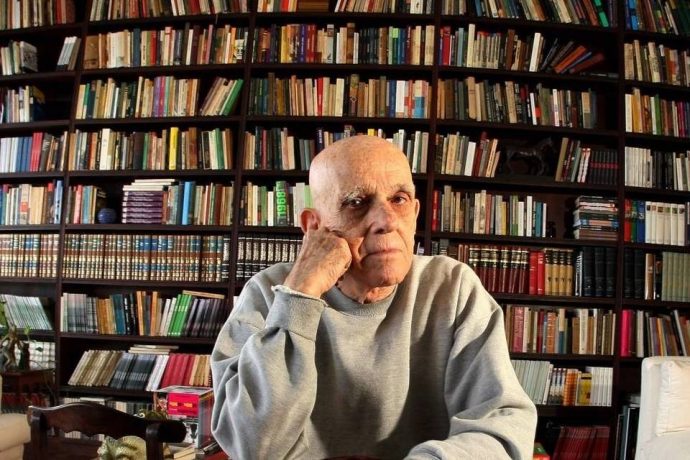
Beatriz Resende: Eu gostaria de começar com uma provocação, da própria ironia de morrer o autor do conto maravilhoso que é “A arte de andar nas ruas do Rio de Janeiro”. Hoje mesmo aparece em depoimento da Helô [Heloisa Buarque de Hollanda], no jornal O Globo, que ele tinha vários bonés e andava [pelas ruas do Rio].
Vera Follain: Acho que é um bom começo pensar nisso, realmente, como uma ironia da sorte. Ou então, quem sabe, esse andarilho se abateu no confinamento. Isso pode ter algo a ver com a partida dele. Mas a gente tem que lembrar que ele tem um conto, “O ciclista”, que também remete para este nosso momento da pandemia, em que a gente vai à janela e vê o pessoal dos serviços essenciais entregando comida, remédio, se deslocando em motos e bicicletas. E, nesse conto, que é de Amálgama, um dos livros mais recentes [2013], o narrador é um rapaz que trabalha com uma bicicleta, entregando produtos de uma loja virtual, e diz que fica impressionado, porque as pessoas estão na cidade, mas não sabem olhar a cidade. Saber olhar a cidade, para ele, é perceber as cenas de violência que estão acontecendo a todo instante, simultaneamente, e tomar uma atitude. Ele intervém em cenas de violência, atropelando com a bicicleta, por exemplo, um homem que espancava uma criança. Então, temos esse personagem que percorre a cidade de um canto a outro, como está acontecendo tanto agora, e o conto nos faz olhar a cidade com os olhos desse ciclista.
Lucas Bandeira: Eu tenho a impressão, lendo o Rubem Fonseca, de que há uma ambivalência entre um lado meio romântico e esse lado da violência. E na relação dele com a cidade tem muito isso. Como essas duas cidades existem na obra dele?
VF: O romântico tem esse lado da idealização, mas ele não está desconectado da realidade. É muito frequente o romantismo ter uma face de amargura. Você idealiza, não encontra o que idealizou e se torna amargo. Eu acho que, na ficção do Rubem Fonseca, os personagens são muito assim. Aqueles detetives irônicos, amargos, mas de repente, exatamente como você disse, percebe-se que eles têm uma dimensão idealizada, ou do outro ou da cidade, que gostariam de ver, de alguma forma, realizada, e isso não ocorre. Os personagens dele têm muito esse traço da amargura romântica, vamos dizer assim. Como dizia o Lukács, o homem autêntico em um mundo de valores inautênticos.
Mas no caso do personagem do Rubem, esse “homem autêntico” tem que ser entre aspas, por causa da relativização das certezas: ele é também alguém que desliza, que é descentrado, em termos de valores, da ética. Tem sonhos, pretensões de autenticidade, mas não é o homem autêntico tal como descrito pelo Lukács. Ao contrário, é um homem ao mesmo tempo nostálgico e cético, que se depara, a todo instante, com a relativização dos critérios que lhe permitiriam julgar-se e julgar o que se passa ao seu redor.
BR: Fala um pouco mais desses personagens, como o de “O cobrador” [1979].
VF: Eu estava pensando hoje, a partir de um artigo que eu tinha escrito, sobre esse homem comum que é o personagem do Rubem Fonseca. O próprio escritor se desdobra em vários homens comuns. Daí a maneira como ele brinca com o próprio nome. Rubem Fonseca é o nome do autor, no sentido de quem assina a obra, mas ele se chama José Rubem Fonseca e o “José” se desdobra em vários “Josés”. São diversos Josés, de todos os tipos, violentos, pacíficos, quase santos, golpistas, justiceiros etc. O tempo todo transforma o próprio nome em um substantivo comum, qualquer pessoa é um José. Deixa de ser um nome próprio. Eu acho que isso tem a ver com o olhar peregrino, com a enunciação peregrina que é marca registrada da literatura dele, que busca dar voz a esses homens comuns, a esses infinitos Josés, que são frequentemente vítimas da injustiça social, excluídos. Ele focaliza e prioriza essas figuras.
No caso de “O cobrador”, que é um conto impactante, impossível de esquecer, é um José que cansou de ser explorado, de ser excluído. Então, ele sai para cobrar. Mas há também contos em que o José é violento, vai cobrar, e no meio do desenvolvimento da história ele muda, se apieda daquela que seria a vítima. Ele compõe um painel que não tem centro, os personagens se deslocam, se transformam. Esse homem comum está sempre aberto para a vida, para mudar.
Sobre essa questão das injustiças sociais e da exclusão é importante falar um pouco mais também. Recentemente, ele publicou um conto sobre sapatos, que está no Axilas e outras histórias indecorosas [2011], que eu gosto de citar para mostrar a permanência, ao longo do tempo, dessa preocupação com a desigualdade. Quero me referir bastante aos contos mais recentes, porque os contos mais famosos, mais conhecidos, já foram muito discutidos. E é importante também falar da obra recente para a gente questionar aquela história de que a partir de determinado momento ele não escrevia mais nada importante, que ele só se repetia. Isso não é verdade. É claro que pode acontecer de um livro de contos publicado nos últimos anos não ter tantas obras-primas quanto você encontra num volume como Romance negro e outras histórias [1992], que inclui, por exemplo, “A arte de andar nas ruas do Rio de Janeiro”. Mas, se nos livros mais recentes do Rubem você tiver três contos bons, serão, de um modo geral, muito melhores do que a maioria das narrativas curtas que têm sido publicadas atualmente e festejadas pela crítica. Isso já justifica o livro.
Uma coisa que eu também acho interessante é que mesmo a primeira violência, que está, dentre outras obras, no “Feliz ano novo” [1973] e em “O cobrador”, sempre foi marcada por um viés filosófico. O Rubem Fonseca não falava da morte, do assassinato, para focalizar a cena crua e ponto. Ele tem toda uma reflexão filosófica sobre a questão da verdade. Onde está a verdade? Quais são os valores a defender ou não defender? Esse relativismo dos valores está permeando toda a obra dele.
Voltando à questão da ficção mais recente, à medida que ele vai ficando mais velho, a violência não desaparece da obra, só que aparece de outra forma. Não tão crua quanto a cena de “Feliz ano novo”, em que o assaltante arranca o dedo da vítima com uma dentada para pegar o anel. No entanto, no conto “Sapatos”, que eu já mencionei, a violência, em termos sociais, também é muito forte. O narrador é um rapaz que está desempregado – ou seja, um tema atualíssimo – e sai todo dia para procurar emprego, sem sucesso. A mãe, que é empregada doméstica, acha que ele não consegue trabalho porque não tem sapatos, usa umas sandálias muito velhas. Para ela, ninguém dá emprego a uma pessoa que não tem sapato. Um dia, a mãe chega em casa com um par de sapatos que teria ganhado do patrão, porque não lhe serviam, ficavam apertados. O sapato era menor do que o pé do filho, mas ele, com tanta vontade de arrumar emprego, consegue calçá-los, mesmo fazendo feridas horríveis nos pés: “sapato apertado a gente tem de amansar”, insiste. Consegue, então, um emprego de porteiro num prédio da Zona Sul do Rio. Só que, no dia seguinte, o patrão da mãe a acusa de ter roubado o par de sapatos. Eles vão para a delegacia, o patrão rico experimenta os sapatos e diz: “engraçado, eles não me machucam mais. São ingleses, sabia?” O rapaz, então, comenta: “eu tinha amansado os sapatos para aquele filho da puta”. Ao final do conto, o patrão retira a queixa e devolve os sapatos para o rapaz, dizendo: “Pode levar, são seus. Mas continue cuidando bem deles.”
BR: Por outro lado, é algo que tem muito a ver com o Brasil. Há um momento em que as pessoas são obrigadas a usar sapato. Primeiro, andavam pela cidade descalços. Depois andavam de tamanco. E, durante [a época do] Pereira Passos, diziam que as pessoas têm que usar sapato. Os portugueses fazem os tamancos para não andarem mais descalços, mas vira uma norma na cidade urbanizada, é preciso usar sapato.
VF: É isso mesmo. Então, o que aconteceu? Qual a diferença do conto “O cobrador”, do “Feliz ano novo”, para o conto “Sapatos”? Este não é uma bobagem, não é um conto no qual a tensão se esgarçou. Acho extremamente contundente, como é também o conto “A escolha”, do livro Pequenas criaturas [2002], que é exatamente nessa linha. É a história de um homem idoso, que ficou paralítico e perdeu a dentadura no incêndio de um circo que deixou centenas de vítimas. Ele tem uma única filha, que cuida bem dele, mas não consegue aceitar a relação que ela tem com uma amiga. Um dia, em uma disputa de prestígio político, o prefeito faz uma campanha dizendo que vai dar uma dentadura para as pessoas que chegarem primeiro na fila. E o governador, para competir, diz que vai dar uma cadeira de rodas. A filha pergunta ao pai o que ele prefere, a dentadura ou a cadeira de rodas? Ele lembra com saudade das dentaduras que teve e perdeu, que lhe permitiam comer um sanduiche de filé em pão francês. Mas lembra também do tempo em que podia se locomover sozinho pelo bairro onde mora. Diante da sua indecisão, a amiga da filha diz que não tem problema, que ela vai para a fila da cadeira, enquanto a filha vai para a da dentadura. A solução do problema leva o personagem a rever seu preconceito contra a homossexualidade da filha. Diz ele: “As duas estão muito contentes. Depois, elas me ajudam a deitar e vão abraçadas para o quarto.”
Então, são várias formas de você trabalhar as tensões sociais. Rubem Fonseca consegue deslocar o olhar. Vai do personagem do “Passeio noturno” [1973], que é um milionário louco que sai para atropelar pessoas, para o do empresário do conto “[O caso de] F.A.” [1967], que está sendo chantageado por uma travesti. Ele traz o velhinho que não tem dentadura, traz o rapaz que não tem sapato. E tudo isso sem o apoio de um narrador em terceira pessoa, moralizante, que dê algum conforto ao leitor. Essa é a grande diferença entre ele e o João Antônio, que tem uma literatura boa, obviamente, e preocupada com a questão social da cidade, mas que, na hora H, tem uma observação, um comentário, que estende a mão para o leitor. Na ficção do Rubem, você tem de se virar sozinho.
BR: Eu acho que essa foi a grande revolução formal que tantos dizem, que influenciou uma nova literatura.
LB: Há esse episódio de quando ele fala com a Patrícia Melo para não julgar o personagem.
VF: Exatamente isso. Não julgue o personagem.
LB: Falando sobre isso, me lembrei de um texto que você escreveu sobre a geografia na obra do Rubem, sobre esses Josés. Tem um José, digamos assim, que é da elite, que é o do “Passeio noturno”, tem outro que é o marginal, e tem o José do Centro da cidade, que é o do “A arte de andar nas ruas [do Rio de Janeiro]”. E o do livro José [2011], que é autobiográfico também, que tem uma visão mais lírica da cidade, esse José do Centro. Dá para traçar uma geografia do Rio de Janeiro a partir dos contos dele?
VF: O que eu acho interessante é que a ficção do Rubem é o oposto da ideia da cidade partida, porque o crime mistura ricos e pobres, tem uma geografia própria, entrelaça tudo. Os assaltantes no conto “Feliz ano novo” moram na Zona Sul. O conto termina com um deles dizendo, ao olhar o prédio onde moram: “Esse edifício está mesmo fudido.” Aí o outro diz: “Fudido, mas é Zona Sul, perto da praia. Tás querendo que eu vá morar em Nilópolis?” Então, eles estão lá, na Zona Sul. O rico também vai ao encontro desse excluído para fazer dele um assalariado do crime, o contrata para que seja aquele que executa, e ele um mandante, como você vê nos romances, em A grande arte [1983], entre outros. Nesse artigo sobre a geografia do crime, era exatamente isso que eu estava trabalhando, queria mostrar que, no caso do Rubem Fonseca, o crime atravessa a cidade, atravessa todas as camadas da sociedade. Não tem uma região se opondo à outra, ou um crime mais localizado.
Os maus leitores do Rubem o acusam de colocar o pobre como criminoso. Isso é uma leitura completamente equivocada, porque o crime, na obra dele, atravessa todas as camadas sociais, não é só o pobre que pratica qualquer crime, qualquer gesto ilegal, os ricos e a classe média também. A cidade, para ele, é um tecido, os fios se entrelaçam. E, por isso, a cidade é o texto. A cidade e o texto se confundem, porque o texto também é um tecido de fios entrelaçados.
E esse personagem que anda pela cidade é também sucedâneo desse narrador que desloca o olhar para várias questões e temas diferentes.
Carolina Correia: Você falou que o José deixa de ser um nome próprio, e é como, de certa forma, o Rubem Fonseca se disseminasse nos seus personagens. É interessante porque também desloca essa questão que tem sobre a obra dele como realismo feroz, brutalismo, e traz para uma esfera bastante particular, de um certo lirismo.
E fiquei pensando nessa novidade do século XXI, sobre a ideia das escritas de si, e como a gente pode dizer, através dessa sua observação, que José deixa de ser nome próprio e se reflete nesses vários personagens. E como a gente tem [em Rubem Fonseca] uma escrita de si bastante fragmentada também.
VF: Você falou duas coisas que são muito boas de comentar. Primeiro, essa coisa da escrita de si. Se a gente pensar, o Rubem Fonseca já brinca com isso, com a autoficção, há muito tempo. Agora, a diferença entre a maneira como o Rubem Fonseca trabalha a autoficção é que ele faz isso com ironia, com humor, e sem se levar a sério, enquanto vários outros escritores contemporâneos brasileiros fazem isso com uma solenidade que ninguém aguenta. O Rubem está brincando com isso. O humor é um traço marcante da literatura dele.
BR: A diferença formal é muita, não há um narrador falando de si. Há os múltiplos Josés.
VF: No livro O caso Morel [1973] um personagem diz para o outro: “Que vida sórdida a sua. Polícia, advogado, escritor. As mãos sempre sujas.” Só que essa é a trajetória profissional do próprio Rubem Fonseca. Trata-se de um jogo metalinguístico sutil, bem-humorado, sem deixar de ser crítico. E isso é muito diferente de uma certa literatura em que os escritores se levam a sério demais. Tanto que o humor sumiu da literatura brasileira.
BR: Não só o humor, mas a autoironia, a ironia mesmo. Essa coisa fundamental da literatura brasileira, que era a ironia mais ou menos explícita. Realmente, sumiu.
VF: A outra coisa importante que você falou, sobre os críticos que frisam mais a questão do brutalismo, da violência. Eu entendo que, em um primeiro momento, com A coleira do cão [1965], Feliz ano novo [1973], a literatura dele causou um impacto, ela vinha, como a Beatriz disse, renovando, abrindo outros horizontes na maneira do escritor construir seu texto, se expressar. E há isso de captar os dramas urbanos, eu acho que as pessoas ficaram muito impressionadas com os primeiros contos e pararam um pouco por aí. Elas não continuaram a refletir sobre a obra dele, que vai além desse recorte de cena impactante, de uma violência explícita. Eu não gosto muito de definir a obra do Rubem por essa questão do brutal, da violência crua, não acho que seja o mais importante na literatura dele. Até porque isso sempre esteve na literatura brasileira, a representação de atos violentos. O próprio Dalton Trevisan tem contos em que há assassinatos, embates cruéis entre casais e cenas violentas. O jornal está cheio de notícias e narrativas violentas, qual a diferença? Por que é a do Rubem que impacta?
Aí tem uma história que eu gosto de contar, relativa à proibição do livro Feliz ano novo. O Rubem recorreu, entrou na justiça. Como se pode ler no livro do Deonísio da Silva sobre o processo [O caso Rubem Fonseca, de 1983], o juiz manteve a proibição, mas discordou dos argumentos dos censores, afirmando: “nem o erotismo nem a linguagem empregada, por si só, justificam o veto censório. O grave está no modo pelo qual se tratou da violência”. O juiz era um leitor melhor do que os censores iniciais. Como observou Deonísio da Silva, o que preocupou o juiz foi a impunidade dos personagens. Para ele, o problema não era o palavrão, mas a maneira como Rubem Fonseca narra, porque não tem um narrador que explique para o leitor por que o cobrador é como é, que mostre o cobrador sendo punido.
CC: Ou que faça uma análise psicológica que justifique. Isso também não acontece.
VF: Sim, não acontece. Tem uma diferença na recepção do conto “Feliz ano novo”, que mostra bem isso que a gente está comentando. Atualmente eu não peço mais para ler esse conto nas aulas de graduação, peço outros. Mas houve um tempo em que eu trabalhava com o conto nas aulas e a turma se dividia muito. Tinha gente que ficava odiando, teve um menino que se levantou e disse: Eu não quero falar desse conto de manhã, me dá vontade de vomitar. E outros alunos adoravam. Eu sempre dizia a eles que os leitores se dividiam em dois grupos, os que se identificavam totalmente com os moradores daquela casa na Barra, que foi assaltada, e não conseguiam ver mais nada, nem a forma do conto, de tanta identificação com aqueles personagens, e os que saíam para assaltar com o narrador.
Então, se você sai para assaltar com eles, você lê o conto de uma maneira. Não tem jeito, é você que vai escolher o que vai ser como leitor, aquele que sai para assaltar ou aquele que está em casa e vai ser assaltado. Agora, veja bem, quando eu digo que sai para assaltar, não é para você “fechar” com o assaltante, achar que os assaltos são certos, não é isso. É se deslocar. Ou você não se desloca e tem nojo do Pereba ou você se desloca e percebe a dor da exclusão. É isso que a literatura do Rubem procura: fazer você sair de si.
LB: Acho que isso tem a ver com aquilo que você disse, que o assassino é o leitor.
VF: Aliás, acho que era o sonho dele conseguir fazer isso plenamente em um conto, que você se entregasse. Você lê e depois faz a mala, vai para a delegacia e se entrega. Acho que era exatamente isso que ele queria. Daí os deslocamentos que ele opera. Eu já falei do conto “AA” [1998]? O conto “AA” não é sobre Alcoólicos Anônimos, é sobre arremesso de anões. Esse esporte existe, de fato. Alguns países da Europa autorizam, a França parece que é uma das campeãs nesse esporte, outros proíbem. No Brasil é proibido, mas parece que, na região Centro-Oeste, alguns fazendeiros praticam e fazem campeonato. Você começa a ler o conto, em que um fazendeiro pratica arremesso de anão, e chega uma mulher que foi enviada para investigá-lo, porque é proibido no país. Mas ela disfarça, diz que está querendo ver como ele trata os animais. Até que chega ao ponto em que ela diz que quer saber se ele pratica arremesso de anão. Ele fala que sim, e argumenta: E qual o problema? Tem tantos esportes violentos, o boxe, por exemplo, tantos esportes dos quais as pessoas saem feridas, dilaceradas. Os anões foram expostos no circo, anos e anos a fio, sendo ridicularizados, apresentados como anormais para ganhar uma miséria. Nesse esporte, eles têm uma roupa de proteção, capacete para não se machucarem, eles ganham muito bem. Por que proibir arremesso de anão?
Imediatamente você começa a pensar: É, por que proibir? Não significa que, quando terminar [de ler o conto], você vai ser a favor de arremesso de anão, mas você nunca mais será o mesmo se esse assunto vier à tona. Faz isso também com soltar balões [em “O balão fantasma”, 1995]. Aborda certezas do senso comum, “verdades” que a gente não costuma discutir. Soltar balão é ruim, provoca incêndios. Imagina fazer arremesso de anão! Ele leva você a pensar as questões por um outro ângulo, imprevisto. Nesse conto do arremesso de anão, você realmente não consegue decidir se é a favor ou contra. A personagem da investigadora acaba se envolvendo com o fazendeiro, fica nas entrelinhas que ela pode ter se apaixonado. O que é uma enorme ironia.
CC: Esses personagens deixam de ser personagens caricatos, e, ao mesmo tempo, o personagem não é inteiramente mau. E o deslocamento do leitor também é em várias direções, não é só olhando de maneira sem empatia para aquele personagem que é da parte mais baixa. Tem várias direções possíveis.
VF: Outra coisa interessante é que ele não idealiza o pobre, o excluído. O excluído faz chantagem, assalta, está na vida com todos os defeitos que temos. Naquele livro América Latina em sua literatura [organizado por César Fernández Moreno], da editora Perspectiva, há um texto, que acho que é de um escritor hispano-americano, em que ele faz uma crítica ao realismo engajado e regionalista. O autor do artigo diz que o capitalismo tinha roubado quase tudo do trabalhador, e aí veio o realismo e lhe roubou a alma. Diz isso porque, se você idealiza o personagem excluído, é como se ele tivesse obrigação de ser perfeito para que se lute pela igualdade. Não é isso que deve levar você a lutar contra a exploração, a exclusão. Não é porque o pobre é perfeito, porque o pobre seria melhor do que a classe média ou do que o rico. Aí volta a questão que a Beatriz falou, a guinada que ele dá. Até na hora de fazer uma literatura realista e fazer uma literatura que trabalha temas sociais, não segue a tradição, não segue o que vinha sendo feito. Ele muda, altera, e fica muito mais impactante.
CC: O Antonio Candido, em um artigo sobre o Rubem, aquele dos primeiros, sobre o realismo feroz [“A nova narrativa”, 1979], ele fala que isso provavelmente aconteceu por influência do Guimarães Rosa. É interessante pensar isso, porque são literaturas tão diferentes.
VF: Muito. E o Rubem tem um conto chamado “Intestino grosso” [1975], em que um escritor dá uma entrevista sobre a literatura e afirma: não dá mais para Diadorim. Ele está rompendo com o regionalismo. Não que esteja dizendo que aquela literatura não é boa, está dizendo que não dá mais para fazer uma literatura como aquela, que está na hora de mudar esse jogo. Então, eu não sei qual a relação que o Antonio Candido quis fazer.
BR: Talvez ele reconheça a enorme violência de Guimarães, que é um autor violentíssimo.
CC: A narrativa também é sempre na primeira pessoa.
BR: A gente não lembra, quando fala de Guimarães [Rosa] para a exportação, de tudo que acontece de violência. É terrível, mata-se sem razão, estupra-se, esquarteja-se.
VF: Deve ser por aí que o Candido fez a relação. É verdade, estava no início da obra do Rubem.
BR: A gente gostaria de saber se você poderia juntar o Rubem com a sua grande especialidade, que é cinema. Falar, do ponto de vista da linguagem, se ele tem uma prosa cinematográfica, e um pouco também se os filmes, as adaptações, deram conta minimamente.
VF: Não sou especialista em cinema, não. Apenas busco entender esse eterno diálogo entre a ficção literária e a cinematográfica. O Rubem sempre foi apaixonado por cinema, ele queria ser cineasta, mas não tinha uma câmera, quando era adolescente, como está escrito na crônica José, ele tinha uma máquina de escrever. E ele diz que aí o seu destino estava traçado. Foi o filho, o cineasta José Henrique, que realizou o sonho do pai.
Com relação à literatura do Rubem, o que a gente pode dizer é que a aproximação com a linguagem audiovisual se realiza principalmente pela montagem das cenas. A maneira como ele “recorta” as cenas retiradas do contínuo da vida urbana provoca um efeito de explosão do sentido. Além da agilidade dos diálogos, a ponte entre o cinema, que é a arte da montagem, e a ficção do Rubem Fonseca se realiza pelos enquadramentos imprevisíveis, pelos cortes secos, que nos fazem ver o que não víamos quando envolvidos simplesmente com a sucessão dos fatos do enredo.
Uma outra questão diz respeito às adaptações da obra dele para o audiovisual. Ele foi roteirista, esporádico, mas foi. E nunca trabalhou com essa ideia da literatura como uma arte mais alta que o cinema poderia conspurcar, ou com a ideia de que a adaptação iria rebaixar a sua grande obra. Nunca li nenhuma crítica dele sobre as adaptações que fizeram dos seus livros. Acho que autorizava todas as transformações, todas as mudanças. Ele próprio colaborou em roteiros que, no meu entender, cortaram cenas que seriam imprescindíveis.
A grande arte [1991], eu tenho até um artigo sobre isso, é um filme de que não gosto muito. Acho até que partiu de uma ideia engenhosa. No romance, Mandrake, o personagem principal, é escritor e, no filme, é fotógrafo. Walter Salles fez essa alteração, talvez, por causa do deslocamento da narrativa de uma mídia para outra. Podia dar muito certo, mas eu avaliei que o filme acabou não realizando bem a sua proposta. O Rubem não criticou. Eu sempre fiquei impressionada com o fato de, ao contrário de tantos outros escritores, ele não se importar com as inúmeras alterações feitas na sua própria obra na passagem para o audiovisual. Talvez por isso, referindo-se ao seu alter ego em José: uma história em cinco capítulos, afirme: “E cinema e literatura se juntaram para dar-lhe grandes prazeres.”
Das adaptações eu gosto do Bufo & Spallanzani [2001], de Flávio Tambellini, com roteiro da Patrícia Melo e do próprio Rubem Fonseca. A relação entre arte e realidade, problematizada no romance, não surge, no discurso do protagonista do filme, como uma preocupação central. No entanto, a estrutura em abismo, através da qual se conta uma história dentro da história maior, tende a diluir as fronteiras entre realidade e ficção, levando o espectador a nivelar as cenas do romance de autoria do personagem com as cenas do presente da narrativa. Gosto do Lúcia McCartney, que foi feito para a televisão [TV Globo, 1994], adaptada por Geraldo Carneiro, com direção de Roberto Talma. Mas, de um modo geral, acho que as leituras da ficção do Rubem Fonseca realizadas para obras audiovisuais (que foram muitas) não têm conseguido transmitir mais plenamente a força da sua literatura.

Mais recentemente tivemos a série Mandrake [2005], da HBO, com direção do José Henrique Fonseca. Tinha treze episódios e foi dividida em duas temporadas. Era baseada em passagens de diferentes livros, e o protagonista Mandrake era o elo de sustentação da série, que soube tirar partido das convenções genéricas das narrativas policiais e do charme do personagem criado por Rubem Fonseca.
Eu uso a palavra adaptação porque é mais simples, já está estabelecida, mas não há como trabalhar com a ideia de que se possa transpor uma narrativa de um suporte para outro sem alterá-la. A chamada “adaptação” nada mais é do que um tipo de intertextualidade. É um diálogo entre o texto literário e o texto fílmico, no qual a diferença e não necessariamente a semelhança pode garantir um bom resultado final. Alguém já disse, não me lembro quem, que, na ciência, como no amor, a infidelidade, por vezes, é necessária para que se mantenha a fidelidade ao essencial. Eu acho que, no deslizamento da ficção narrativa de um meio para outro, trair mantém muitas vezes a fidelidade ao essencial, porque é outro meio e outra linguagem. Portanto, não é o caso de cobrar fidelidade do segundo texto em relação ao primeiro.
BR: O García Marquez não tem um só filme [adaptado] que preste. E, também, como adaptar o recurso, no cinema, do fantástico?
VF: Pois é, é preciso fazer um trabalho de recriação. Para dar mais um exemplo, o filme A hora da estrela [1985], da Suzana Amaral, baseado no romance da Clarice Lispector, é um filme maravilhoso. O pessoal de literatura, com frequência, não gosta do filme. Tem gente que diz que não é A hora da estrela, que não tem nada a ver com o romance da Clarice, porque, no romance, na verdade, o centro é o narrador, e não a Macabéa. No filme da Suzana, o centro é a Macabéa. Para mim, a diretora foi perfeita, ela operou esse deslocamento para manter a densidade do drama humano trabalhado no romance, que, no cinema, poderia se perder com o artifício de uma voz em off.
BR: É um falso narrador. Um homem dizendo que a mulher ia lacrimejar piegas.
VF: A contundência do livro da Clarice está no filme da Suzana, só que, para isso, ela realmente alterou a obra original. Ali é a Macabéa, não tem o Rodrigo [narrador do livro]. As pessoas de literatura normalmente acham que essa solução foi um crime. Como pode a diretora ter feito isso com aquela obra-prima? A Suzana, na minha opinião, foi muito inteligente, não quis a fidelidade a esse narrador, que, como a Beatriz falou, é muito difícil de funcionar bem no caso do cinema. Aí ela privilegiou a Macabéa. Assim, a força do drama humano está tanto no livro da Clarice quanto no filme da Suzana. Isso tudo para dizer que eu não estou fazendo uma cobrança de fidelidade quando digo que não sou tão fã dos filmes inspirados na ficção de Rubem Fonseca. Talvez seja interessante lembrar que o Hitchcock só fazia filme adaptado de livro que não era considerado obra de arte. E os filmes dele dispensam comentários, são maravilhosos.
LB: Eu acho interessante que o roteiro de O homem do ano [José Henrique Fonseca, 2003] tem a participação do Rubem, e é baseado em um livro da Patrícia Melo. E eu acho que funciona bem como adaptação, melhor do que as adaptações dos livros dele para o cinema.
VF: O filme, no caso, enriquece o livro. Às vezes, como em O cheiro do ralo, é difícil saber o que é melhor, se é o livro do Lourenço Mutarelli, ou o filme, dirigido por Heitor Dhalia.
BR: A Patrícia Melo começa com um sucesso, até que ela faz um livro que se passa no Rio de Janeiro, do Reizinho. E não funciona. Essa relação do autor que quer falar sobre a cidade com a cidade não dá para ser “faz de conta”.
VF: Isso não é fácil. Tem uma frase do Rubem que todo mundo cita, porque é muito boa: “A cidade não é aquilo que se vê do Pão de Açúcar.” Tem que saber olhar.
* Beatriz Resende é editora da Revista Z Cultural; Carolina Correia é editora executiva da revista e Lucas Bandeira é editor executivo da revista e faz pós-doutorado no PACC/UFRJ, com bolsa da Faperj.
