“Eu não estou interessado
Em nenhuma teoria
A minha alucinação
É suportar o dia a dia
E meu delírio
É a experiência
Com coisas reais”
(Belchior, “Alucinação”)
Este artigo pretende construir um diálogo entre dois eventos realizados pelo PACC – Programa Avançado de Cultura Contemporânea da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro – no ano de 2021, em plena pandemia. O webinário “Literatura e Feminismo”, coordenado pela professora Beatriz Resende, com intenção de trazer para o debate a literatura produzida por mulheres hoje, e o projeto “Livres Livros”, nascido do Coletivo Mulheres nas Quebradas ligado à Universidade das Quebradas coordenado pela professora Heloisa Buarque de Hollanda, também coordenadora do PACC, que nasceu da necessidade apresentada pelas mulheres periféricas em partilhar suas histórias.
Diante do cenário pandêmico, do impedimento de encontros presenciais, diversas mulheres tiveram a possibilidade, através desses eventos, de se manifestarem mostrando a capacidade de organização e a necessidade de ação no horizonte do feminismo. Por um lado, o webinário apresentou a competência e o talento de diversas escritoras e algumas ativistas multifacetadas, como María Galindo, que utilizarei para a composição deste artigo. Por outro, o “Livres Livros” através das oficinas de escrita e leitura promoveu o entrecruzamento da literatura e vivências que ultrapassam as fronteiras da universidade. Os dois movimentos apresentam a urgência da discussão de novas epistemologias exigidas neste momento histórico pelos estudos culturais; em especial, os ligados às questões como raça, etnicidade, gênero e cultura popular.
A literatura contemporânea tem incorporado modos heterogêneos de ser na cena cultural global, como estratégias para repensar o cânone literário. As formulações feministas, por exemplo, propõem uma nova concepção para a produção do conhecimento. Isso revela tanto o processo artificial de construção de unidades conceituais, desconstruindo sínteses das unidades e das identidades tornadas naturais, quanto postula a noção de que o discurso não é somente um reflexo de uma suposta base material, mas produtor e constituidor da materialidade, em um movimento dialético.
Sendo o cânone masculino, branco, heterossexual, fica clara a necessidade da problematização dos sistemas de representação e o compromisso feminista em expor criticamente o sistema de poder que legitima certas representações em detrimento de outras. As autoras contemporâneas precisam enfrentar avaliações canônicas para avançar nas estruturas do conhecimento e esse é um dos pontos de encontro entre esses dois projetos. A legitimidade vem dos pares para quem está na universidade, mas também é dessa forma que funciona para quem está fora do que consideramos o centro do saber. A lógica que rege a aprovação ou valida o que é considerado conhecimento ou não é uma lógica de disputa, uma lógica patriarcal. É contra essa forma de fazer, de saber e de conhecer que lutamos.
É necessário compreender que reivindicações de conhecimento são sempre reivindicações de verdade e durante muito tempo (e talvez até agora), nós, mulheres e corpos dissidentes, fomos desautorizadas a interpretar a ciência a partir da nossa perspectiva e essa desautorização não inibe somente coalizões epistêmicas críticas, inibe também nossa capacidade de interpretar o mundo e de descrevê-lo da forma como o entendemos. Portanto, é preciso, segundo Linda Alcoff (2016), mudar a “geografia da razão” e, em diálogo com Heloisa Buarque de Hollanda (1994), podemos dizer que esse é o momento de sairmos da “crítica do desagravo” para a “luta pelo poder interpretativo”.
Essa luta pelo poder interpretativo ficou mais clara para as mulheres da minha geração, a partir das jornadas de junho de 2013, quando utilizamos nossos corpos para reivindicações que já não estavam na ordem do dia de quem nos representava. No livro Explosão Feminista (2019), Heloisa Buarque de Hollanda faz uma análise de como seria impossível para ela escrever sozinha aquele livro, já que as demandas por representação estavam fora de questão. Era preciso dar espaço àquilo que as ruas diziam por meio dos corpos corajosos, em especial os das mulheres, servindo como plataformas e dispositivos para suas próprias reivindicações. Ou seja, para além de criticar severamente o sistema em que estamos inseridas, passamos a disputar a interpretação de mundo desse sistema e, por meio dessa disputa, as demonstrações de nossas interpretações aparecem em diversas instâncias da vida vivida, neste momento, dentro e fora das telas por causa da pandemia de Covid-19.
O Webinário “Literatura e Feminismo” foi um importante espaço de interpretação desse mundo em que vivemos. Ele teve início com a participação polêmica de María Galindo, ativista feminista, argentina, anarquista e uma das fundadoras do Coletivo “Mulheres Creando”. Inicialmente, Galindo questiona o formato do evento, não gosta da lógica de webinários, promovidos na tentativa de nos mantermos ativas. Sua crítica é contundente e, ao mesmo tempo, contraditória. Ela se preocupa objetivamente com a ausência dos corpos e com uma outra subjetividade que vai emergir da normalidade com que temos tratado esses eventos:
(…) são eventos sem corpo e que, de alguma forma, invisibilizam o público e ao mesmo tempo são eventos que, muitas vezes, estão funcionando como algo que encobre, uma espécie de biombo, um telão de teatro que está servindo para camuflar o tempo em que estamos vivendo, como se esse fosse um tempo ótimo quando, na verdade, a gente está vivendo um tempo profundamente difícil e conflitante e que talvez precisasse da nossa atuação de uma outra forma, mas enfim estou aqui (Galindo, 2021).
Apesar de concordar, em parte, com a crítica trazida pela ativista, penso em outros aspectos a partir da ausência dos corpos, como por exemplo, as distâncias geográficas que impedem encontros presenciais. Existe alguma materialidade promovida através das telas, afinal, a ausência do corpo físico e do encontro em espaços físicos não tira a condição de, também nos espaços virtuais, acontecerem encontros nos quais o corpo físico se faz presente a partir de outros sentidos que participam ativamente do processo, tais como a visão, a audição, a fala e, incluo aqui a expressão escrita, sem filtros, que aparece nas intervenções feitas pelo público/plateia/participantes nos espaços disponíveis para tanto. A realidade virtual traz, em potência, a participação de diferentes corpos distantes geograficamente e a possibilidade de manifestação sem censura, sem regramentos rígidos, com incentivo à criatividade e questionamentos que, provavelmente, de forma presencial poderiam ser cerceados.
Nos encontros virtuais da oficina Livres Livros, vivenciamos a questão mencionada, ou seja, o oposto da crítica apresentada por Galindo. No final da oficina, no primeiro semestre, ouvimos das participantes que, se a oficina fosse em outro tempo (tempos não pandêmicos), elas não poderiam participar. Algumas questões ligadas a essa constatação me fizeram pensar que não seria somente a distância geográfica a nos separar, já que tínhamos mulheres de Norte a Sul do país, mas também a distância intelectual que inviabilizaria a participação plena daquelas que não se sentem à vontade de participarem presencialmente de espaços onde exista alguma autoridade ou forma hierárquica, ou ainda, um determinado modo de agir com o qual não são socializadas, e, por fim, a falta de recursos financeiros que vão desde pegar mais uma condução até ter que pagar alguém para ficar com os filhos e filhas, uma vez que nossos espaços dentro das universidades, em geral, não são pensados para mulheres que precisam caminhar vida afora com seus rebentos. Fato é que o Coletivo Mulheres nas Quebradas, nesse tempo de pandemia, reuniu mulheres de diversas localidades, raça/etnia e classe social para que juntas dessem conta de suas demandas. Além disso, outros coletivos nasceram nesse tempo de isolamento social, momento em que a rede mundial de computadores ganhou status de local de encontro e troca de experiências.
Outro ponto de contato que percebo está na utilização das linguagens artísticas. As diferentes formas de leitura e de interpretação dos textos e depois realização de atividades feitas na oficina Livres Livros abarcava o potencial criativo das participantes, tivemos produção de poesia, prosa, letras de música, desenhos, uma série de representações artísticas. No webinário, María Galindo fala das linguagens utilizadas pelo movimento do qual faz parte, uma espécie de combinação entre as histórias produzidas pela comunidade e uma forte conexão com a sociedade. Galindo aproveitou para ressaltar seu especial apreço pelo grafite e o papel que ele cumpre no movimento de interpretação do mundo feito pelas mulheres na Bolívia:
(…) o que podemos sempre fazer é comprar um spray e sair escrevendo nos muros. Eu gosto muito quando a poeta negra diz que a poesia é barata porque precisa de um lápis e um papel, eu acho isso fascinante! Então o grafite que a gente faz é um livro teórico sobre feminismo boliviano escrito de maneira gratuita nos muros das ruas. No início da pandemia foi incrível, na Bolívia a gente tinha uma militarização nas ruas, um regime fascista como o do Bolsonaro e a pandemia foi usada para irradiar medo, a gente utilizou o grafite para desmontar o medo, desmontar o fascismo. O grafite nas ruas era a diferença entre um fique em casa e um fique calado, que não é a mesma coisa (Galindo, 2021).
Aqui no Brasil nossa resposta à pandemia não foi tão grande quanto nosso engajamento nas redes. Ficamos em casa, nos isolamos, tivemos medo. Estatisticamente, nós mulheres sofremos com a sobrecarga dos serviços domésticos, com, ainda, o aumento da violência doméstica, o aumento do feminicídio. O fique em casa aqui foi um remédio para a pandemia e, um veneno para uma sociedade que sofre com profundas desigualdades sociais. O incentivo à violência, discurso de ódio, preconceituoso e misógino por parte do chefe da nação junto com o abismo social em que estamos inseridos serviu e vem servindo como um autorizo para o horror que acompanhamos diariamente nos noticiários.
A ativista já havia manifestado sua indignação diante da forma como as autoridades trataram a pandemia desde o seu início. Em uma publicação, em 2020, chamada Sopa de Wuhan, ela apostava que o vírus não seria mais letal que a política de extermínio dos pobres, com destaque para os corpos dissidentes e das mulheres que vem acontecendo em toda a América Latina. Situação que vivenciamos no Brasil, nas periferias, comunidades e favelas cotidianamente. Impossível deixar de registrar que a primeira morte em decorrência do novo coronavírus, naquele momento ainda pouco conhecido, mas que já clamava pelo isolamento social para sua não propagação, foi de uma empregada doméstica que não podia se valer do isolamento social e contraiu o vírus em seu local de trabalho.
Mais uma vez, percebo que o questionamento em torno dos motivos que ainda nos levam a perguntar quem é a pessoa que escreve, quem é o intelectual, quem é o criador, conforme fala Galindo no webinário: quem está autorizado “a nomear os fatos, de dar um corpo teórico a eles e as lutas?” (Galindo, 2021) é muito próximo do questionamento feito pelas participantes da oficina Livres Livros. O “fique em casa” aqui no Brasil criou a possibilidade do encontro neste projeto através da internet, ou seja, isoladas, mas não caladas intelectualmente. O encontro promovido pelo coletivo Mulheres nas Quebradas possibilitou através do trabalho de leitura e escrita, a conscientização, reconhecimento e pertencimento. Além de ampliação de repertório, as mulheres demonstraram sua capacidade crítica de interpretação do mundo e escreveram suas próprias histórias. Histórias que se entrelaçaram com os contos de Conceição Evaristo.
Tanto Galindo quanto as quebradeiras repensam em seus atos de fala e suas ações o papel da intelectualidade, da academia e se questionam por qual motivo insistimos em atribuir a universidade o monopólio da produção teórica e escrita, enquanto os espaços de ativismos são tratados, muitas vezes, como espaços de mera reprodução de ideias e ações, e não de desenvolvimento de pensamentos.
Academia e ativismo seriam vistos como locais distintos de produção do conhecimento, deslocando a produção intelectual do já consagrado espaço acadêmico, que se sobrepõe aos espaços criativos de ação. Quebrar a noção hierárquica entre a dimensão da produção intelectual acadêmica e o ativismo é fundamental para abrirmos espaços que não dividam nossas produções, mas sim nos aproximem como produtoras de conhecimento. Para Galindo, “o espaço da luta social é um espaço onde permanentemente são construídos filosofias e pensamentos, um lugar onde pensamos o que fazer, onde sonhamos e esses sonhos são realizados e devem ser escritos” (Galindo, 2021).
Com um exemplo acerca do “objeto de estudo”, Galindo elucida a necessidade de distanciamento acadêmico acerca daquilo que se pretende estudar, interpelar e analisar:
Seus objetos de estudos se mantêm à distância, em um deslocamento em que através da terceira pessoa se enxerga ou se constitui um objeto de estudo a ser interpretado, pensado, analisado pelo acadêmico, nomeado pelo acadêmico, escrito e descrito pelo escritor, pela escritora (Galindo, 2021).
Na oficina Livres Livros, autorizamos e fomos autorizadas por nós mesmas a produzir o conhecimento que nos interessava e a compartilhá-lo. A noção de hierarquização imposta pela academia que se sobrepõe aos espaços criativos de ação ou de ativismo, conforme já citado, parece ter sido rasurada pela capacidade de encontro entre intelectuais consagradas academicamente como Heloisa Buarque de Hollanda e outras tantas intelectuais orgânicas e ativistas. A experiência de quebrar a hierarquia acadêmica e valorizar o ativismo como um saber não aconteceu de forma simples, já que não é fácil desmontar nossa visão de mundo acerca das estruturas que estamos submetidas.
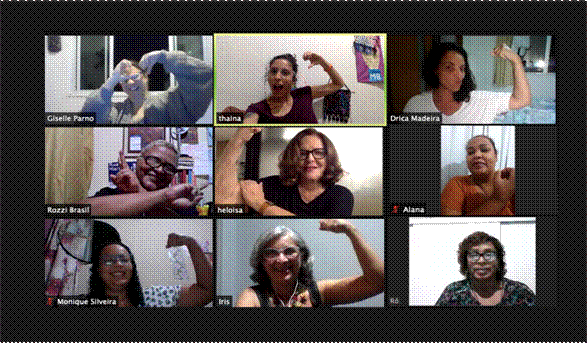
Gostaria de destacar o fato de que a produção do conhecimento científico/acadêmico tem sido historicamente considerada como um domínio ‘reservado’ aos homens, ainda que isso não exclua, necessariamente, as mulheres. Essa suposta não exclusão, que comprova a regra de que todos têm acesso, explicita que as resistências existentes à nossa presença no campo científico são ainda inquietantes. A existência de um sujeito do conhecimento universal neutro tem sido questionada por projetos como esse e falas públicas como a da Galindo no webinário.
A apropriação ou transformação dos problemas reais vivenciados pelas pessoas em objetos de estudo, nos leva a questionar a escrita em terceira pessoa, que transforma esses sujeitos em objeto de estudo; para Galindo, esse objeto de estudo não deve ser considerado um agente passivo, mas sim uma potência. Esse suposto objeto de estudo é também um produtor de saber, de conhecimento e pode falar por si próprio como vemos no Livres Livros, com a escrita em primeira pessoa que leva em conta o sujeito que vive, fala e produz conhecimento de forma ativa, reivindicando a “escrita como um direito da palavra em primeira pessoa, mas também uma potência poética e filosófica da palavra em primeira pessoa” (Galindo, 2021).
A oficina Livre Livros nos mostrou, na prática, o que María Galindo apontou em sua fala. Ela não se conforma com o lugar de matéria prima a ser extraída pela academia, pelo contrário, reivindica, sim, o ethos de ser matéria prima, mas não produto para extração, não informante para estudos através de olhares que não do sujeito em si. Ler, escrever e ser capaz de produzir seu próprio material de veiculação de ideias, falar de si através de seu repertório, segundo Galindo, não é uma condição narcísica, mas um ato importante de explicitação das próprias experiências e da capacidade de falar delas e sobre elas para a construção de outras possibilidades de mundo, para a construção de futuro, exercitar a criatividade para buscar saídas para o bem viver.
(…) somos poesia, somos corpos, somos palavra em primeira pessoa e é esse lugar que a gente reivindica tantas e tantas vezes. A potência da palavra em primeira pessoa, a potência da construção do conhecimento em primeira pessoa porque essa é a única maneira, a única porta, a única janela através da qual a gente pode quebrar o monopólio racista, classista, sexista, histórico que pesa sobre a escrita, sobre o livro impresso, sobre a teoria construída (Galindo, 2021).
Mais um ponto importante nesse diálogo é a concepção de testemunho como uma potência de escrita do sujeito que faz, pensa e age, o objeto de estudo tendo agência da sua fala fora do âmbito acadêmico, a mim, parece, uma experiência que vivenciamos nas oficinas. Diferente do que nos traz Galindo quando critica a condição de testemunho utilizada por investigações outras, tais como as da antropologia, que colhe (extrai) os saberes e os transforma, em uma tentativa de interpretar ou dar inteligibilidade a partir do lugar de observador (mesmo que participante) e construtor de um conhecimento que não vive ou que viveu de forma extraordinária para produzir determinado estudo. Sua crítica está ligada à nulidade de poder do objeto.
O objeto de pesquisa é sempre aquele que não tem poder. Eu quero ver uma etnografia sobre a classe média brasileira que não seja uma novela da Globo, eu quero ver uma etnografia dos problemas do parlamento, dos problemas dos deputados, mas o que vemos são etnografias dos gays, putas, sem poder de fala (Galindo, 2021).
O caso de Moema Viezzer, escritora brasileira, autora de um livro em que fala sobre e através de testemunho de Domitila Chungara, elucida, para mim, a crítica que Galindo traz acerca do assunto. Domitila foi uma mulher boliviana que viveu nos anos setenta no garimpo na Bolívia. O livro Se me deixam falar é, segundo Galindo, muito bonito, traduzido para mais de dez línguas e faz parte do acervo dos livros contemporâneos na Bolívia. Porém, Domitila Chungara morreu faz poucos anos muito pobre, sem ter o dinheiro suficiente para acessar os tratamentos que precisava. E daí vem outra provocação absolutamente necessária, que não está ligada somente à autoridade de quem pode escrever ou de quem é o intelectual, mas está intimamente ligada à indústria cultural, aos modelos que utilizamos para a venda dos saberes produzidos academicamente ou não.
Em nossa oficina abordamos contos de Conceição Evaristo, reconhecida como intelectual há pouquíssimo tempo, mas podemos buscar outros exemplos para dizer que no Brasil também padecemos do mesmo mal que assolou Domitila Chungara. Carolina Maria de Jesus morreu pobre, sem reconhecimento da sua obra que foi traduzida para aproximadamente 14 línguas e hoje, apesar de todo o resgate da vida e obra, sua família padece do oportunismo promovido pela indústria cultural.
Levantando mais algumas questões, as perguntas feitas por Galindo acerca de Domitila podem ser estendidas à Carolina e a tantas outras escritoras das quais nem o nome sabemos. Causa um certo desconforto pensar, como intelectuais produtores de saber, o que seria mais justo nesse jogo da produção e validação, mas esse incômodo é capaz de nos tirar da zona de conforto para que pensemos juntos em novas formas de construção dessas relações. Seguimos com Galindo (2021):
Então eu pergunto os direitos de autoria deste livro, onde eles ficaram? Onde foram parar? Onde estão? Eu respeito muito a autora, o ato que ela fez de recolher o testemunho e publicar esse relato, mas esse ato não deixa de ter todo esse conjunto de contradições que eu estou trazendo aqui para vocês entre autor ou autora e ativista como matéria prima, entre autor ou autora como mediador ou intermediário, intelectual que tem esse poder patriarcal, colonial de nomear e escrever e como a ativista é desinvestida ou destituída dessa potência da palavra em primeira pessoa.
A partir deste exemplo, é possível observar o testemunho como forma de extração do conhecimento que interessa academicamente e, por isso, é autorizada e validada socialmente. Caso a própria Domitila contasse sua história, dificilmente, teríamos condições de acessá-la por questões ligadas à validação da sua escrita, à publicação, à distribuição, entre outras, mas sendo uma autora que está validada academicamente por titulações ou outras relações de poder temos a chance de conhecer a história de vida e luta de Domitila, mesmo que esse conhecimento não tenha garantido a ela (objeto de estudo) direitos a ganhos materiais. Parece mesmo um pouco injusto. Afinal, nessa obra, está a sua própria vivência, experiência, memória e história. Neste ponto fica clara a necessidade da retomada da discussão pós-colonial proposta por Gayatri Spivak (2010) sobre a condição de fala do subalterno. Na leitura de Galindo (2021),
o problema central não está na capacidade do subalterno falar, de fazer poesia, teoria, propostas, mas sim a quantidade de filtros hierárquicos instalados desde a academia até o mundo editorial para silenciar o subalterno, fazendo com que esse silenciamento pareça partir de um sujeito incapaz de falar.
E se o problema central está nos filtros hierárquicos, na vida de Galindo essa hierarquia operou de forma muito violenta: ela lecionava em três cursos em universidades públicas (segundo a própria, nunca lecionaria em universidades privadas), foi expulsa dos três cursos porque sua postura enquanto professora transgredia as normas propostas pelas universidades, porque seu pensamento feminista incomodava.
Partindo da premissa de que a universidade normatiza ou expulsa a diferença, por meio do silenciamento “daquele que não sabe”, ou seja, dos estudantes, Galindo (2021) não propõe saídas individuais para a resolução desta questão:
(…) eu não acredito que essas questões possam ser resolvidas em sala de aula. Eu tentei resolver isso em sala de aula e acabei ficando de fora da universidade. Mas acredito que há elementos para trabalharmos, em primeiro, a bibliografia e a metodologia porque toda essa construção das universidades latino-americanas, que eu conheço e que são muitas, trabalham com bibliografias eurocêntricas, nas ciências sociais, humanas e em departamentos de estudos de gênero, que não me convencem de jeito nenhum, porque mesmo ali não lemos outras autoras, não discutem outras autoras, não convidam outras autoras. Respeito muito Judith Butler, por exemplo, mas ela já veio em nosso continente dez milhões de vezes porque a gente sente a obrigação de lê-la, mas não há um intercâmbio, não há, por exemplo, uma pesquisa sobre o pluralismo de gênero pré-colonial em nosso continente.
Ela observa também que assim como no Brasil, a partir dos governos populares e democráticos, o perfil da universidade na Bolívia vem se modificando. Muito mais na Bolívia do que aqui no Brasil, a universidade pública é um lugar que foi tomado pelos setores populares, incluindo as mulheres. Cinquenta e um por cento da população universitária nas universidades públicas bolivianas é composta por um contingente de mulheres, diz Galindo (2021).
Quando eu dava minhas aulas, eu entrava na sala de aula e perguntava quantas de vocês são filhas de mulheres profissionais? Nenhuma, era a resposta. Quantas são filhas de mulheres analfabetas? E tinha uma porcentagem grande. Quantas de vocês são filhas de mulheres que não chegaram ao ensino médio? Eram todas!
Então, apesar da mudança no perfil dos estudantes e das estudantes, tanto no Brasil quanto na Bolívia, ainda enfrentamos uma questão central para o avanço em termos de produção e validação do conhecimento produzido por nós. As universidades do centro do sistema, de forma extrativista compram e absorvem os conhecimentos produzidos por nós, inclusive nos movimentos sociais ou não acadêmicos de forma geral, mas não têm nenhum compromisso em devolver esse conhecimento, essa relação não é de troca. Na verdade, é uma relação de alienação daquele que produziu o conhecimento que já não se identifica como seu produtor, mas sim como consumidor do que é produzido, supostamente, fora da América Latina. Para deixar mais clara essa ideia:
Eu tenho um livro, com um pequeno capítulo sobre o pluralismo de gênero na cultura Aymara, mas ele não tem chance de disputar o mercado em igualdade de condições com quaisquer teóricas de gênero norte-americanas ou europeias. Isso tem a ver com o colonialismo no pensamento, com uma forma de pensar construída, isso não é um problema meu, só meu. Faz tempo que a gente resolveu publicar as nossas produções, nós nos vendemos, nós publicamos sem apoio institucional nenhum (Galindo, 2021).
Isso tudo não significa deixar de acreditar no poder que as universidades, enquanto instituições públicas, têm para a mudança social, como o novo perfil dos estudantes demonstra. Mas não basta ocupar fisicamente com outros corpos, é preciso um rompimento cognitivo com a colonialidade do saber, não é mais possível que todas as ideias relevantes, importantes e canônicas estejam calcadas na produção do norte global. É fundamental
(…) um movimento descolonizador da universidade, mas esse movimento não vai se dar através das professoras, por melhores que elas sejam, quem vai fazer esse movimento são as estudantes como está acontecendo na Universidade Autônoma do México. Onde por exemplo, em humanidades elas pegaram o departamento por três meses e isso foi muito importante. Como estamos estudando o corpo na medicina, estamos estudando com manuais franceses do século XX?! Esses manuais da anatomia do corpo são centrados na anatomia do corpo masculino e falam dos corpos das mulheres por analogia ou diferença e, acabou por aí! (Galindo, 2021)
Galindo diz estar convencida de que precisamos superar teorias obsoletas e garantir que o horizonte da luta pelas modificações necessárias gire em torno de três matrizes teóricas filosóficas fundamentais:
(…) os feminismos, entendidos como despatriarcalização, as propostas de descolonização e toda a matriz de descolonização e, por último, a matriz em torno dos animalismos e os ecologismos. Eu estou convencida que essas são as matrizes que vão constituir os horizontes com os quais vamos pensar o futuro. Agora, para mim, pessoalmente, eu respeito a matriz da descolonização que é uma matriz transformadora, revolucionária e imprescindível, no entanto, jamais uso a categoria decolonial, apesar de me batizarem de feminista decolonial. Não uso essa categoria porque ninguém dos meus interlocutores entende o que isso significa. Eu trabalho em um contexto sócio-histórico que preciso e busco ser compreendida. E a palavra decolonial é uma palavra acadêmica para a academia. A palavra descolonização é mais compreensível quando eu penso a partir do conhecimento popular. Também, existe um fenômeno no interior na matriz da descolonização, existe um fenômeno acadêmico, uma espécie de retorno da academia norte-americana da teoria decolonial absorvida das lutas sociais processada filosoficamente e desenvolvida de uma maneira incompreensível, isso existe e, eu repudio isso. (…) repudio a construção dessas hierarquias, dessas epistemologias que não levam em consideração que o pensamento da descolonização é um pensamento subalterno, nascido do pessoal de baixo, então é preciso que se garanta a soberania do lugar que produziu esse pensamento (Galindo, 2021).
E, por fim, ela nos ajuda a refletir sobre os feminismos, sem negociação possível com o sistema neoliberal. Observa que a América Latina desenvolveu um conjunto de discursos em torno dos direitos das mulheres e problematiza o quanto de liberal caminha junto com esta pauta.
A única coisa que estão fazendo é a constituição de um discurso pseudofeminista que funciona como legitimador de uma ordem neoliberal que pretende capturar as mulheres como amortecedoras do custo do neoliberalismo, o típico discurso que retrata essa realidade é o discurso do empoderamento. De fato, nas relações sociais o poder é um problema, o problema é o poder mas, o poder não é uma questão política que é resolvida facilmente… eu tenho uma frase muito pequena, muito simples, sincrética, que diz: perante o poder você não se empodera, você se rebela! Todas as teorias de empoderamento que pretendem colocar o poder como algo que você vai adquirir por meio de uma série de habilidades, o que estão fazendo é construindo uma ficção neoliberal de manutenção do status quo. Eu, pessoalmente, acho que é necessário abandonar o projeto de direitos das mulheres porque ele foi sequestrado pelo neoliberalismo. Abandonar os discursos de empoderamento porque se fala de empoderamento para indígenas, populações negras, trabalhadoras sexuais, mulheres, mas não se fala de empoderamento ou desempoderamento de banqueiros, da polícia ou dos juízes que julgam causas sem terem ouvido ou entendido o que estão julgando (Galindo, 2021).
O feminismo apresentado por María Galindo no webinário “Literatura e Feminismo” está carregado de críticas ao modelo capitalista, produtivista, extrativista e propõe como uma das alternativas possíveis nos aproveitarmos das nossas supostas insuficiências. A crítica ao código patriarcal machista passa, necessariamente, pela construção de outras formas de viver. O sentimento de inadequação que toma conta das mulheres, que estão sempre atrás de um modelo a ser atingido, deve nos levar a construir outras bases materiais para uma outra sociedade, nos aproveitando desse lugar de inadequação como um lugar valioso, um lugar a ser explorado, reinventado.
O que eu quero dizer é que a gente tem que construir a sociedade das fracas, das defeituosas, das gagas, das pessoas sempre dispostas a se perguntarem: o que está acontecendo comigo? Eu não estou bem (…) esse sentimento de inadequação, de se sentir fora de lugar, isso é um lugar poético, histórico e potente que não podemos abandonar! (Galindo, 2021).

Não é possível que para nos colocarmos como sujeitas de autoridade dentro dessa estrutura precisemos apresentar validadores de conhecimentos, inclusive metodológicos que só vamos atingir depois de fazermos todo o percurso acadêmico. Para Galindo, as estudantes têm o direito de quebrarem as normas (normas inclusive que não são claras e muitas vezes com as quais não somos socializadas). Completar essa observação, na esteira do pensamento de Galindo, dizendo que as professoras também devem fazer esse movimento e ambas não podemos ser repreendidas por tentar buscar formas diferentes de construir o conhecimento.
Ainda precisamos nos perguntar quem diz quais são as referências fundamentais e mais: quais assuntos são “importantes” para o mundo? A função normativa da epistemologia diz respeito não apenas à questão de como o conhecimento é produzido, mas quem é autorizado a produzir, como a presunção de credibilidade é distribuída e como os objetos de investigação são delineados. O regramento vai além: ele normatiza como e de que forma o conhecimento deve ser produzido, como a credibilidade de quem produz é construída.
Voltamos às nossas indagações permanentes, um mundo de muitas perguntas e poucas respostas. Quem valida o conhecimento e a arte produzidos nas sociedades? Por que, muitas vezes, o conhecimento produzido atende às demandas relativas a uma determinada classe social? Qual seria o objeto artístico ideal? Por que os saberes e criações produzidas pelas mulheres são considerados menos relevantes? Por que a questão de gênero coloca em xeque a produção de conhecimento? A quem interessa que o conhecimento produzido academicamente seja hermético? Por que, em pleno século XXI, as mulheres ainda enfrentam dificuldades para que suas problemáticas sejam tratadas como questões sociais e não questões marginais?
A oficina “Livres Livros”, assim como o webinário “Literatura e Feminismos”, mobilizou um conjunto de mulheres acadêmicas e ativistas para tentar dar respostas a parte dessas questões. Acredito que juntas, sem medo da discussão e com muita criatividade, estamos caminhando para um lugar de saber mais amplo do que o que vivemos até agora!
* Drica Madeira é mulher, feminista, mãe de dois filhos e uma filha. Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Literatura na UFRJ com bolsa CAPES. Mestra em Direito e autora do livro: Lei Maria da Penha: entre a teoria e a prática (2019). E-mail: madeiracoutinho@letras.ufrj.br.
Referências
ALCOFF, Linda Martín. Uma epistemologia para a próxima revolução In: Revista Sociedade e Estado – Volume 31 Número 1 Janeiro/Abril 2016.
BUARQUE DE HOLLANDA, Heloisa. Tendências e Impasse – o feminismo como crítica da cultura. Rio de Janeiro: Ed. Rocco, 1994.
BUARQUE DE HOLLANDA, Heloisa. Explosão Feminista: arte, política, cultura e universidade. 1ªed. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.
SPIVAK, Gayatri Chakravorty. Pode o subalterno falar? Belo Horizonte: Editora UFMG (2010 [1985]).
RESENDE, Beatriz (org). Mulheres nas Quebradas, 2021. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Men-Cz-w5Lg&t=90s. Acesso em: 06 de agosto de 2021.
RESENDE, Beatriz. Literatura e Feminismo: Criação, Crítica, teoria. Mulheres nas Quebradas, 2021. Disponível em: https://youtu.be/Men-Cz-w5Lg. Acesso em: 06 de agosto de 2021.
