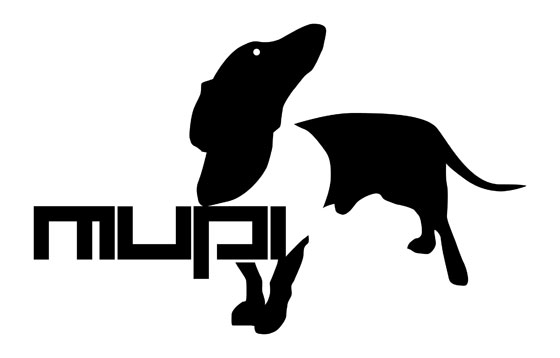Mark Twain
Durante los años noventa, a medida que la violencia política y social se acrecienta, la fragilidad del aparato estatal colombiano queda en franca evidencia. Dada la coyuntura, las huestes del sector privado —personificadas en gran parte por las filiales de las multinacionales publicitarias— reemplazan al gobierno en cuestiones de configuración identitaria nacional, imaginando grandes oportunidades de persuasión y orientación comercial para el público consumidor. Su motivación es la de siempre, por lo menos dentro del sector privado: una llana obsesión por la buena imagen, amparada en la consabida noción de beneficiarse de una identificación ajena (en este caso, el interés nacional). Tal fenómeno es propio de nuestro tiempo, marcado por la globalización, y contrasta de manera preponderante con las políticas identitarias de los regímenes nacionalistas latinoamericanos de a mediados del siglo XX, que tendían a ampararse en las interpelaciones del sector público. Un buen ejemplo de dicha práctica son las pautas publicitarias patentes en Semana y Cambio, dos de los principales semanarios de Colombia, modelados de manera casi literal en equivalentes estadinenses como Time o Newsweek. Si bien ambas revistas han existido en manos de selectas familias de la sociedad colombiana (en el caso de Semana, aún permanece en manos de los López Caballero, a diferencia de Cambio, la cual, dada la reciente adquisición del Grupo Editorial El Tiempo por parte del Grupo Planeta, ha cambiado de propietarios),Cambio ostenta el mérito de haber sido fundada por Gabriel García Márquez con el fin de aportar una voz independiente, menos orientada hacia los intereses de los cuatro principales grupos económicos del país —el Grupo Aval, la Organización Ardila Lülle, el Grupo Santo Domingo y el Grupo Empresarial Antioqueño—, dentro del marco del periodismo nacional. Una vez contemplada esta atenuante, mi argumentación es escueta: en la pauta publicitaria de ambas revistas, de comienzos de los años noventa en adelante, es factible visualizar un proceso altamente estructurado de configuración identitaria, según el cual toda una generación ha desarrollado sentimientos de filiación hacia un Estado disfuncional, gracias a la efectiva mediación del sector privado.
Para contextualizar dicha aseveración, conviene repasar un poco de historia publicitaria. Pese a que la primera agencia publicitaria colombiana data de 1930, cuando fue creada en Medellín por Alberto Mejía, es sólo hacia fines de la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 1945, que aparecen las primeras firmas extranjeras en Colombia.1 La primera en llegar fue McCann-Erickson, la cual figura hasta hoy día entre las cinco primeras agencias colombianas en materia de facturación. Tras la llegada, por espacio de casi cinco décadas, el Estado colombiano no figuró como gran prioridad de las agencias publicitarias internacionales. Sus esfuerzos se vieron orientados de manera mayoritaria hacia el pujante sector privado, envalentonado por las políticas desarrollistas de las administraciones Lleras Camargo (1958-62) y Lleras Restrepo (1966-70), que gozaban del fortuito apoyo de la norteamericana Alianza para el Progreso.
Es sólo hasta inicios de los años noventa, con la administración Gaviria (1990-94), y su implementación de políticas neoliberales y la correspondiente privatización de la economía, que el sector publicitario se dispara en términos de ventas e ingreso. Desde 1990, el primer año de la presidencia del economista César Gaviria Trujillo, futuro Secretario General de la Organización de Estados Americanos (1994-2004), hasta 1994, su período final, la facturación total de las diez principales agencias publicitarias colombianas creció de casi dieciocho millones de dólares (17,986K) a cincuenta y cuatro millones de dólares (54, 037K). En otras palabras, se triplicó, evidenciando un crecimiento de doscientos por ciento en facturación.2 En aquella época, los diez primeros puestos del mercado eran compartidos, de manera empecinada, por las filiales locales de McCann-Erickson, Leo Burnett, J. Walter Thompson (JWT), BBDO (Propaganda Sancho o Atenas/BBDO), Foote Cone & Belding, Young & Rubicam, DDB Needham (Propaganda Toro o Michel Arnau), y Ogilvy & Mather, todas reconocidas multinacionales de la industria publicitaria internacional. El crecimiento posterior a lo largo de los años noventa, dadas las vicisitudes de la administración Samper (1994-1998) y el aparatoso manejo de la economía durante los años de Andrés Pastrana (1998-2002), no rayó en lo fenomenal. Lo que sí se intensificó, en un frenesí de optimización de recursos, fue el número de alianzas y fusiones dentro del sector publicitario colombiano. Pese a todo, hacia 1996, la industria publicitaria colombiana representaba un mercado de sesenta millones de dólares, con McCann-Erickson a menudo a la cabeza, con ventas de cerca de quince millones de dólares. Tal dinámica, según la cual una agencia publicitaria podía incrementar su facturación en cuestión de seis años a una cifra equivalente a la previa totalidad del mercado, dio lugar a un replanteamiento del posicionamiento colombiano dentro de los planes de las empresas líderes del medio.
También vale la pena contemplar lo siguiente: si en Colombia los noventa fueron años de bonanza y dinamismo para el sector publicitario, jalonados por la integración de la economía al mercado mundial, en la comunidad internacional se dio un proceso análogo. Según consta en una crónica reciente del semanario estadinense The New Yorker, en cuestión de escasos años, las principales agencias publicitarias de los EE.UU., patronas de la Avenida Madison, pasaron a convertirse en piezas de colección para cinco grandes empresas de mercadeo de origen francés y estadinense —WPP (JWT y O&M), Omnicom (BBDO y DDB), Interpublic (FCB y McCann-Erickson), Havas (RSCG y MPG), y Publicis (Leo Burnett)—, dedicadas al suministro de una variedad de servicios más allá de la mera publicidad, tales como el manejo integral de las relaciones públicas, el diseño y planeación de eventos, etc.3 Ogilvy & Mather, por ejemplo, fue adquirida por WPP (Wire & Plastic Products); BBDO, por Omnicom. De manera que, si bien en Colombia se daba —por múltiples razones— un acelerado proceso de trueques en materia de imagen corporativa, dicha mecánica remedaba, hasta cierto punto y en mucha menor escala, lo que se venía dando a nivel internacional dentro del mismo sector.
1984, fecha que, pese a adelantarse un poco a nuestra etapa de análisis, cabe dentro del mismo marco, señala la aparición de quizás la primera campaña exitosa de corte abiertamente nacionalista en la historia de la publicidad colombiana: la del Banco de Occidente de Cali, propiedad del Grupo Aval, dirigido por el empresario Luis Carlos Sarmiento Ángulo. El logro de tal campaña se debió a una conjunción de estrellas: los vientos de la época, gestados por el gobierno de Belisario Betancur Cuartas (1982-86), el primer presidente colombiano de orientación explícitamente nacionalista luego de la aciaga Violencia de los años cincuenta —con respecto al ademán presidencial, así se tratara de un acto de gesticulación, habría que recordar: en el mundo de la publicidad, la percepción se torna en realidad—, y al interés de los colombianos por identificar retóricas con soluciones fáciles para la compleja problemática nacional. Mientras Betancur se afanaba en proclamar “su orgullo de ser colombiano”, popularizando una de sus melodías favoritas, de corte campesino, su administración se doblegaba ante los embates de las Fuerzas Armadas durante la toma del Palacio de Justicia por parte del movimiento guerrillero M-19. Por consiguiente, pese al oportunismo anímico de sus mensajes, el gobierno no alcanzó a implementar políticas nacionalistas de manera efectiva. De cualquier forma, la campaña publicitaria del Banco de Occidente favorecía el eslogan “Creer en lo nuestro” y esgrimía un logotipo bastante semejante al de la American Heart Association, de frecuente aparición en las tapas de muchos empaques de cereales en los EE.UU.: un radiante corazón rojo, adornado, en el caso colombiano, con los colores del pabellón nacional. En términos de mercadeo, la campaña planteó un éxito formidable, dado que realzó la presencia del Banco e incrementó su índice de reconomiento; hasta mereció un Chigüiro de Oro, un galardón otorgado por el gremio publicitario nacional.4 La encrucijada de los años posteriores, con un Estado sitiado por la fuerzas del narcotráfico, también contribuyó al afianzamiento de una retórica nacionalista, posteriormente avivada por los desatinos de la guerrilla y los movimientos paramilitares a lo largo de los años noventa, de manera que al gobierno colombiano no le hizo falta, como a otros estamentos del mundo, imaginarse enemigos a diestra y siniestra que validaran una retórica miope en materia de distinción entre Estado y nación.
Pero regresemos al tema. El excelente rendimiento de firmas como McCann-Erickson a la cabeza del sector publicitario nacional se debe en gran parte a campañas como la del Banco de Occidente. En su nueva versión, manifiesta en las páginas de Semana y Cambio a inicios del nuevo milenio, el equipo creativo de McCann-Erickson, encabezado por Camilo Pradilla, Reini Farías, Germán Zúñiga, Inés Lugo y Lorena Ojeda, ha remozado el eslogan, ampliándolo a “Cuando crees en ti, crees en lo nuestro”, y rediseñado el logotipo, aportándole mayor vistosidad. La reaparición de la campaña es, sin lugar a dudas, un síntoma de los tiempos en Colombia, en la que a la presente administración, la del abogado Álvaro Uribe Vélez, se le ha imputado el patrocinio de una política de corte rábidamente nacionalista. Uribe, desde su postura en los afiches de campaña hasta las pulseras ideadas por sus hijos —un certero golpe comercial, a juzgar por su omnipresencia en las muñecas de los colombianos— profesa una marcada predilección por lo nacional, aumentada quizás por su ancestría antioqueña, allegada a la de Betancur Cuartas. Es viable una analogía entre ambos presidentes; si bien no en materia de estilos de elocución, sí en el hecho de que ambos fundamenten su identidad en la humildad del arriero antioqueño, el diligente campesino de la zona cafetera, y se jacten de honrar el espíritu de trabajo de su región. De ahí que existan similitudes en su manera de concebir y entender la colombianidad. De cierta manera, me aventuro a sugerir, Antioquia es a Colombia lo que Texas es a los EE.UU.: una gran provincia, de larga tradición histórica en asuntos de configuración nacional, un férreo actuar de la identidad e inaprensibles aires de autosuficiencia. De forma que, si bien el gobierno de Uribe le ha dado un manejo más concienzudo a la economía e incluso patrocinado la venta de algunas de las joyas de la industria colombiana, como lo son el paso de SOFASA, la ex ensambladora del Grupo Santo Domingo, a manos de las casas automotrices Renault y Toyota, o la venta de la otrora aerolínea nacional, Avianca, a un inversionista brasileño, el tono de su retórica ciertamente ha marcado una pauta en el florecimiento de un orgullo nacional. Las imágenes acompañantes a este texto reiteran cómo su campaña política toma claves del falangismo y hasta de la revolución cultural china, combinando de manera habilidosa estéticas de derecha e izquierda con el fin de promover una ferviente conmemoración de la identidad nacional.
A lo largo del siglo XX, a diferencia de México, Brasil, Argentina o incluso Chile —en la persona del malogrado Salvador Allende— Colombia jamás experimentó un régimen de fuerte corte nacionalista, una administración que, a la manera de Cárdenas, Vargas o Perón, promulgara una fuerte identificación con el Estado, fortaleciendo el papel gubernamental y afianzándose en la potestad identitaria de la nación. La demagogia o el populismo de conservadores y liberales —fuera el patriarca Laureano Gómez y sus camisas pardas, à la Mussolini, o los afanes de rebeldía juvenil del Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) de Alfonso López Michelsen— difícilmente pueden ser tildados de nacionalistas. En este sentido, Betancur y Uribe sirven de ejemplos incipientes. Sin embargo, entre mi generación y la actual hay una gran diferencia. Mientras yo nací y crecí en una Colombia en la que la insuficiencia del Estado era una ausencia tangible, amén del oxímoron, y en la que nadie se afanaba por los devaneos capitalinos, emergentes de un asentamiento frío e inhóspito cobijado por las cumbres andinas, muy a lo Cien años de soledad, la juventud de hoy se jacta de ser colombiana hasta la médula (y hasta el clima político y cultural ha cambiado). Al parecer, su entendimiento sistematizado de la colombianidad no se asemeja al acto de fe borgesiano.5 Ni siquiera contempla, en la mayoría de los casos, las diferencias palpables en materia de raza, clase o género, patentes a todo lo largo del territorio nacional. Sustenta, en su lugar, un quijotesco mecanismo de defensa, según el cual no es bien visto no enorgullecerse de cosas “colombianas”, sin distinción alguna entre los intereses de la cultura oficial y los de versiones identitarias alternas. Según esta vertiente, la crítica es inadmisible; es cuestión, según reza en la prensa a veces, de pontificar desde el exterior. En otras palabras, se promulga la miopía que confunde el amor a la nación con la filiación estatal, calibres dispares en buena parte del país. Para mí, esta mentalidad tiene mucho que ver con el sector privado, el cual, en complicidad con la industria publicitaria, se ha encargado de construir colombianidades fundamentadas en intereses mezquinos, diagramando convenientes nexos entre matrices identitarias nacionales y cierta producción comercial. Semejante proceso ha engendrado una contradicción: el auge de una devoción nacional en un entorno afamado por la ineptitud de su andamiaje estatal. Dicha directriz, amparada en un contexto histórico carente de memoria y la divulgación de la percepción del nacionalismo como algo positivo, digno de ser celebrado de manera acrítica, puede conllevar desenvolvimientos graves. Valga la pena recordar a Gonzalo Mallarino, uno de los auténticos precursores del medio, quien, al evocar su paso por la publicidad colombiana de los años sesenta, añora “la afirmación nacionalista, en el mejor sentido de esa palabra.”6
Dicho esto, conviene sugerirle un orden a esta práctica cultural, pues no se trata ni más ni menos que de esto: un rito fraterno y comunitario, con un marcado sesgo inhibitorio de iniciativas discrepantes. Cabe anotar, por demás, que el aprovechamiento del tricolor por parte del sector privado, pese a su ingeniosidad, no se destaca por sondear una expansión identitaria más allá de los límites dictaminados por el Estado. Aquí no se trata, lo reitero, de quienes adoptan la bandera con una tónica incluyente, expansiva, con el fin de ratificar su presencia ante un orden autista e inoperante. En este sentido, la diagramación publicitaria colombiana es un legítimo e intencional fracaso. Por lo general, su delineamiento de la colombianidad se caracteriza por acentuar la filiación sin conducir a nuevas expectativas, de manera que el papel ciudadano se circunscriba a lo sustentado por la oficialidad.
El nacionalismo publicitario colombiano, pese a beneficiar a muchas partes —todas comprometidas en el prolongamiento de una fragmentación social extrema, pues en Colombia no se acostumbra a hablar de clases sociales, sino de estratos numéricos (del 1 al 6)—, puede categorizarse en tres grandes grupos. Primero viene la apropiación de los colores patrios por parte de los cuatro principales conglomerados económicos, los cuales publicitan sus productos y marcas intentando forjar un vínculo entre su consumo y el accionar nacional. Su patrocinio de una estética nacionalista es el más divulgado y conspicuo, dado que poseen el arbitrio comercial, al igual que los contactos sociales y políticos, para concretar una mayor presencia. El Grupo Aval, con ambas versiones de la campaña de BanOccidente, ha sacado buen provecho del asunto. A su vez, la organización Ardila Lülle ha pulido la imagen de Postobón, su industria manufacturadora de bebidas, y Radio Cadena Nacional (RCN), su red de medios de comunicación, con el tricolor patrio. Ahora bien, el Grupo Santo Domingo, pese ha haber concretado el mayor negocio de los últimos años, la venta billonaria de su conglomerado cervecero a la sudafricana SABMiller, había logrado con antelación, mediante su sostenido patrocinio de la selección nacional de fútbol, la sinonimia entre su marca de cerveza Águila y el pabellón nacional. Valga la pena aclarar que, en estos últimos casos, las cuentas publicitarias corrieron a manos de la multinacional BBDO, tan habilidosa en el manejo de diagramaciones transnacionales. Para Águila, si bien los anuncios de Semana y Cambio son impactantes, una visita al servidor corporativo es aún más esclarecedora, pues la portada de bienvenida exhibe la imagen de hinchas futbolísticos desplegando una bandera. De idéntica manera, SOFASA, antigua presea de Santo Domingo, preocupada por las consecuencias comerciales del cambio de dueños, se apresuró a reiterar su compromiso con la economía automotriz maquillándose de amarillo, azul y rojo. Finalmente, el Grupo Empresarial Antioqueño (también conocido como Sindicato Antioqueño), con el fin de no quedarse a la zaga, tomó prestada y rehabilitó la cara sonriente de la estadinense Wal-Mart con el objeto de inyectarle positivismo a Suramericana, su división financiera. Encima de eso, el desarrollo de la imagen corporativa del banco del Grupo, Bancolombia, uno de las entidades bancarias más grandes de Latinoamérica, se ha fundamentado, tal y como sugiere su nombre, en una afinidad sensorial con el tricolor patrio, con el fin de contrarrestar los alardes patrioteros del Grupo Aval.
El segundo grupo involucrado en la diseminación y celebración de una perspectiva nacionalista mediante sus productos es, de manera bastante predecible, el de las multinacionales que, dado su origen extranjero, necesitan fomentar lazos afectivos con los mercados de sus respectivas filiales. La Coca-Cola, cuya cuenta es administrada por Ogilvy & Mather (WPP) a nivel mundial, ha seguido los pasos de Santo Domingo, confiando en el nexo entre el fútbol y la psique nacional. Empresas como Whirlpool, Nestlé y Siemens, más fincadas en facetas de la rutina diaria, han construido su presencia como síntoma del compromiso colombiano con la calidad de sus productos, en el caso de la marca de electrodomésticos, y de la internacionalización del país, en el caso de las firmas europeas. Mientras la primera se encarga de mantener la bandera en buen estado, mostrándola entre las prendas recién lavadas por una máquina, las otras adoptan el tricolor para decorar su logotipo o un trompo alusivo a las vueltas que da el mundo. También se dan respuestas estratégicas, como la de desaparecida BellSouth (luego adquirida por la tejana AT&T), tomando ejemplo de su accionar en el mercado estadinense, en donde se postulaba afianzada en el orgullo regional emergente de la sureñidad, y replicando el mismo esquema en Colombia, celebrando expresiones culturales enfatizadoras de los aires de provincia, como el carnaval de Barranquilla, delatando la escasa diferencia, a la hora de hacer cuentas, entre la manipulación regionalista y nacionalista. A su vez, la cooperativa suiza KPMG llegó al extremo de copiar el tricolor croquis colombiano de una vieja campaña de la RCN con el fin de promover un mensaje colombianista. Hasta la campaña comercializadora del whisky Old Parr, bebida en alta estima en círculos corporativos colombianos, se empeña en adornarse a punta de colores, a lo Pollock. Éstas son compañías que, dado el manejo de sus cuentas publicitarias a nivel internacional —a McCann-Erickson, por ejemplo, le compete la cuenta de la General Motors, cosa que, en el caso colombiano, se remite al manejo de la imagen de la ensambladora Colmotores—, están acostumbradas a vestirse, en diferentes grados, con los colores de los países en donde albergan sedes. Para ellas, los alcances del nacionalismo son irrebatibles y, por consiguiente, se toman el trabajo de aprovechar sus ventajas a conciencia.
Acto seguido, hay un gran número de empresas de rubros menores, más particularizados, que componen un buen porcentaje de la pauta publicitaria de publicaciones de la talla de Semana o Cambio. Sus intereses son variados, divergentes, mas se animan a emular lo planteado por los grandes protagonistas del mercado publicitario, con el propósito de beneficiarse, así sea de manera tangencial, a la hora de explotar la filiación nacional. Los consorcios de comunicación, como OLA y UNE (de origen colombiano), o Comcel (propiedad del empresario mexicano Carlos Slim), adornan su imagen corporativa con la coloración patria, o se aprovechan del deporte y contratan a personajes como el corredor de automovilismo Juan Pablo Montoya, en la actualidad piloto del estadinense circuito NASCAR, para asegurar que el público les tilde de orgullosamente nacionales. Como ladrón que roba a ladrón tiene cien años de perdón, la cadena de almacenes Éxito, propia de la ciudad de Medellín, cuna del presidente Uribe, también se inspira, al igual que su coterránea Suramericana, en Wal-Mart, incorporando caritas sonrientes a su fórmula nacionalista. Al fin y al cabo, entre Éxito y la cadena estadinense hay fuertes semejanzas, dada la conformidad de intereses comerciales. A la hora de contratar quien les sirva de imagen, prefieren a figuras inspiradoras de la simpatía de la población, como la ex reina de belleza Paola Turbay (y hoy en día figura de la televisión norteamericana), maniobra muy diciente del entendimiento de género de los empresarios medellinenses. Aparte de eso, empresas de gran visibilidad comercial, como Corferias, administradora del recinto de ferias y convenciones de la capital colombiana, y la cadena de hoteles Estelar, no escatiman esfuerzos en identificarse con lo nacional, mediante mapas con bloques tricolores y el empleo de la bandera como imagen de fondo de sus pautas publicitarias. Iniciativas informáticas como Conexión Colombia, destinadas a la comunidad colombiana en el exilio (cerca de cuatro y medio millones, según fuentes oficiales) —en las que las revistas se convierten en puentes de afecto, independiente de la calidad de su propuesta comunicativa— y financiadas con el apoyo de empresas como El Tiempo (vinculada a la familia del vicepresidente Santos), también se valen del anhelo nacionalista, apelando a la nostalgia y al deseo de hacer algo en función del país; lo digital, en esta ocasión, viene decorado de tricolor.7 Marcas de presencia acostumbrada en el mercado nacional, como la textilera Punto Blanco, de larguísima tradición en el guardarropa de los colombianos, fungen de porristas a punta de cortejos campestres, sugiriendo la silueta de un grano de café. Hasta empresas como la textilera Fabricato y la tabacalera ProTabaco, medio recatadas en materia de imagen, favorecen el coqueteo tricolor, aprovechándolo para maquillar cotorras y apoyar el consumo de marcas de cigarrillo. La Federación Nacional de Cafeteros, quizás el más vistoso ejemplo de producción nacional, opta, dentro de Colombia, por vestirse con colores discretos, a diferencia del exterior, en donde ha pecado de extremista: en los EE.UU., el tricolor brilla por su omisión en las pautas publicitarias cafeteras o en la estética de sus tiendas, con el fin de contrarrestar potenciales rechazos; en Europa, se plasmó por doquier, a la usanza del logotipo de su interfecta escuadra en los circuitos ciclísticos. Haciendo gala de su fama de concienzuda manejadora de la imagen, Fedecafé hasta aprovecha la obra de García Márquez, bautizando sus productos con el nombre de la dinastía macondiana.
En su afán por convencer, la disposición de la pauta nacionalista a veces se agrava, pecando de esencialismo. Arturo Calle, una casa de moda masculina de renombrada fama en el mercado nacional, patrocina el nacionalismo de manera visceral, casi fundamentalista. Según reza la pauta de esta cadena de tiendas, para apoyar al país hay que vestirse con prendas nacionales, pues la identidad se transforma en asunto de compartir una misma “marca de nacimiento” —una apología del biodeterminismo—, o en formulación de “la razón perfecta” para laborar de manera infatigable —pero nunca cosechar, podrían añadir algunos. Las imágenes de su campaña muestran a un bebé recién nacido con la consabida pulsera tricolor, tan popular entre las nuevas generaciones, independiente de su grado de asimilación crítica en el apoyo implícito del dogmatismo gubernamental, y una corbata de coloración patria, enmarcada por un sombrío fondo negro, sugiriendo un grado sucinto de absolutismo. En ambos casos, se alude a un lazo afectivo de manera casi instintiva, enfatizando ciertas características y experiencias —la indelibilidad de la nacionalidad y el afán de superación— como indicios seguros de la identidad colombiana. En suma, es una interpretación identitaria reductiva, que pretende homogeneizar sin problematizar diferencias: para que la población se supere, hace falta lidiar primero con la desigualdad social. Campañas como las de Arturo Calle apelan a quienes esgrimen y apoyan construcciones reductivas del accionar identitario y no contemplan un proceso dinámico, flexible y tolerante, resultante de la constante negociación entre las partes involucradas. Por otro lado, Coopservir, entidad emparentada a la cadena farmacéutica Drogas La Rebaja, empresa a su vez vinculada a los intereses comerciales del narcotráfico, opta por ondear la bandera con aires de suficiencia, sin escatimar los alcances legales de un maniobrar nacionalista. Los anuncios de un gremio particularmente próspero en Colombia, el de las empresas de seguros, con la corredora DeLima Marsh a la cabeza, también siguen esta línea: apelan al sentir nacional haciendo caso omiso de que la coyuntura del país confiera a sus servicios algo de invulnerabilidad e imprescindibilidad comercial. En medio de la inseguridad, ¿qué opción queda sino asegurarse? Trátese de flores, granos de café, textiles o meramente de ingenio manual, DeLima no duda en arroparse con la bandera. Por último, empresas de encurtidos de longeva tradición en el mercado colombiano, como Rica Rondo, se valen del entusiasmo deportivo y producen imágenes alusivas a la campaña de UNE, con el rostro de un niño maquillado con colores patrios. Queda comprobado entonces: en manos de las agencias publicitarias, el nacionalismo insustancial, carente de una fórmula realzadora de la potestad identitaria más allá de la imaginación estatal, da para todo.
En general, la responsabilidad por la calidad o el contenido de la pauta publicitaria no recae sobre los semanarios. Sin embargo, su importante papel como interpeladores de la comunidad colombiana en el exilio, además de su perfil como voceros del pulso de la nación, contribuye al debate representativo. Su posicionamiento en el marco de la prensa colombiana hace que la publicidad compartida sea muy característica de cuanto consumen los lectores promedio. El exacerbamiento del sentimiento nacionalista en el extranjero, pese a ser mayúsculo, gracias al afán de nostalgia, la mala memoria y la idealización del espacio nacional, es mínimo en comparación con los efectos de semejante práctica dentro de las fronteras del país, sumidas en un colombocentrismo rampante. De vez en cuando, a los colombianos en el extranjero nos hace falta un recordatorio del carácter de nuestras vivencias en el suelo patrio. Sin embargo, la distancia y nuestra conciencia de la alteridad —si contamos con ella— suelen hacernos un favor. Las cosas son mucho menos claras dentro del país. La gente es bombardeada de manera constante y repetida por campañas comerciales que, a punta de una artera insistencia en posturas optimistas, logran una muy buena labor convenciendo a muchos que las cosas no están tan mal como parecen. Por ende, criticar la responsabilidad del sector publicitario en la difusión de un nacionalismo acrítico y empedernido nunca está de más.
Una crítica recurrente a la presente administración es la inclinación ideológica tras su retórica, allegada a juicios de derecha, por lo general acompañados o decorados con emotivos despliegues de sentir hacia la patria sufrida. Sin embargo, el gobierno colombiano dista de aprovecharse de la imaginería nacional de manera tan diestra como el sector privado. Los dictámenes de la administración Uribe podrán ser de corte nacionalista, pero su impacto, en comparación, es menor. Si existe un nacionalismo de cierta clase en auge en Colombia, es en gran parte porque, como lo testimonian clásicos del sector publicitario comoHistoria de la publicidad gráfica colombiana y Cien años de publicidad colombiana, la toma del pabellón nacional por parte de la industria publicitaria ostenta una veterana tradición como mecanismo de estrategia de ventas. En pocas palabras, la bandera vende. En Colombia, lo nacional vende muy bien, independiente de las consecuencias.8 Un breve recorrido por las páginas de estos tomos, que contienen los recuentos más detallados de la historia publicitaria colombiana, plantea un viraje en cuanto al desarrollo de una estética nacionalista hacia fines de los años ochenta. Este texto es apenas un amago de ajuste de cuentas a cuanto ha acontecido después.
En síntesis, es característico de nuestros tiempos que el manejo de la imagen nacional, asunto de interés primordialmente interno, quede en manos de creativos ligados a intereses transnacionales. Para eximirse de esta crítica, no basta con argumentar que las oficinas de las multinacionales publicitarias están repletas de creativos colombianos. Por un lado, dichos equipos siguen pautas o directrices corporativas orientadas por intereses ajenos. Por otro lado, si el nacionalismo les viene de adentro, aún más triste, pues es muy factible que lo hayan aprendido a punta del ejemplo de su propia industria. En este sentido, la publicidad se ha convertido en una práctica cultural de índole mundial, dejando la configuración de lo local en manos de lo global y viceversa. El dilema reside en cómo trazar o entender fronteras en materia de construcción identitaria. Si en el proceso de mercadear un producto, se llega a generar un sentir nacionalista, ése es un inconveniente tangencial. Ni qué hablar de las consecuencias que pueda llegar a tener sobre otros.
*Héctor D. Fernández L’Hoeste Héctor Fernández L’Hoeste (Ph.D., Stony Brook University, 1996) enseña cultura latinoamericana en la Universidad Estatal de Georgia (Georgia State University) en Atlanta. Es autor de Narrativas de representación urbana (Peter Lang, 1998) y co-editor de Rockin’ Las Americas (Pittsburgh, 2004). Sus artículos sobre medios y teoría cultural han aparecido en Hispania, Chasqui, National Identities, Objeto Visual, Revista de Estudios Colombianos y Film Quarterly, entre otras. En la actualidad adelanta la compilación de una antología crítica de la historieta latinoamericana, de próxima aparición a través de Palgrave Macmillan.
[nggallery id=3]
NOTAS
1 “Anunciar es vender.” Cambio. No. 591. 25 de octubre de 2004. pp. 34-35.
2 Tharpe, Marye. “Advertising Agencies in Columbia compiled by Marye Tharpe.” 3 de abril de 2005.http://www.bgsu.edu/departments/tcom/faculty/ha/columb.htm
3 Auletta, Ken. “The New Pitch. Do Ads Still Work?” The New Yorker. 28 de marzo de 2005. pp. 34-39.
4 Raventós, José María. “Superando lo muy bueno.” Cambio. 8-15 de noviembre de 2004. No. 593. p. 89.
5 En “Ulrika”, uno de sus relatos de El libro de arena, el autor argentino describe la colombianidad como “un acto de fe”, mofándose de manera atinada de la poca prestancia del Estado colombiano.
6 Mallarino, Gonzalo. “1940-1960.” En 1880-1980. Un siglo de publicidad gráfica colombiana. Ed. José María Raventós. Bogotá: Puma Editores, 1984. Página 190.
7 Para un recuento estadístico de la población en el extranjero, ver República de Colombia, Ministerio de Relaciones Exteriores. Política Exterior de Colombia 2002-2006. Gobernabilidad Democrática, Responsabilidad Compartida y Solidaridad. Bogota: Fondo Editorial Cancillería de San Carlos, 2004.
8 Raventós, José María. Historia de la publicidad gráfica colombiana. Bogotá, D.C.: FCB/Puma S.A., 1992 y Cien años de publicidad colombiana. Bogotá: Centro del Pensamiento Creativo, 2004.