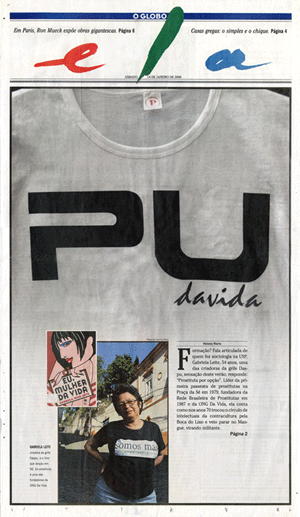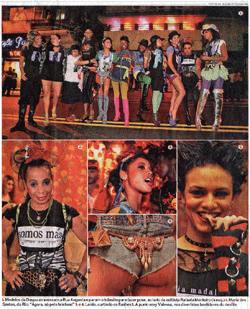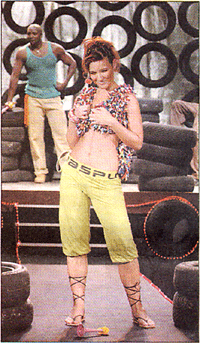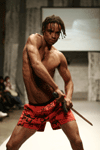Duas almas moram
no teu peito humano,
nas entranhas tuas.
Evita o insano
esforço da escolha:
precisas das duas.
Pra ser um, amigo,
deves ter contigo
conflito incessante:
um lado elevado,
bonito, elegante;
o outro, enfezado
e sujo, aos molambos.
Precisas de ambos.
Bertolt Brecht, epílogo de Santa Joana dos Matadouros 2
Este ensaio pode ser melhor entendido como parte de minha pesquisa de doutorado, Vida literária no Brasil 2.0. Em explícito diálogo com Brito Broca, pretendo fazer na tese um retrato de época, partindo do pressuposto de que a internet tem papel central na reconstrução da vida literária brasileira na virada dos 1990 para os 2000.
Se, no momento imediatamente pós-ditadura, as artes plásticas, a música e o cinema reconstituíram com vigor suas respectivas “cenas”, na literatura a produção contemporânea só se delineia mais tarde. E é em torno de blogs e comunidades que escritores começam a aparecer, para a sociedade, a universidade, o mercado e até mesmo para eles próprios, como integrantes de um conjunto de publicações, iniciativas, eventos e até atitudes que já foi chamado “nova literatura”.
No texto que se segue, aproximo Machado de Assis e Walter Benjamin para tentar demonstrar, historicamente, como a sedução da tecnologia teve grande importância para eles. E, oswaldianamente, buscar em ambos “a contribuição milionária de todos os erros” – que ilumina o presente.
Prólogo
“Seventeen copies sold, of which eleven at trade price
to free circulating libraries beyond the seas.
Getting known”
S. Beckett, Krapp’s last tape
O jovem escritor atravessa a madrugada teclando. Entre um comentário no Twitter e uma passeada por sites, constrói sua narrativa. “Escritor”, aliás, é como ele se vê, como ele quer que o vejam. E assim o veem os leitores de seu blog, um blog literário porque assim ele o batizou e onde, naquela mesma madrugada, ele postou o que acabou de escrever. Sim, pois o ato contínuo de sua escrita não é a reescrita ou a ponderação, mas a publicação. Na mesma máquina, ele escreve e publica. E ainda entra em contato com as primeiras reações de seus leitores, que comentam seu texto. Alguns só veem defeitos. E o escritor, que assim se chama por conta própria, não o esqueçamos, descobre a crítica – não a ponderação ou o “diálogo entre homens inteligentes”, mas osnark 3 , o ataque selvagem e predador. Intenso e pouco meditado como o texto com que acaba de se expor ao mundo.
O jovem escritor, aliás, acabou de postar um diagnóstico da morte definitiva da literatura. Ou melhor, destacando a superioridade dos novos meios, da web, do computador e até do celular sobre os livros. Seus argumentos são temerários e não há uma frase em que ele, utopicamente, não defenda que a literatura se espalhe pelo mundo. É o fim do copyright, a liberdade radical de acesso à informação, a literatura para quem quer e precisa – literatura que, a princípio, assim se autodenomina.
Assim, o jovem escritor ganha um público. E, lançado na rede como as velhas mensagens em garrafas, seu pensamento selvagem cai nos olhos de um editor, destes que publicam livros de papel mas não tiram o olho da internet, das revistas literárias, das publicações independentes, enfim, de todos os lugares onde possa encontrar novos talentos e frescor. Afinal, pelo menos em tese, ele vive disso. E o jovem escritor, chamado por e-mail a uma conversa, acaba assinando um contrato, destes que preveem pagamentos de royalties, resultam em livros vendidos em livrarias e resenhados nos jornais – e, é claro, também nos sites e nos blogs.
Depois de algumas críticas positivas de gente importante, algumas entrevistas e até palestras sobre seu “processo criativo”, o jovem escritor ganha um prêmio. Agora não é só mais ele, os leitores de seu blog e seu editor: praticamente todo mundo se refere a ele como “escritor”. E ele mesmo acaba tomando um susto quando, ao viajar para uma feira literária, escreve na ficha do hotel “escritor” onde deveria preencher “advogado”, já que foi essa a faculdade que acabara de terminar a duras penas.
Em uma destas feiras literárias, o jovem escritor é perguntado sobre a importância da web em seu trabalho. “Nenhuma”, afirma, categórico. Sua vida não deve ter mais nada a ver com o mundo dos blogs. Aliás, no blog ele só posta notícias sobre seus próprios escritos, aos quais se refere como “seu trabalho”: críticas de jornais (as amargas, não), participações em feiras, cursos livres de escrita criativa, palestras etc. A máquina de escrever, que também já funcionava como máquina de se comunicar e publicar, virou máquina de promover. Afinal, quem vai levar a sério um escritor que não tem livros e só publica nas nuvens virtuais? Já viu alguém ganhar concurso literário só com blog e clouds? Fala sério.
***
A história do jovem escritor é uma colagem das trajetórias de diversos autores da recente literatura brasileira. Dramatiza a ambivalência dos novos meios e sua importância na reconstrução da vida literária dos últimos dez anos. É marcada pela precipitação, pelos juízos mal formados, pela incompreensão dos tempos mais lentos e tradicionalmente associados ao processo de construção de um livro e, a longo prazo, de um autor.
Melhor assim, pois, ainda que precário, seu começo de carreira é uma realidade imediatamente viável, tem receptividade, não é o poço de “incomunicabilidade” e tédio que marcou os escritores que eram jovens nos anos 1980 e na primeira metade dos 1990.
Pior assim, pois sua carreira começa quase sempre meio torta, precariamente meditada, inflada pela velocidade do reconhecimento e dos brilharecos literários, os mesmos que enchiam de ambição e vaidade os jovens escritores na virada do século XIX para o XX. É o beletrista 2.0, a versão digital do fanqueiro literário retratado por Machado numa de suas Aquarelas.
O mundo tecnológico da escrita e da publicação é hoje um mundo de superposições: coexistem nele lógicas completamente distintas e muitas vezes conflitantes. Pois se a literatura pode hoje chegar por diversos caminhos e de diversas formas, sua legitimação ainda se dá nos circuitos tradicionais: publicação em revistas literárias, reconhecimento entre os pares, publicação para o público mais amplo, reconhecimento da crítica, construção de um “nome”, premiações, trânsito acadêmico etc…
Se o jovem escritor, nosso dileto personagem, começa prescindindo disso tudo, dificilmente abrirá mão de, mesmo por um atalho, trilhar a estrada principal. E assim o é, diga-se de passagem, em todo o mundo. Então, o que mudou? O tal do atalho, apenas? Eu diria que muito mais. Pois este mundo tecnológico da escrita e da publicação é marcado por uma impetuosidade histórica, que moveu escritores e intelectuais seduzidos por novas mídias ou pelo novo apelo de mídias consagradas.
Assim é com nosso jovem escritor, como assim foi com Machado de Assis e Walter Benjamin, dois autores que dramatizaram de forma exemplar esta ambiguidade do entusiasmo, força que anima arquitetos e demolidores e que perde importância e acuidade se lida apenas pelo lado triunfalista da construção ou pelo desencanto desvitalizado das ruínas. É na tensão, pois, que se faz o argumento.
1. O erro de Machado
O jornal e o livro é, justificadamente, considerado um texto “menor” de Machado de Assis. Posto em perspectiva da obra que viria, o ensaio publicado no Correio Mercantil em janeiro de 1859 tem mais valor histórico do que literário. Dá testemunho de um escritor em formação, um jovem de 19 para 20 anos tateando caminhos mais orientado por certezas do que pela suspensão delas – o que, finalmente, seria a marca de sua obra sob diversos aspectos 4 .
A aposta de Machado traz o desassombro próprio da pouca idade, como o nosso jovem escritor-blogueiro: eivado por hipérboles e grandiloquência, Machado afirma a superioridade do jornal sobre o livro, do posicionamento imediato sobre o mais longamente meditado. Este “equívoco” é, no entanto, o que mais me interessa, pois expressa o fascínio de um jovem intelectual pela técnica de reprodução mais em voga em sua época.
Não foi por capricho ou acaso que Machado escolheu para epígrafe de O jornal e o livro uma citação de Eugène Pelletan (1813-1884). O pensador francês, escritor, polemista e republicano ardente, exerceu considerável influência no Brasil com um discurso altissonante que fazia do progresso um Deus no qual deveria espelhar-se o homem em busca de uma comunhão com seu tempo. Ao apontar sua influência sobre Machado, Jean-Michel Massa não esconde a fragilidade das ideias que o fascinavam, indigestamente misturadas com “a eloqüência de Hugo”:
Homem de vastas sínteses, Pelletan abarcava de um só relance o passado, o presente o futuro. Outros dirão sobre o valor de sua visão de mundo, mas seu sincretismo generoso de idéias, em que misturava tumultuosamente todos os domínios do conhecimento, seduzira então numerosos espíritos eminentes. Machado de Assis, sensível ainda a todas as correntes, encontrou nele uma fé ardente e talvez uma resposta a algumas das questões que a si mesmo colocava. 5
A descrição de Massa corresponde ao peculiar “método” de exposição de Machado neste texto. Originalmente publicado em duas partes, o artigo evolui num galope, às vezes atabalhoado, para mostrar como a humanidade vem, através dos séculos, “em busca de um meio de propagar e perpetuar a idéia”. Das inscrições em pedra ao primeiro livro, estes meios de reprodução técnica se sucedem vertiginosamente na narrativa do atilado polemista. Trata-se quase de um épico em que escrita, arquitetura e arte convergem como patrimônio comum da humanidade.
Para que se tenha uma idéia do quanto este percurso é pontuado por saltos e conclusões precipitadas, Machado considera a arquitetura o resultado de uma progressão da comunicação primeira, nascida para “transformar em preceito, em ordem, o que eram então partos grotescos da fantasia dos povos”. Aperfeiçoando-se, a arte de construir e dar sentido a uma comunidade encontrará no livro um sucedâneo como forma de transmissão das ideias e das representações dos povos.
“O edifício, manifestando uma idéia, não passava de uma coisa local, estreita”, escreve Machado, lembrando um mundo em que os referenciais eram bem definidos, estáticos e locais. “O vivo procurava-o para ler a idéia do morto; o livro, pelo contrário, vem trazer à raça existente o pensamento da raça aniquilada” . 6
Ocorre aí, argumenta ele, uma revolução sem precedentes. Já não é mais preciso ir ao monumento para dar conta da História, pois o livro é a forma portátil para a difusão do “pensamento da raça aniquilada”. Esta passagem é o início da democratização que Machado vê se materializar plenamente no impulso que toma a imprensa. Trata-se, no seu entender, de um processo de radical democratização do conhecimento, com consequências imediatamente políticas – que, no caso de Machado, é a celebração dos ideais republicanos 7 , diretamente importados da França :
O jornal apareceu, trazendo em si o gérmen de uma revolução. Essa revolução não é só literária, é também social, é econômica, porque é um movimento da humanidade abalando todas as suas eminências, a reação do espírito humano sobre as fórmulas existentes do mundo literário, do mundo econômico e do mundo social. 8
Há aí uma aguda consciência de que a técnica promove uma ampla redefinição de referenciais na cultura. E, mais ainda, a certeza de que esta revolução tem consequências políticas imediatas – Machado vê nas transformações a potência democratizante da república como força legítima de aniquilamento da monarquia.
Indo ainda mais além, O jornal e o livro aponta ainda para a redefinição do papel social do escritor. Até então ligada às alturas da criação artística, a criação literária entra no circuito da mercadoria e o escritor é instado por Machado a se alinhar à nova ordem, deixando de lado inclusive qualquer nostalgia das musas vaporosas:
O jornal, abalando o globo, fazendo uma revolução na ordem social, tem ainda a vantagem de dar uma posição ao homem de letras; porque ele diz ao talento: “Trabalha! vive pela idéia e cumpres a lei da criação!” Seria melhor a existência parasita dos tempos passados, em que a consciência sangrava quando o talento comprava uma refeição por um soneto?
Reconhecendo, lucidamente, o exagero de seus argumentos, Machado assume uma posição tática – “se procuro demonstrar a possibilidade do aniquilamento do livro diante do jornal, é porque o jornal é uma expressão, é um sintoma de democracia” – e termina com o ponto que, talvez, seja o mais radical do texto. Vale a transcrição do argumento que desafia frontalmente a distinção que faz a identidade do escritor em sua época:
O talento sobe à tribuna comum; a indústria eleva- se à altura de instituição; e o titão popular, sacudindo por toda a parte os princípios inveterados das fórmulas governativas, talha com a espada da razão o manto dos dogmas novos. É a luz de uma aurora fecunda que se derrama pelo horizonte. Preparar a humanidade para saudar o sol que vai nascer, — eis a obra das civilizações modernas. 9
Foi este mesmo Machado, ou melhor, um outro Machado que deste nasceu para se consagrar como o grande autor de seu tempo, que respondeu com eloquente silêncio à enquete que João do Rio empreendeu em O momento literário. Publicado em 1904 o livro reuniu entrevistas com escritores sobre a importância do jornalismo para a literatura e a influência daquele sobre esta. Depois de receber o autor de Cinematógrafo “com um acesso de gentilezas, que nele escondem sempre uma pequena perturbação” 10 , Machado calou-se. “O fogo, a confiança, o futuro, o progresso” do jovem polemista deram lugar ao “tédio à controvérsia” do Conselheiro Aires.
1.1. Machado reloaded
Machado olha a tradição do ponto de vista da novidade. Ainda que respeitoso, crê pouco que os grandes edifícios e monumentos sejam suficientes para transmitir o patrimônio da civilização. A cultura das catedrais, da pedra, só vive plenamente porque tornada portátil no livro e, de forma ainda mais leve e fluida, na imprensa, o que ele entende como o mais democrático dos meios.
Não é forçado relacionar esta linha de argumentação com os discursos que hoje vemos sobre as possibilidades de democratização do patrimônio cultural a partir dos novos meios de informação. E o que vacina tal paralelo do anacronismo puro e simples é uma lógica que entendo como a “dialética do entusiasmo” e que, a meu ver, está permanentemente relacionada aos embates e intercessões entre os bens culturais da tradição, qualquer tradição, e as inovações tecnológicas, sobretudo as novas tecnologias da informação.
Se nosso jovem escritor-blogueiro estivesse plenamente engajado em causas de seu tempo – e a ausência de uma ideologia de fundo é o que o distingue talvez mais decisivamente do jovem Machado, que apesar do fervor liberal quase religioso age de acordo com um conjunto de ideias – poderia defender tranquilamente que o livro e o jornal são praticamente letra morta diante do universo da web e, por exemplo, da polêmica digitalização global dos conteúdos impressos promovida pelo Google .11
Não se trata, diferentemente do que pensava Machado, embebido da ideologia do progresso, de uma sucessão de vitórias rumo ao aperfeiçoamento da humanidade. Mas, antes, de cortes profundos e descontinuidades que refazem o jogo de forças entre um conjunto de práticas e obras e tecnologias que as desorganizam e reorganizam constantemente.
A visada de Machado sobre a tecnologia de informação de seu tempo contempla, portanto, pelo menos três rupturas fundadoras da história da cultura tal como ela se configuraria a partir do século XIX: a portabilidade dos conteúdos (com o livro atuando como um primeiro difusor da cultura até então monumentalizada, tornando-a um patrimônio comum), a criação dos veículos de massa (e a consequente profissionalização e remuneração da escrita) e, num raciocínio abertamente controverso, a possibilidade de que o receptor torne-se emissor (“o talento sobe à tribuna comum”, escreve ele).
Se quisermos, boa parte da polêmica e da indefinição provocada pela multiplicação de vozes da web passa exatamente por este tripé – devidamente turbinado pelas reinvenções de parâmetros das décadas mais recentes. A leveza da tecnologia (na multiplicação de devices, do celular ao e-reader, passando pelos computadores cada vez mais portáteis) permite uma expansão ilimitada dos veículos de difusão (dos jornais aos blogs, Twitter e toda a chamada “mídia social”) e põe em curto-circuito o tradicional vetor dos meios de comunicação (pondo em questão as noções de autoria, de legitimação da escrita e, até mesmo, de literatura).
Está precariamente delimitado um território pantanoso que, pouco mais de 60 anos mais tarde, também será trilhado de forma errante por Walter Benjamin, a quem seguiremos agora como ele fez com o homem das multidões de Poe.
2. A aposta de Benjamin
Em 1928, podia-se ler o nome de Walter Benjamin na capa de dois livros singulares lançados na Alemanha: A origem do drama barroco alemão e Rua de mão única. O primeiro, rejeitado como prova de livre-docência pelo Departamento de Estética da Universidade de Frankfurt, é uma intricada meditação teórica que vai ao fundo da cultura alemã clássica usando bússolas jamais imaginadas para aqueles caminhos; o segundo, de gênero indefinível, usa a montagem de corte surrealista para dar conta do geral e do particular, do episódico e do filosófico, da complexidade de um mundo já coalhado de informação e movido por máquinas.
Benjamin é tão alheio a toda forma imediata, que nem mesmo pensa em se confrontar com ela. Ele nem registra a impressão de qualquer forma dessa imediaticidade, nem se abandona ao pensamento abstrato dominante. O seu material próprio é o que passou: pra ele, o conhecimento nasce das ruínas,
escreveu Siegfried Kracauer numa certeira resenha dos dois livros publicada em cima do lance, em julho daquele ano. Benjamin era um desconhecido e seus textos, ainda no dizer de Kracauer, “são conjuntamente a expressão de um tipo de pensamento estranho ao desta época e que, em sua origem, é semelhante aos escritos talmúdicos e aos tratados da Idade Média” .12
O jovem autor era desde então chegado a uma síntese inusitada. Processava com desenvoltura e originalidade o idealismo e o romantismo alemães, cinema, literatura de entretenimento, traduções de Proust para o alemão, marxismo e judaísmo. Amava Kafka e o camundongo Mickey, Brecht e romance policial. Mais do que um simples gosto pelo ecletismo, Benjamin via na superposição temporalidades e referências um retrato indireto e mediado – e por isso fiel – do tempo que vivia.
Para garantir a precária sobrevivência em meio a um casamento instável, filho para criar e amores impossíveis para a administrar, trabalhou compulsivamente como jornalista e, entre 1929 e 1932, produziu, escreveu e atuou como locutor em mais de 80 programas de rádio em Berlim e Frankfurt. Numa carta a Gerschom Scholem, datada de 26 de junho de 1932, Benjamin procura explicar sua situação:
As formas literárias de expressão que meu pensamento forjou para si mesmo ao longo da última década têm sido totalmente condicionadas pelas medidas preventivas e antídotos a que tenho que recorrer para conter a desintegração que ameaça constantemente meu pensamento como resultado de tais contingências. E ainda que muitos – ou um numero considerável – de meus trabalhos tenham sido vitórias em pequena escala, eles foram ofuscados por derrotas de grandes proporções. 13
Graças a estes fracassos exemplares, Benjamin lambuzou-se das precárias vivências de seu tempo. E, impregnado por elas, produziu algumas das mais contundentes reflexões sobre as relações entre cultura e técnica, principalmente, a meu ver, por combinar sua extraordinária inteligência e originalidade com uma critica feita de dentro, na qual idealismo e pragmatismo mantêm tesa a corda dos argumentos, o perde-ganha constitutivo de uma cultura tecnológica em que construções e ruínas, arquitetos e demolidores são mais vizinhos do que pode parecer em termos ideais.
Experiência e pobreza (1933), O autor como produtor (1934) e A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica (três versões entre 1935-1939, a última delas póstuma), são os textos em que Benjamin expõe, tão didaticamente quanto possível em sua obra, o resultado destas reflexões 14. Michel Löwy refere-se a esta produção, não sem desconfiança, como “parêntese progressista” e “período experimental”. Preocupa-se em destacar que a influência soviética pode ter causado distorções no pensamento de Benjamin, sobretudo pelo tom programático de O autor como produtor, mas acerta ao calibrar a visão do filósofo: “o que ele (Benjamin) recusa apaixonada e obstinadamente é o mito mortalmente perigoso de que o desenvolvimento técnico trará por si mesmo uma melhora da condição social e da liberdade dos homens” .15
Nestes ensaios, bem como em fragmentos e textos dispersos relacionados a eles, Benjamin desenvolve alguns dos conceitos-chave de sua obra, que podem ser mapeados pelos seguintes pares dialéticos, sempre representativos de um perde-ganha impossível de ser rompido e que procuro resumir a seguir:
Civilização/Barbárie
Esta é uma das tensões fundamentais para compreender a obra de Benjamin. “Não há um documento de cultura que não, seja, ao mesmo tempo, um documento de barbárie”, afirma a sétima tese de Sobre o conceito de História, referindo-se ao mundo submetido à ideologia do progresso e à tirania da técnica. Mas este mundo é também o que possibilita uma “nova barbárie” da qual dão testemunho Brecht, Le Corbusier e Klee. Perde e ganha.
Experiência/Vivência
O mundo moderno destitui o homem de sua experiência, da tradição passada de geração em geração, entregando-o à vacuidade das vivências. Mas a vida pobre em experiência é, também, a tábula rasa para a eclosão do novo.
Autor/Produtor
Para ser transformador, subverter a ordem que o oprime em particular e ao homem em geral, o autor deve ter consciência plena dos meios de produção e trabalhar para assumir o seu controle em bases totalmente distintas da estrutura “reacionária” da lógica capitalista.
Público/Produtor
Ao formar um público, os meios de reprodução técnica criam uma massa amorfa e sem opinião, que simplesmente consome mensagens e bens. O autor que se assume como produtor vai incluir o público neste processo, eliminando a distância entre eles.
Aura/Reprodução
A aura é o acontecimento único da obra de arte, que se perde para sempre com a reprodução. Mas a reprodução engendra por sua vez uma nova magia (as condicionantes de magia e técnica são históricas, escreve ele em Pequena história da fotografia) e a fotografia, sobretudo em seu início, dá testemunho deste potencial aurático.
2.1. O progresso dos desconfiados
Se o jovem Machado de Assis via no republicanismo o horizonte de libertação do meio de comunicação privilegiado de seu tempo, o jornal, Walter Benjamin apostava no marxismo como o antídoto revolucionário para as estruturas de dominação que já enxergava no jornal, no rádio e, com espantosa lucidez, no cinema. E como o dado e insubmissão fundamental para a prática artística transformadora.
O marxismo está para O autor como produtor assim como o liberalismo para O jornal e o livro. São, cada qual a seu tempo e princípio, o horizonte político destes intelectuais. E, também, turvam os argumentos com acessos doutrinários e jargões que, na perspectiva histórica que temos hoje, podem ganhar uma escala mais justa. Machado e Benjamin acertam menos pela argumentação do que pela formulação dos problemas.
Em notas tomadas entre julho e outubro de 1934, numa temporada passada com Brecht na casa do dramaturgo em Svendborg, na Dinamarca, Benjamin assim sintetiza a tese central de O autor como produtor, que discutiu à exaustão com o amigo:
Em meu ensaio, desenvolvo a teoria de que um critério decisivo para a função revolucionária da literatura reside na medida em que os avanços técnicos levam a uma transformação das formas artísticas e, consequentemente, dos meios de produção intelectual.16
No jargão brechtiano a que recorre, Benjamin aponta, no geral, para a necessidade de uma “refuncionalização” do papel do escritor. E aqui o que menos interessa, a meu ver, é o inegável fantasma da doutrina soviética, sendo mais importante, hoje, lembrar que a “refuncionalização” é proposta por um intelectual que, como vimos, experimentou as principais formas de expressão e comunicação mobilizadas pelo capitalismo.
O texto constrói-se a partir de uma oposição do escritor rotineiro ao escritor progressista. O primeiro é escravo da diversão pura e simples e não reconhece a liberdade; o segundo é dominado pela “tendência”, a doutrina política, e pode confundi-la com a liberdade. O importante, observa Benjamin, é que “uma obra literária só pode ser correta do ponto de vista político quando for também correta do ponto de vista literário”. E este debate da “qualidade” não deve residir na oposição forma/conteúdo. Benjamin prefere situar a obra literária dentro das relações de produção de um época e não em relação a elas:
É vasto o horizonte a partir do qual temos que repensar a idéia de formas ou gêneros literários em função dos fatos técnicos de nossa situação atual, se quisermos alcançar as formas de expressão adequadas às energias literárias de nosso tempo. Nem sempre houve romances no passado, e eles não precisarão existir sempre.17
O texto dá conta de um “processo de fusão de formas literárias” diretamente relacionado com os avanços técnicos, a ponto de provocar a dissolução dos gêneros literários e, levando o raciocínio ao limite, à extinção de toda uma ideia de literatura. Um raciocínio que se ouve com nitidez neste início de século XXI nas palavras dos evangelistas de uma cultura da convergência 18 e, num nível menos analítico, nas discussões 19 sobre os novos formatos para os livros, desde o e-book até as experiências integrando texto, som e imagem nos vooks(vídeo+book).
No ponto crucial do texto, Benjamin aponta propriamente para a transformação do leitor em autor e do autor em produtor. Vale aqui a citação um pouco mais longa, em que, sem se identificar, cita um texto de sua autoria, O jornal , publicado no periódico Der Öffentliche Dienst, de Zurique, em março de 1934.
Com a assimilação indiscriminada dos fatos cresce também a assimilação indiscriminada de leitores, que se vêem instantaneamente elevados à categoria de colaboradores. Mas há um elemento dialético nesse fenômeno: o declínio da dimensão literária na imprensa burguesa revela-se a fórmula de sua renovação na imprensa soviética. Na medida em que essa dimensão ganha em extensão o que perde em profundidade, a distinção convencional entre autor e o público, que a imprensa burguesa preserva artificialmente, começa a desaparecer na imprensa soviética. Nela […] o leitor tem acesso à condição de autor […} O direito de exercer a profissão literária não mais se funda numa formação especializada, e sim numa formação politécnica”. 20
Ainda neste texto, Benjamin afirmava que “diante do fato de que a escrita ganha em fôlego o que perde em profundidade, a distinção convencional entre autor e público mantida pela imprensa […] está desaparecendo de uma forma socialmente desejável”. 21
Tal constatação é perfeitamente consonante com o raciocínio colaborativo que passou a caracterizar os meios de comunicação a partir do que o editor e guru da internet Tim O’Reilly passou a chamar, em 2005, de web 2.0., a redeparticipativa 22. Esta dimensão colaborativa desperta reações sempre apaixonadas, podendo ser balizadas pelo otimismo de um Pierre Lévy e seu conceito de “inteligência coletiva” (que afirma o poder democrático inerente ao modo de funcionamento da rede, minimizando em larga escala as implicações propriamente políticas) até o apocalipse de Andrew Keen no panfleto A cultura do amador (que prevê nada menos do que a derrocada do patrimônio cultural, do jornalismo às artes, a partir da possibilidade de acesso indiscriminado à produção de mensagens).
Permeia tal raciocínio um otimismo que não se encontra em outra parte da obra de Benjamin, sempre detalhista ao matizar argumentos e conclusões. Um otimismo propriamente revolucionário, que ganha o benefício da dúvida de ser nada mais do que uma posição tática, necessária para que se ganhe posições na discussão.
O que intriga e, finalmente, leva à reflexão que dá título a este texto é a constante, no Brasil de meados do século XIX e na Alemanha das primeiras décadas do XX, de um fascínio dos intelectuais pela tecnologia. Fascínio que, diga-se já, é consonante a momentos de importantes rupturas. Mas que apontam, desde sempre, para uma avaliação crítica ambígua.
3. A dialética do entusiasmo
Um dos princípios básicos das tecnologias da informação contemporâneas é a sua “useabilidade” ou seu estatuto “amigável”, ou seja, a possibilidade de uso imediato, sem a necessidade de conhecimento específico aprofundado. Trata-se, como se pode supor, de um considerável catalisador para que se passe da ideia à ação, do planejamento ao ato. Não é difícil prever, portanto, o impacto deste tipo de mecanismo sobre aqueles que têm na escrita seu horizonte profissional ou de criação estética.
Se, de alguma forma, realizou-se a portabilidade democratizante de Machado e a refuncionalização entre autores e produtores almejada por Benjamin, esta não foi certamente a concretização dos ideários republicano e socialista. Com seu potencial de demolição/reconstrução, a técnica não acomoda pacificamente a reflexão e, muitas vezes, a exclui do processo. Mas, ao convidar à criação, estabelece uma tensão permanente que prefiro chamar “dialética do entusiasmo”.
“A idéia do bem acompanhado do afeto se chama entusiasmo”, afirma Kant sobre um conceito que nasce embebido em ambiguidade. Alia o imponderável (“o entusiasmo não é de forma alguma digno da satisfação da razão”) a um valor moral prezado pela humanidade: “este estado da alma parece sublime a tal ponto que, geralmente, pretende-se ter certeza de que sem ele nada de importante possa se obtido” 23 . Ainda segundo o filósofo, o entusiasmo seria um afeto “do tipo corajoso”, isto é, “que nos faz tomar consciência de nossas forças nos permitindo vencer toda resistência”.
Pois é precisamente este gênero de afeto que viceja quando o homem tecnológico se vê privado de suas referências constitutivas tendo à mão a possibilidade de, a partir desta “terra arrasada”, erguer outro tipo de parâmetro. Machado comemora, com o aumento de importância da imprensa, “a reação do espírito humano sobre as fórmulas existentes do mundo literário, do mundo econômico e do mundo social”. O “novo bárbaro” de Benjamin comemora o empobrecimento da experiência, “que o impele para ir para a frente, a começar de novo, a contentar-se com pouco, a construir com pouco, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda” 24 .
Assim se anima a escrita concebida nos meios de informação e/ou veiculada através deles. A aceleração das etapas que vão da escrita à publicação e distribuição é produto direto deste “afeto corajoso”: o entusiasmo de nosso jovem escritor ignora a temporalidade da criação literária, suas relações com o passado e a possibilidade de traçar caminhos futuros. Ele “simplesmente escreve” (aspas necessárias e fundamentais).
A pluralidade de vozes que advém daí é também, e de um certo ponto de vista, cacofonia. Desigualdade brutal no resultado dos textos, pretensão e mesmo ignorância são alguns dos diagnósticos para a vida literária em circulação acelerada. Mas, como lembra Kant, há em torno destes movimentos impetuosos um halo de grandeza, a certeza subliminar de que o entusiasmo é a marca fundamental de todo empreendimento que se pretenda importante. A certeza, em suma, de que um de suas principais fraquezas é, finalmente, sua força fundamental.
Quando se perde de vista um dos pontos de vista da questão, a discussão do que chamo “vida literária 2.0” perde completamente o sentido. Se assumirmos que o entusiasmo é o pai absoluto e suficiente de toda criação, qualquer análise da literatura contemporânea se transforma em nada mais do que a crônica, triunfalista, de um momento de puro e improvável renascimento da escrita literária no Brasil dos anos 2000. Se, ao contrário, assumirmos que o entusiasmo “não é de forma alguma digno da satisfação da razão” e que, portanto, propicia o mero espontaneísmo, transformamos nossa narrativa crítica num check-list viciado do cânone e da vida literária. Um filme reprisado no qual sabemos muito bem o que acontece no fim: morremos todos, de inanição, pela falta de apetite em enfrentar a produção contemporânea em suas oscilações.
Bibliografia
ASSIS, Machado de. Obra completa em quatro volumes. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2008.
BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas – volume 1. São Paulo: Brasiliense, 1985.
_____.Obras escolhidas – volume 2. São Paulo: Brasiliense, 1985ª.
_____. Selected writings – Volume 1, 1913-1926. Cambridge: Harvard University Press, 2004.
_____. Selected writings – Volume 2, 1927-1934. Cambridge: Harvard University Press, 1999.
_____. Selected writings – Volume 3, 1933-1938. Cambridge: Harvard University Press, 2002.
_____. Selected writings – Volume 4, 1938-1940. Cambridge: Harvard University Press, 2003.
_____. Walter Benjamin. São Paulo: Ática, 1984. Col. Grandes Cientistas Sociais: 50.
BROCA, Brito. Vida literária no Brasil 1900. Rio de Janeiro: José Olympio, 2004.
DARNTON, Robert. The case for books. New York: Public Affairs, 2009.
JENKINS, Henry. Convergence culture – Where old and new media collide. New York: New York University Press, 2006.
KANT, Emmanuel. Critique de la faculté de juger. Paris: Gallimard, 1985.
KEEN, Andrew. O culto do amador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2009.
KRACAUER, Siegfried. O ornamento da massa. São Paulo: Cosac Naify, 200X.
LÖWY, Michael. Aviso de incêndio. São Paulo: Boitempo, 2005.
_____. Redenção e utopia. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
_____.Romantismo e messianismo. São Paulo: Perspectiva, 2008.
MASSA, Jean-Michel. A juventude de Machado de Assis. São Paulo: UNESP, 2009.
PRADO, Antonio Arnoni. “Brito Broca ou injustiças de um revoltado”, in: Trincheira, palco e letras. São Paulo: Cosac Naify, 2004.
RICHTER, G., Thought-images – Frankfurt School Writer’s reflections from damadged life, Stanford University Press, 2007.
RIO, João do. O momento literário. Consultado em
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=2144
* Paulo Roberto Pires é aluno do Curso de Doutorado em Ciência da Literatura (Programa de Literatura Comparada) da Faculdade de Letras da UFRJ.
1 Trabalho apresentado ao professor André Bueno no curso Historiografia e Crítica Literária, Faculdade de Letras da UFRJ no 2º semestre de 2009.
2Tradução de Leandro Konder.
3 Snark é o termo que David Denby, articulista da New Yorker, usa para designar a crítica virulenta, pessoal e precariamente fundamentada que marca o mundo dos blogs e dos comentários na internet. Sem significado preciso, “snark” faz referência a um dos seres non-sense criados por Lewis Carrol.
4 Aqui é importante lembrar o estudo de Kátia Muricy, A razão cética – Machado de Assis e as questões de seu tempo.
5 MASSA, p.190.
6 ASSIS, p.1008.
7 Nas palavras do próprio escritor: “O direito da força, o direito da autoridade bastarda consubstanciada nas individualidades dinásticas vai cair. Os reis já não têm púrpura, envolvem-se nas constituições. As constituições são os tratados de paz celebrados entre a potência popular e a potência monárquica”.
8 Idem, p. 1009.
9 Idem, p.1012.
10 RIO, p. 98.
11 Para uma discussão completa ver o texto de Robert Darnton, “O Google o futuro dos livros” in: Serrote no 1, p.23.
12 KRACAUER, p. 279.
13 BENJAMIN, 1999, p. 844.
14 Aqui os três textos serão citados na tradução de Sergio Paulo Rouanet em Obras Escolhidas – Volume 1.
15 LÖWY, Redenção e utopia, p.97.
16 BENJAMIN, 1999 p.783.
17 Idem, 1985, p. 123.
18 JENKINS, Henry. Convergence culture: where old and new media collide.
19 Neste caso é exemplar o Revisiting a publishing Manifesto – What does the future look like for publishers? (disponível em http://thedigitalist.net/?p=714) apresentado pela editora Sarah Lloyd na conferência Tools of Change in Publishing realizada em Frankfurt em outubro de 2009.
20 Idem, p. 125
21 BENJAMIN, 1999, p. 741.
22 O artigo What Is Web 2.0 – Design patterns and business models for the next generation of software está disponível emhttp://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html
23 KANT, p. 216.
24 BENJAMIN, 1985, p. 116.