Resumo: O artigo busca entender as relações entre as reformas urbanas do Rio de Janeiro e as culturas oriundas da diáspora africana no pós-abolição da escravatura. Considera que este processo está intimamente ligado ao surgimento do samba carioca e aponta para a possibilidade de o Rio de Janeiro ser entendido como uma cidade de Pequenas Áfricas, questionando a ideia de que havia uma singularidade da presença negra restrita à Praça Onze de Junho.
Palavras-chaves: reformas urbanas; Rio de Janeiro; diáspora africana
Abstract: This article investigates the relationships between the urban reforms of Rio de Janeiro and the cultures that have derived from the African Diaspora after the abolition of slavery. The present work considers this process as closely linked to the emergence of samba, indicating the possibility of Rio de Janeiro being understood as a city of small Africas and questioning the idea that there was a singularity of black presence restricted to Praça Onze de Junho.
Keywords: urban reforms; Rio de Janeiro; African diaspora
Marques Rebelo, grande cronista das coisas do Rio de Janeiro, dizia que uma cidade é feita de várias cidades. Cada uma dessas cidades, acrescento, têm seus espaços de construção de memórias e desenvolve formas peculiares de se experimentar a vida e abordar o mundo.
A cidade é também e sobretudo produtora constante de cultura, entendida aqui como um conjunto de práticas e elaborações simbólicas definidoras e dinamizadoras de modos de vida. Nesta perspectiva, cultura não é coisa naturalmente boa ou ruim. Cultura é a maneira como um grupo cria ou reelabora formas de vida e estabelece significados complexos sobre a realidade que o cerca. As maneiras de falar, vestir, comer, rezar, punir, matar, nascer, enterrar os mortos, chorar, festejar, envelhecer, dançar, não dançar, fazer música, silenciar, gritar.
Além de feitas de memórias, as cidades também se caracterizam pelos seus lugares de esquecimento, territórios do efêmero. Os lugares de memória são, ao contrário, territórios de permanência; espaços inventados pelos homens em suas geografias de ritos.
É neste horizonte feito do que há e do que já não há, tensionado por lugares de memória e lugares de esquecimento, que se inscrevem as culturas oriundas da costa africana e redefinidas na cidade do Rio de Janeiro, inicialmente a partir do recorte medonho do cativeiro.
A experiência da escravidão africana nas Américas é, a rigor, uma experiência de dispersão, fragmentação, quebra de laços associativos e morte, simbólica e literal. Ela também é, ao mesmo tempo, uma experiência de reconstrução constante de práticas de coesão, invenção de identidades, dinamização de sociabilidades e vida. A chibata que bate no lombo e a baqueta que bate no couro do tambor são as duas faces dessa moeda.
Em suma, e este é o sentido do que acima foi insinuado, as culturas africanas, aparentemente destroçadas pela fragmentação trazida pela experiência do cativeiro, se redefiniram a partir da criação, no Brasil, e mais especificamente no Rio de Janeiro, de instituições associativas (zungus, terreiros de santo, agremiações carnavalescas etc.) de invenção, construção, manutenção e dinamização de identidades comunitárias.
A problematização destes aspectos exige um mergulho na historicidade do processo de abolição da escravatura no Brasil e da transição entre a República e a Monarquia.
A cidade republicana
Os primeiros governos republicanos incriminaram as diversas manifestações da cultura popular no Rio de Janeiro — quase todas marcadamente vinculadas às áfricas que existem nas ruas cariocas. Jogar capoeira passou a ser crime pelo Código Penal de 1890 (Dias, 2001), os terreiros de macumba foram sistematicamente reprimidos e a posse de um pandeiro era suficiente para a polícia enquadrar o sambista na lei de repressão à vadiagem, conforme aconteceu com João da Baiana. Os intelectuais do período — com raras exceções — pregavam a necessidade de se promover um branqueamento da população brasileira como garantia de civilizar as nossas gentes em padrões europeus.
Quando a escravidão terminou, houve uma deliberada política de atrair imigrantes europeus para o Brasil. Não há qualquer registro de iniciativa pública que tenha pensado na integração do ex-escravo ao exercício pleno da cidadania e ao mercado formal de trabalho. A ideia era mesmo a de estimular a imigração de brancos do Velho Mundo. O modelo de abolição da escravatura no Brasil foi resumido com rara felicidade em uma única frase do samba da Mangueira de 1988: “… livre do açoite da senzala / preso na miséria da favela” (Hélio Turco e Jurandir — 100 anos de liberdade, realidade ou ilusão).
Uma das primeiras leis de estímulo à imigração no período falava que o Brasil abria as portas, sem restrições, para a chegada dos imigrantes europeus. Africanos e asiáticos, porém, só poderiam entrar com autorização do Congresso Nacional, em cotas preestabelecidas. Mais do que encontrar mão de obra, a imigração no Brasil foi estimulada como meio de branquear a população e instituir hábitos ocidentais entre os nossos (Sevcenko, 2003).
É exatamente dentro desse contexto racista e discriminatório do pós-abolição que começa a ser gerada a reação a essa política pública elitista, de recorte francamente cosmopolita: a cultura da fresta como meio de reinvenção da vida e construção de uma noção de pertencimento ao grupo e ao espaço urbano.
É também neste contexto emblemático que começa a ocupação mais sistemática dos morros do Rio de Janeiro, com a formação das favelas a partir da ocupação do Morro da Providência, estimulada, na década de 1890, pela derrubada do cortiço Cabeça de Porco e pela volta de soldados que lutaram na Guerra de Canudos. O contexto do período inicial do século XX é marcado por duas ideias que norteiam a atuação do poder público em relação à cidade e seus habitantes: civilizar, interferindo no espaço urbano e nos hábitos cotidianos; higienizar, através da assepsia proporcionada pela vacina e pela saga apostolar do Doutor Oswaldo Cruz.
O ato de civilizar era visto como uma tentativa de impor à cidade padrões urbanos e comportamentais similares às capitais europeias, especialmente Paris. Foi essa a perspectiva da reforma urbana de 1904, projetada pelo prefeito Pereira Passos e seus asseclas – o mandatário era um declarado devoto de Haussmann, o responsável pela reforma urbana da capital francesa nos tempos de Napoleão III.
A reorganização do espaço urbano teve o objetivo de consolidar a inserção do Brasil no modelo capitalista internacional, facilitar a circulação de mercadorias [inviabilizada pelas características coloniais da região central, com ruas estreitas que dificultavam a ligação com a Zona Portuária] e construir espaços simbólicos que afirmassem os valores de uma elite cosmopolita. Era o sonho da Belle Époque tropical.
Havia, porém, um obstáculo a ser removido para a concretização da Cidade Maravilhosa: os pobres que habitavam as ruas centrais da cidade e moravam em habitações coletivas, como cortiços e casas de cômodos – sobretudo os descendentes de escravos, mestiços e imigrantes portugueses.
A solução encontrada pelo poder público foi simples e impactante; começou o “bota abaixo”, com o sugestivo mote de propaganda O Rio civiliza-se. Mais de setecentas habitações coletivas foram demolidas em curto espaço de tempo.
Dentre outras intervenções urbanas, foi aberta a Avenida Central (atual Rio Branco); demolido o Largo de São Domingos, para a abertura da atual Avenida Passos; demolidas as casas paralelas aos Arcos da Lapa e ao Morro do Senado, para abrir a passagem à Avenida Mem de Sá; alargadas as ruas Sete de Setembro e da Carioca; abertas as avenidas Beira Mar e Atlântica e concluído o alargamento da Rua da Vala [atual Uruguaiana].
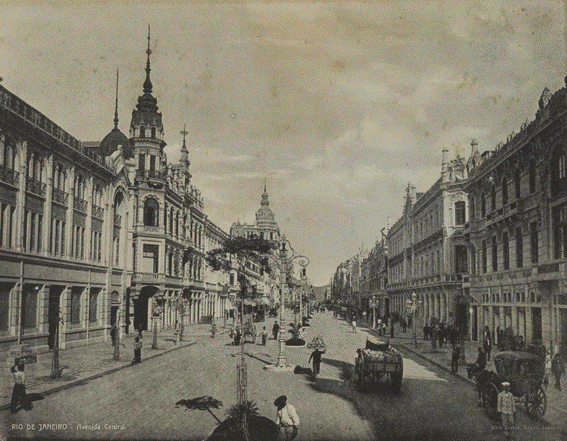
A reforma pretendia resolver uma série de problemas e contradições da cidade e gerava uma indagação: o que fazer com os homens e mulheres que os governos definiam como “elementos das classes perigosas”, habitavam as regiões centrais e eram obstáculos à concretização da Paris tropical?
A relação das elites e do poder público com os pobres era paradoxal. Os “perigosos” maculavam, do ponto de vista da ocupação e reordenação do espaço urbano, o sonho da cidade moderna e cosmopolita. Para isso, era necessário controlar, vigiar e impor padrões e regras preestabelecidas a todas as esferas da vida (Sevcenko,1986, 33). Ao mesmo tempo, falamos dos trabalhadores urbanos que sustentavam — ao realizar o trabalho braçal que as elites não cogitavam fazer — a viabilidade deste mesmo sonho: operários, empregadas domésticas, seguranças, porteiros, soldados, policiais, feirantes, jornaleiros, mecânicos, coveiros, floristas, caçadores de ratos, desentupidores de bueiros.
Como uma espécie de aparente paradoxo que escancara a complexidade da questão, os habitantes dos cortiços eram necessários, dentre outras coisas, para realizar o trabalho braçal da demolição dos cortiços.
A população pobre, ao mesmo tempo repelida e necessária, tinha duas opções: morar nos subúrbios ou ocupar os morros centrais. A vantagem da ocupação dos morros, evidente para os dois lados, era a maior proximidade dos locais de trabalho: não tão perto que possam macular a cidade restaurada e higienizada, não tão longe que obriguem as elites a realizar os serviços domésticos que, poucas décadas antes, eram tarefas das mucamas de sinhá.
A ocupação dos morros retrata, então, as contradições de uma cidade que se pretende moderna e cosmopolita e é, ao mesmo tempo, marcada pelo esteio ideológico de trezentos anos de trabalho escravo. Os séculos de cativeiro e chibata geraram uma brutal desvalorização dos serviços manuais e dos seus praticantes. Eram eles, os pobres, vistos como desprovidos de cultura. Tinham, porém, a força necessária para o trabalho pesado.
Nesta cidade marcada pela tentativa dos detentores do poder de extirpar as referências à herança africana, as diversas manifestações culturais das populações negras, exatamente aquelas que engendravam novos laços de sociabilidade e reforçavam convívios comunitários, eram sistematicamente perseguidas: a roda de samba, as festas religiosas, as maltas de capoeira, os blocos carnavalescos e batuques diversos.
A Lei de Vadiagem aprovada no Código Penal sancionado em 1890, estabelecia que o ato de vadiar passasse a ser contravenção. Foi baseado nela que o poder público reprimiu, amparado pela legalidade, rodas de samba e festas de candomblé.
Tal postura das elites brasileiras se articula a uma constatação de Frantz Fanon: o racismo herdado do colonialismo se manifesta explicitamente — e com mais furor — a partir de características físicas, mas não apenas aí. A discriminação também se estabelece a partir da inferiorização de bens simbólicos daqueles a quem o colonialismo tenta submeter: crenças, danças, comidas, visões de mundo, formas de celebrar a vida, enterrar os mortos, educar as crianças etc (Fanon, 2008).
O discurso do colonizador europeu em relação ao índio e ao africano consagrou a ideia de que estes seriam naturalmente atrasados, despossuídos de história. Apenas elementos externos a eles – a ciência, o cristianismo, a democracia representativa, a economia de mercado, a escola ocidental etc. – poderiam inseri-los naquilo que imaginamos ser a história da humanidade. É a tentativa, em suma, de impor um olhar homogêneo sobre o mundo.
É evidente que a tensão que apresentamos refletiu-se na configuração do espaço urbano carioca. A tentativa de excluir das áreas centrais e aniquilar a cultura das populações descendentes de negros escravizados, em uma cidade que se pretendia cosmopolita e cartão postal de um Brasil preparado para se inserir no processo de expansão capitalista, é das aventuras mais contundentes do processo de configuração do Rio de Janeiro e até hoje ressoa nas nossas ruas, como memória ou como esquecimento que grita exatamente pela ausência.
Um dos redutos negros mais contundentes, ampliado exatamente neste contexto, é aquele que se estendeu entre a Praça Onze de Junho e as proximidades da atual Praça Mauá, na Zona Portuária. Inspirado por uma declaração de Heitor dos Prazeres, que afirmou ser a Praça Onze, no início do século XX, uma África em miniatura, Roberto Moura cunhou para a região o epíteto de “Pequena África” (Moura, 1983).
A Praça Onze era um retângulo entre as ruas Visconde de Itaúna e Senador Euzébio, fechado pelas ruas de Santana e Marquês de Pombal (Lopes e Simas, 2015, p. 225). Por ela desfilavam ranchos e escolas de samba e ocorriam encontros entre comunidades negras do Rio, para confraternizações e também para confrontos em torno das rodas de pernada e batucada. A demolição da Praça Onze, a partir da década de 1940, é a destruição de um dos lugares mais significativos da história das culturas negras no Rio de Janeiro e mais um emblema deste conflito que estamos sugerindo.
Foi na Praça Onze, por exemplo, que morou Aciata de Oxum, a Tia Ciata, yakekerê (mãe pequena) da casa de candomblé de João Alabá, situada na Rua Barão de São Felix, e uma das personagens mais emblemáticas da cidade negra carioca. As tias eram, de modo geral, baianas que exerciam no Rio de Janeiro o papel de lideranças comunitárias legitimadas pelo exercício do sacerdócio religioso. Elas criaram redes de proteção social fundamentais para a comunidade negra. Além de Ciata, nomes como os de Tia Prisciliana (mãe de João da Baiana), Tia Amélia (mãe de Donga), Tia Veridiana e Tia Mônica (mãe de Carmem da Xibuca e de Pendengo) fazem parte deste universo.
Outras Pequenas Áfricas cariocas
A ideia de uma Praça Onze como uma África encravada em um Rio de Janeiro tensionado pelo sonho cosmopolita de suas elites é consagrada não só no imaginário popular como também na produção literária e historiográfica sobre a cidade. A alcunha de “berço do samba”, tantas vezes usada para se referir ao local, é exemplar disso.
Não obstante o indiscutível relevo e centralidade da Praça Onze neste processo, o estudo mais sistemático sobre a cidade e o samba urbano mostra ser mais coerente se falar de um Rio de Janeiro de pequenas áfricas. A cristalização da ideia de uma África encravada no coração da cidade ganhou contornos quase mitológicos, ainda que fundamentados em referências orais e escritas que atestem a importância da região.
A despeito disso, devemos lembrar que as reconfigurações urbanas da cidade foram expandindo o Rio de Janeiro cada vez mais para a Zona Norte, para o subúrbio e para o alto dos morros. Comunidades negras acabaram tendo papeis de absoluta relevância no processo de ocupação dessas regiões. Um caso emblemático e exemplar, que abordaremos mais detalhadamente por ser emblemático desta ideia de tantas Áfricas que se espraiam pelo Rio, é o do bairro de Oswaldo Cruz.
Para se falar de Oswaldo Cruz, convém começar pela Freguesia de Irajá. Ela foi criada no século XVII, a partir da divisão de uma sesmaria no Vale de Inhaúma e com o tempo se transformou em uma das principais zonas de abastecimento da cidade do Rio de Janeiro, produzindo frutas tropicais, aguardente de cana, hortaliças e produtos para construção — telhas e tijolos — saídos de suas olarias. O abastecimento da cidade era feito por um pequeno porto situado na foz do Rio Irajá, de onde as embarcações desciam até o canal do Rio Meriti, e seguiam por outros pequenos canais que desaguavam na Baía da Guanabara (Simas, 2012, p. 27).
A crise do trabalho escravo desarticulou a economia agrária e marcou o declínio econômico de toda a região. A partir deste contexto, as grandes propriedades do Campo de Irajá foram loteadas e ocupadas, sobretudo, por ex-escravos e homens pobres, oriundos do Vale do Paraíba.
Com as reformas urbanas do início da República, notadamente a citada reforma de Pereira Passos, aumenta vertiginosamente a ocupação dos morros das regiões mais próximas ao centro — especialmente no Estácio, na Tijuca, na Saúde e em Vila Isabel — e também de alguns logradouros do subúrbio.
Uma das propriedades mais famosas da região de Irajá era a Fazenda do Campinho, pertencente ao Capitão Francisco Ignácio do Canto e arrendada em meados do século XIX pelo boiadeiro Lourenço Madureira. Do loteamento dessa fazenda surgiram os bairros de Campinho e Madureira. Ambos assistiram a um aumento exponencial no número de moradores nas primeiras décadas do século XX. Oswaldo Cruz, bem perto de Madureira, surgiu a partir do loteamento de terras que pertenceram ao português Miguel Gonçalves Portela, na região do vale do Rio das Pedras, concentrando grande parte do rebanho bovino da cidade.
Entre a segunda metade do século XIX (tempos da Monarquia) e as primeiras décadas do século XX, ocorre a extensão da linha ferroviária da Estrada de Ferro Central do Brasil — que até a Proclamação da República, em 1889, se chamava Estrada de Ferro Dom Pedro II — ao subúrbio. A estação de trens integra cada vez mais Oswaldo Cruz aos bairros vizinhos, com economias mais fortes, e ao próprio Centro, que se manteve como local de trabalho da maior parte da população economicamente ativa da cidade (Simas, 2012, p. 29).
Os poucos relatos existentes sobre Oswaldo Cruz nesta época descrevem uma região essencialmente rural. Não havia água encanada, luz elétrica e calçamento. As ruas eram cortadas por valões que dificultavam a passagem dos habitantes, obrigados a se locomover a pé ou a cavalo. O comércio era feito entre vários currais e se resumia a alguns armazéns e bares que, vez por outra, tinham que expulsar bois e vacas que adentravam os estabelecimentos.
Nesse bairro sem maiores atrativos, quase sem opções de lazer e um verdadeiro contraponto de um centro da cidade que se embelezava em padrões europeus, a comunidade de Oswaldo Cruz se integrava. Organizando festas e construindo sociabilidades em torno das macumbas de origem afro-brasileiras, da nascente umbanda, dos batuques dos sambas e das rodas de dança do jongo e do caxambu, danças oriundas dos negros bantos Vale do Paraíba, os moradores construíam laços de pertencimento e identidade.
Dentre os festeiros mais conhecidos de Oswaldo Cruz se destacavam Napoleão José do Nascimento, conhecido como Seu Napoleão — pai de Natal, personagem marcante da história da Portela, do jogo do bicho e de todo o subúrbio carioca — e as yalorixás (mães de santo) Dona Martinha e Dona Neném. Ali perto, em Quintino Bocaiúva, batia seus tambores outro terreiro famoso entre a comunidade de descendentes de africanos, o de Madalena Rica, mais conhecida como Mãe Madalena do Xangô de Ouro. As giras de macumba geralmente abriam caminho para as rodas de samba e os sambas de roda.
O citado Seu Napoleão tinha uma irmã, Dona Benedita, que morava na Rua Maia Lacerda, no Estácio de Sá, e era amiga dos compositores que, naquele momento, inventavam um novo tipo de samba, mais adequado ao desfile em cortejo do que o samba amaxixado que então vigorava no Rio de Janeiro: Ismael Silva, Brancura, Aurélio, Baiaco, Bide e outros iam a Oswaldo Cruz acompanhando Dona Benedita. Normalmente participavam das canjiras de macumba e depois comandavam as rodas de samba.
Outra festeira que marcou a história de Oswaldo Cruz foi a dona de casa Esther Maria Rodrigues (citada em alguns relatos como Esther Maria de Jesus). Dona Ester era iniciada no candomblé e adorava carnaval. Fora porta-estandarte do Cordão Estrela Solitária, que desfilava no carnaval pelas ruas próximas ao Largo do Neco, entre Turiaçu e Madureira. Algumas das festas de Dona Esther chegavam a durar dois dias seguidos, atraindo figuras de todos os cantos do Rio de Janeiro.
De certa maneira, Dona Ester foi uma espécie de Tia Ciata suburbana: uma mãe de santo que foi tia do samba. Sua casa foi um ponto de encontro, troca de experiências, criação de pertencimentos, formação de rede de proteção social e centro dinâmico de incessante produção de cultura.
A figura de matriarca representada por Dona Ester foi fundamental na posterior fundação da Portela, a escola de samba que só foi possível porque Oswaldo Cruz era também uma Pequena África do Rio de Janeiro, assim como a Praça Onze e tantos outros lugares.
Conclusão: na trajetória de Paulo, uma pista
Este pequeno texto parte da perspectiva de que as culturas oriundas da costa africana se redefinem no Rio de Janeiro a partir da criação de experiências associativas. Estas, fundamentalmente, se articulam como contrapontos potentes à fragmentação típica de experiências diaspóricas.
A aventura civilizatória dos negros cariocas interagiu de formas tensas e intensas com as transformações urbanas que a cidade vivenciou, especialmente nos primeiros anos da República. A construção de uma cidade cosmopolita dependia da criminalização dos saberes negros.
Nesse processo, redutos de descendentes de africanos funcionaram como verdadeiros territórios de pertencimento e circulação de saberes não canônicos, que afrontavam o recorte ocidentalizante que a cidade cosmopolita pretendia ter. A Pequena África, nos arredores da Praça Onze, é seu exemplo seminal, tendo se consagrado nas narrativas sobre a cidade como um caso quase isolado.
Sem desconsiderar a importância da Praça Onze, sugerimos que o Rio é uma cidade de diversas pequenas áfricas e o fenômeno de surgimento do samba carioca acompanha os constantes fluxos de deslocamento da população negra dentro do Rio de Janeiro e é mais simultâneo entre o porto, os morros e os subúrbios do que supõe a narrativa consagrada sobre o tema. Inúmeros pontos da cidade se articularam como espaços de circulação dos saberes que vierem do lado africano do Atlântico e aqui se redefiniram. Um exemplo é o bairro suburbano de Oswaldo Cruz. Outros exemplos também seriam pertinentes para se falar desses ambientes marcados pelas micro-diásporas negras, internas, fluminenses e cariocas.
Paulo Benjamin de Oliveira, o Paulo da Portela, certamente uma das figuras mais importantes da história do samba e do subúrbio do Rio de Janeiro, não era natural de Oswaldo Cruz, conforme muita gente supõe. Paulo nasceu em 1901, na Santa Casa de Misericórdia, região central do Rio das mais atingidas pelas reformas urbanas de 1904. Morou na Saúde, bairro da Zona Portuária e parte integrante da África em miniatura dos arredores da Praça Onze. Ali viveu até o início da década de 1920. Aprendeu o ofício de carpinteiro e lustrador de móveis na adolescência e, com cerca de 20 anos de idade, foi morar com a mãe e a irmã na Estrada do Portela, numa localidade conhecida então como Barra Preta: Oswaldo Cruz.
É possível que a trajetória de Paulo da Portela, fica aqui a sugestão para estudos mais aprofundados, ilumine e seja esclarecida pelas formas com que os saberes de uma cidade africana seguiram o fluxo das constantes reformas que tentaram fazer do Rio de Janeiro um simulacro de Paris nos trópicos, se reinventando o tempo todo. À guisa de conclusão é irresistível constatar: ainda bem que as reformas, em seus anseios parisienses e aniquiladores das áfricas cariocas, fracassaram.
REFERÊNCIAS
ABREU, Maurício. Evolução urbana do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 2013.
ARAÚJO Hiram; JÓRIO, Amauri. Natal: o homem de um braço só. Rio de Janeiro: Guavira editores, 1975.
CABRAL, Sérgio. As escolas de samba do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Lumiar, 1976.
DIAS, Luís Sérgio. Quem tem medo da capoeira? Rio de Janeiro: Memória Carioca / Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 2001.
FANON, Frantz. Pele negra, máscaras brancas. Bahia: Edufba, 2008.
LOPES, Nei; SIMAS, Luiz Antonio. Dicionário da História Social do Samba. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015.
LOPES, Nei. Enciclopédia brasileira da diáspora africana. São Paulo: Selo Negro, 2011.
MOURA, Roberto. Tia Ciata e a Pequena África no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Funarte, 1983.
SIMAS, Luiz Antonio. Tantas páginas belas: histórias da Portela. Rio de Janeiro: Verso Brasil, 2012.
SEVCENKO, Nicolau. Trabalho, lar e botequim. São Paulo: Brasiliense, 1986.
SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Primeira República. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.

