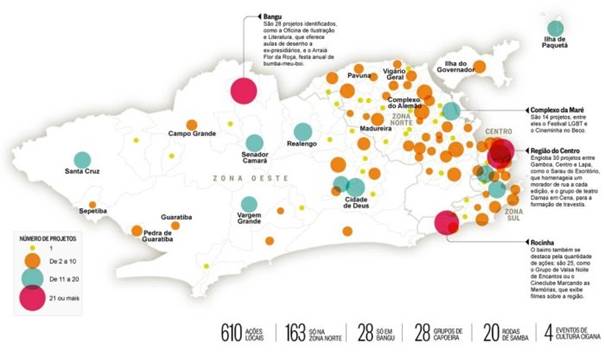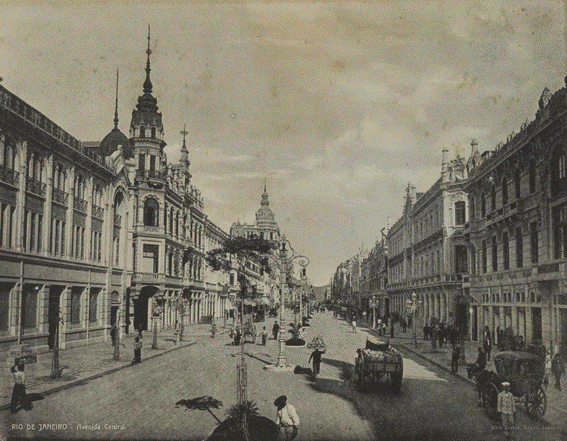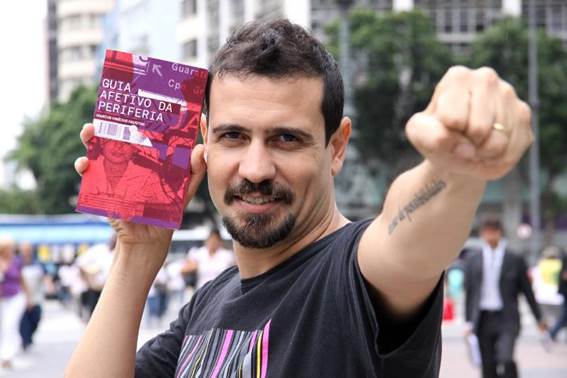Dan Ilitch espreguiçou-se, sentindo a cama lhe faltar embaixo dos pés. Era muito alto; seu corpo crescera tanto e tão rápido que se vergara já aos 15 anos. Assim, cedo parecera mais velho do que era, o que, somado à sua timidez algo lírica, despertava certo interesse nas mulheres, principalmente nas mais velhas. Mais tarde, apaixonara-se e casara-se com uma professora de história do segundo colégio onde trabalhara, mas se separaram três anos depois, por razões que desconhecia: a única coisa que conseguia pensar era na metáfora de um fósforo apagado. A partir da metáfora, começou a escrever furiosamente o que viria a ser o seu grande romance – os dois anteriores tinham sido ignorados pelo público e pela crítica. O prêmio, o prestígio e as vendas o haviam colocado em outro patamar e ele não hesitara em aproveitar a maré. Aos 40 anos, voltara previsivelmente à adolescência que não tivera, o bunker convertido em local de abate. Mas logo aquilo tudo o enfastiara. Para seu desespero, começou a ter dificuldades de ereção: mais de uma vez, teve de gaguejar desculpas para os corpos descrentes ou apiedados em sua cama. E, como uma súbita revelação, percebeu que estava apaixonado pela editora.
Levantou-se num pulo e foi até o banheiro. Não gostava de motéis, mas a editora estava sempre com pressa e determinava seus encontros com o doce autoritarismo que era parte do seu encanto. Abriu o vaso, onde despejou um longo jato enquanto olhava para a parede branca e via o rosto emoldurado pelos cabelos indo e vindo sobre os seios pequenos e perfeitos. Sentiu uma pancada de emoção ao imaginá-la circulando pela Feira, dando entrevistas, falando do seu livro – “o Borges brasileiro”, “labirinto tragicômico de identidades” –, e depois o encontro a dois, comentando e rindo da curadora, dos editores, dos outros autores. Seria um tédio conversar com eles, dar entrevistas, ir a eventos sem a sua presença luminosa.
De volta à casa, foi direto à escrivaninha. Seu santuário. O sagrado ao lado do profano, o mundo inteiro na ponta dos dedos. Isso e mais alguma coisa.
Porém, preferiu não abrir imediatamente o seu início de romance, provisoriamente intitulado Bagatela, porque antes precisava refrescar a cabeça na rede social. De cara, checou sua última publicação na linha do tempo, uma citação de Neruda: versos sobre o silêncio e o vento marinhos. Uma mensagem que podia ser dirigida a pelo menos umas cinco mulheres. Quantas havia pescado daquela vez? No balaio das curtidas, duas lhe provocaram a pequena comoção: uma fã que o vinha acompanhando com avidez e uma escritora que ele mirava há algum tempo. Foi até a página da fã e adejou pelas fotos, todas mais ou menos artísticas: cabelos sobre costas desfocadas na qual brotava a pequena tatuagem tribal; um pé com unhas vermelhas contrastando com um céu de turquesa; quadros de Frida Kahlo; e, mais adiante, um grupo animado de jovens em risos congelados diante de canecas de cerveja. Boa ideia. Na geladeira, pegou uma latinha (Devassa) e levou-a até o computador. Fotos de Londres. Um grupinho de nomes razoavelmente constante comentando citações, compartilhamentos e imagens diversas, desdobrando seus kkkks, emoticons e piadinhas internas. Em outros tempos, entrar na vida do outro daquela forma equivaleria a um estupro. Parecia pornográfico – seria por isso que a rede social era tão excitante?
Vejamos o seu caso: um homem maduro, curvado pela altura e pelos pensamentos (no final do casamento, sua ex-mulher dizia que o ar lá em cima devia ser rarefeito); um escritor cujos únicos filhos eram os livros, relançando uma nova edição do seu premiado romance num evento destinado a consagrá-lo, conduzido pela mulher que adorava, e, no entanto, assaltado pelo tédio e pela desconfiança de si mesmo, como se fosse sempre um outro em seu lugar; ao lado, os pixels de seu livro incomeçado latejam de desejo. Esse gigante, com seu arenque defumado, suas unhas há muito não cortadas, sua cerveja quente, também gosta de brincar. Pornografia e donjuanismo – dois mitos reciclados pela tecnologia – o esperam. Talvez uma mulher do outro lado lhe diga “Meu Deus, como seu talento é grande”, ou “Adoro beber Devassa”… Talvez a deite algum dia na sua cama, abra suas longas pernas e conheça mais uma vez uma mulher – que se transformará rapidamente na mesma de sempre.
Mas, é claro, jamais escreveria sobre isso.
Enquanto se abastece com a quarta latinha de cerveja e mastiga furiosamente um punhado de amendoins, percebe que a tal autora caracterizada no jornal de sábado como uma promessa da literatura e cujo livro havia comprado também havia curtido seu último post, assim como alguns outros anteriores. A foto do perfil mostra olhos ligeiramente estrábicos, inocentes, sobre uma boca semiaberta. Não resiste e abre a janela do chat: dirá que comprou o livro e está ansioso para conhecê-la. Em vez disso, escreve: sua boca é deliciosa. E, no mesmo instante, se arrepende.
Na rua, custou a decidir aonde iria. Não estava com fome, mas cairia bem tomar um café e comer uma torta. Um menino descalço se aproximou engrolando um “tio, me ajuda aí”. Como sempre, sua carteira só tinha cartões de banco, que usava para todas as ocasiões. Apertando o passo, balançou a cabeça algumas vezes ao mesmo tempo que sacudia os bolsos vazios, à guisa de justificativa. Mesmo assim, o menino continuou seguindo-o, sempre repetindo o arrastado “tio, tio, tio…” Uma das suas livrarias preferidas estava bem próxima, e foi lá que entrou em terra firme.
Os livros lhe trouxeram a calma de que tanto precisava. Devagar, foi percorrendo a bancada; ali estava seu último romance e os de alguns de seus colegas. Dan Ilitch nunca deixava de se sentir um impostor ao ver seu livro exposto. Não era como mostrar sua alma; era mais como exibir suas roupas, com um furo nas calças. No centro da livraria, pilhas em formato de estrela de Davi dos mais recentes best-sellers estrangeiros formavam um exército colorido. Pegou um deles, folheou-o sem muito interesse. Lixo. O tipo de narrativa com personagens irritantemente previsíveis e ganchos óbvios como cenouras na frente de coelhos. Passou os olhos pelos romances pretensiosos que vinham assolando a literatura nacional. Escolheu dois livros – o lançamento policial de um autor estrangeiro de que gostava particularmente e o romance de um autor prematuramente consagrado – e levou-os para o balcão, onde poderia lê-los enquanto bebericava o café com biscoitinho. Na verdade, pedia o café por causa do petit four, delicioso e minúsculo, que o acompanhava. Aproveitou para mandar uma mensagem para a editora pelo Whatsapp: quem sabe ela já teria algo a dizer sobre o início do seu romance.
Sua tranquilidade durou pouco. No meio do salão da livraria efervescente, viu aproximar-se um velho escritor, ou escritor velho, que era, ou pretendia ser, um medalhão. Ele agarrou seu cotovelo e começou, sem piedade: grande figura! Por que plagas andas? Ah, vai pedir um café? Vamos, vamos. Adoro o bolinho que vem junto. No celular, o sinal azul indicava que a editora havia lido a mensagem. O medalhão estava louvando a entrevista que lera na primeira página do caderno cultural, na qual o escritor talentoso, ao lado de outros participantes da Feira, falava do presente e do futuro da literatura e do mercado editorial.
Enquanto Dan pensava em como poderia escapar, ia respondendo: claro; parece que as perspectivas são boas; bom, isso é você quem diz; generosidade sua; é mesmo um mistério o que faz um livro vender; conluios editoriais não bastam; magia, talvez; o espírito do tempo… No seu cérebro, contudo, latejava uma frasezinha: foda-se, foda-se… Para o diabo os encontros, as mesas-redondas, as entrevistas. O processo criativo. O próximo romance. O pior é que coisa semelhante o esperava na Feira, um longo desfile de obviedades e frases de efeito disparadas pelo gatilho previsível dos jornalistas – exceto nos momentos que poderia compartilhar com a editora. Nesse ponto, lembrou dolorosamente que há quase um ano não conseguia escrever nada realmente decente. Para desviar a atenção da punhalada familiar que o atingia, mudou o corpo de posição e disse alguma coisa. Você acha?, o medalhão respondeu. Acho! – convicto, mas sem muita certeza do que dissera exatamente; algo como “a informação invadiu o terreno da literatura”. Na tela do celular, nenhuma resposta.
– Hum, interessante… interessantíssimo… – ruminava o medalhão. Seu olhar cintilava de possibilidades, como se considerasse a ideia de utilizar a frase no seu próximo romance.
Uma menina o olhava fixamente do outro lado do balcão. Observando melhor, não era uma menina, mas uma mulher – só a roupa era de garota. De repente, lembrou de onde a conhecia: da sua própria cama. Ele a levara até lá num dia de solidão existencial em que tentava reencontrar a potência recém-perdida, após tê-la seduzido pelo Facebook. Ele respondeu ao aceno como o carioca descolado que era (ou fingia ser) e interrompeu o medalhão: desculpe, desculpe, preciso ir ao banheiro. E correu até o cubículo de elegantes portas negro-piano, onde passou alguns minutos dobrado sobre si mesmo, sufocado por um ataque de ansiedade. Segurou seu pau com agressividade e em poucos minutos tinha terminado. Não fazia muito sentido, mas naquele momento nada parecia fazer sentido: nem a repulsa pelo medalhão, nem o pânico da garota, nem o pavor de nunca mais conseguir escrever, nem a qualidade do seu reduzido número de leitores, nem a perspectiva de ampliá-los. A única coisa que fazia sentido era ela, a editora. Que não respondia. Olhou-se no espelho e abriu a torneira.
Flores de estufa
Imagine ter um jardim florido com as mais variadas espécies durante todas as estações do ano. Isso é possível graças às estufas, estruturas que, além de proteger as plantas contra possíveis ameaças externas, acumulam calor, mantendo uma temperatura maior no seu interior do que ao seu redor.
Parecia uma boa ideia começar com a descrição de uma estufa. Inaugurado em 1884 para abrigar exposições de flores, frutos e pássaros, o Palácio de Cristal – com suas paredes de vidro, o pé direito altíssimo e a diversidade de espécimes presentes – havia se transformado numa estufa humana. O estilo é que parecia inadequado: o tom didático, que deveria ser um contraponto para a linguagem sedutora que se seguiria, não funcionava muito bem. Olhando em torno de si, siderado pelas luzes do salão transparente, o jornalista via plantas, flores multiformes e multicoloridas – pena que seus conhecimentos botânicos fossem limitados. Nada que uma boa pesquisa não pudesse remediar mais tarde.
Orquídeas, por exemplo. Tenros rostos femininos desabrochavam de golas altas, rijas como os rufos da aristocracia do século XVI. Com os rostos corados, erguiam brindes, mexiam sedutoramente os lábios, varriam o salão com a cauda dos vestidos. Eram poucas, mas surpreendentemente parecidas: jovens, brancas, delicadamente maquiadas. Aproximou-se de uma delas, na bancada das caipirinhas. “Acabaram os morangos? Mas quem foi a anta que encomendou…” Claro, aquelas eram as moças da organização; quem mais investiria tempo e dinheiro num traje tão uniformemente elaborado, senão a grife estilosa que aparecia em letras gigantescas no convite da festa (um cartão com letras de feitio rococó em alto relevo dourado)?
Havia mulheres cintilando em gradações variadas de vermelho (rosas), senhoras gordas e folhudas (hortênsias), donas empertigadas (tulipas); havia jasmins doces e perfumados, e singelas margaridas, e a simplicidade dos lírios… além dos cravos de verdade, abotoados na lapela de vários homens de cartola, como devia ser. E todos aqueles homens fantasiados de Pedro II? Dentes de leão, com suas barbas lisas, prestes a se desfazer com o sopro do vento que vinha de fora. Uma lufada ergueu uma daquelas penugens, revelando um peitilho de fardão da Academia Brasileira de Letras – não havia dúvidas, era o medalhão.
Flores de estufa. Pessoas que florescem em ambientes artificiais, controlados, mas que murcham no mundo real. Uma metáfora perfeita do mundo literário e, talvez, da própria literatura. Este sim era um bom ponto de partida.
Olhando em volta, constatou que não conhecia quase ninguém. Apesar do ofício, o jornalista era de uma timidez constrangedora. Em geral, sentia-se mais à vontade em frente ao computador, dissecando os textos com a coragem que nunca tivera de colocar à prova ao vivo e a cores. Para se soltar, pediu uma caipirosca. O barman, um tipo alemão de barba e rabo de cavalo, raspou os últimos morangos, sacudiu o cone metálico e lhe estendeu o copo de plástico decorado com um guarda-chuva azul.
Mesmo considerando o indiscutível toque provinciano de que Petrópolis não conseguia se livrar, via-se numa metrópole em miniatura. Andando pelo salão, era possível ouvir conversas em inglês, em espanhol, sotaques de diferentes regiões do Brasil; altos saxônicos, caboclas perfumadas, grã-finas de membros frágeis, latinos atarracados. Todos com o indiscutível gene das artes, aquele esnobismo casual de quem se sente bem na própria pele, enquanto ele… observava.
Como é possível controlar as condições climáticas dentro da estrutura, não há restrições às espécies que podem ser cultivadas na estufa. Ela oferece o ambiente ideal para plantas de climas diferentes do que predomina no local.
“E ali floriam, como plantas viçosas ou como ervas daninhas, os mais variados botões…”. Porém, por mais que se estendesse nas analogias estruturais e florais, aquilo tinha um limite. Precisava de personagens. E, embora o editor não tivesse formulado claramente, tinha de curvar-se ao que ele chamara de “hierarquia dos escritores” – o que significava o prestígio cultivado no caldo dos prêmios, na popularidade dos blogs e páginas do Facebook, na pose que ostentavam e com a qual eram reconhecidos, enfim, no seu inefável “capital simbólico”. O problema é que, até o momento, não tivera acesso a nenhum dos escritores realmente importantes da Feira. Bebeu três goles da caipirosca e caminhou na direção de uma das Orquídeas, ao lado do pequeno palco de feltro. Aproveitou o momento em que a moça ergueu os olhos do celular:
– Com licença…
Ela estendeu uma mão espalmada, para que ele aguardasse um momento, e voltou ao aparelho. Depois, virou-se e mostrou um rosto liso em que a única dobra era um leve risco entre as sobrancelhas. Ela o conhecia?
– Sou jornalista. Estou fazendo uma matéria. Para o Speculum.
Nenhum sinal de reconhecimento ou interesse.
– Ah, sim. Em que posso ajudá-lo?
Aquelas jovens profissionais haviam adquirido todos os maneirismos das atendentes de telemarketing. Era uma menina comum mas atraente, com um pescoço comprido e um ar preocupado que contrastava adoravelmente com o rosto jovem. Tomou mais dois goles da bebida, pescou um morango com a língua. Pelo andar da carruagem, em breve acharia todas as mulheres bonitas.
– Preciso de escritores. Quer dizer, não sei se me expressei bem… É que não conheço ninguém aqui.
– Entendo.
– Então… você trabalha na organização, não é? Será que poderia me apresentar alguém?
Um garçom passou com uma bandeja de canapés. Ele pescou um de salmão com cream cheese e o engoliu inteiro, praticamente sem mastigar. Perfeito.
– Olha, eu conheço o Markus, da segurança, o Luís, da van, o pessoal da cozinha… Não conheço nenhum escritor. Se quiser me apresentar, agradeço – e deu um risinho maroto.
Interessante. Se quisesse dar uma de Gay Talese, poderia entrevistar os garçons, o Markus, o Luís e, melhor ainda, a própria garota. Debaixo do corpete, pressentia dois peitinhos trêmulos e de auréola rosada. Há quanto tempo não chupava um desses? Os da esposa tinham escurecido lamentavelmente depois do parto, sem falar que podiam esguichar a qualquer momento. Pegou um chope da bandeja de um garçom que passava e bebeu quase a metade. Estava morto de sede.
– E a curadora Maria de Lurdes Braga? Mandei um e-mail pra ela, mas ainda não tive resposta.
– Ah, essa eu sei quem é. Daqui a pouco vai subir no palco. – Consultou a tela do celular. – Em mais ou menos 40 minutos.
Ela pediu licença e saiu na direção da entrada do Palácio. Era melhor ele ficar por ali mesmo. Subiu um dos degraus que davam acesso ao palco, de onde poderia ter uma visão geral da festa. Era como um céu noturno, em que as velas eram as estrelas. Fora os holofotes do jardim, eram elas que desenhavam o panorama do salão. Ligue os pontos, e veja a imagem que se formará.
Iluminação é essencial. Se as folhas estiverem com cor verde garrafa, é sinal de que estão precisando de mais luz. E se estiverem com uma cor amarelada, estão com excesso de luz.
Percebeu lá na frente, junto à entrada, uma agitação incomum. Uma equipe de televisão abria caminho na aglomeração, riscando-a com um facho de luz. Instalaram-se na lateral direita do salão, junto à exposição de fotos. No epicentro da clareira iluminada, uma mulher pálida, de jeans, camiseta e embrulhada num capote, piscava os olhos nervosamente. Reconheceu a autora da tetralogia de sucesso. Valeria a pena ir até lá? No mínimo, deixaria o seu cartão com ela. Entornou o resto do Prosecco – o último chope que pegara estava intoleravelmente quente – e conseguiu um lugar atrás da clareira. Como era de estatura baixa, teve de se virar com um espaço entre duas cabeças, pelo qual pôde ver metade de um rosto. Sacou seu bloco de anotações e rabiscou algumas linhas taquigráficas (“loira aguada, fotofóbica”) – até agora não conseguira converter seus antigos hábitos à sedução eletrônica.
– Jornalista?
Um homem de cabelos ralos, barba espessa e olheiras profundas espiava por cima do seu ombro. Achou que um pequeno grunhido de confirmação seria suficiente, mas estava enganado.
– Olha só essa mulher. Dá pra acreditar no sucesso dela? Alguém acha que isso é literatura?
– E desde quando literatura tem a ver com sucesso? – falara um pouco para si mesmo, um pouco para o homem. A loira, que começara com monossílabos tímidos, disparara a falar muito rápido, enquanto apertava alguma coisa na mão direita. Ele não conseguia pescar praticamente nada.
– Para onde você escreve?
– Speculum.
As cabeças à sua frente se aproximaram, fechando a fenda estreita pela qual acompanhava a entrevista.
– Ah, sei, sei. Quer saber? Só chamam as pessoas erradas.
O sujeito sacudia a cabeça, consternado. O jornalista tentou se recolocar entre um senhor idoso e uma adolescente, mas o círculo tinha enchido e agora só conseguia ver um emaranhado de cabeças, cujos arranjos – incluindo algumas ridículas coroas imperiais – impediam totalmente sua visão. Só lhe restava engolir mais uma taça de Prosecco.
Não se deve colocar as plantas muito aglomeradas para que haja arejamento entre elas e consequentemente possa se evitar o contágio de doenças ou parasitas.
– Sou escritor, mas não da panelinha – e fez uma careta.
Sua boca cheirava a guimba de cigarro. De fato, viam-se na barba desgrenhada resquícios de cinzas. Desafiando o próprio anacronismo, ainda fumava no século XXI. O homem sorria, esperando a onda de interesse que em breve o atingiria; mas o jornalista permaneceu calado. Àquela altura, a tetralogista estava perdida.
– É tudo panela. Eu, por exemplo. Já escrevi seis livros, mas nunca nenhum crítico se deu ao trabalho de ler nada, nem que fosse pra malhar. Já tive amigos do meio, mas desisti, ninguém se interessa por literatura de verdade. Tô melhor morando em Petrópolis, no sítio, criando minhas galinhas, como o velho Raduan… só que não consegui resistir e vim ver o circo hoje.
A entrevista da loira acabara. O jornalista pediu licença ao candidato a Raduan Nassar e, com o cartão de visitas na mão – feito especialmente para a ocasião –, tentou alcançar a escritora, que havia sido absorvida pela pequena multidão. Apenas alguns segundos depois, a aglomeração se desfez e o foco de interesse se dispersou.
Ocorria aquele fenômeno interessante que era o clímax de tantos eventos sociais: todo mundo parecia esticar o pescoço, farejando algo; quem conversava, procurava com os olhos outras pessoas, sempre mais interessantes que o seu interlocutor. O jornalista não era exceção. Além disso, procurava furos – e, por mais que o escritor ressentido pudesse render um bom personagem, não era suficiente. Precisava de informações sobre o prêmio Ornitorrinco: alguém, algum jurado que pudesse lhe dar uma pista sobre o ganhador, que, a esta altura, já devia estar definido. Merda, onde estavam os escritores importantes da Feira, aqueles rostos que rodopiavam tão animadamente no site? Olhou em torno de si, procurando: as pequenas chamas oscilavam perigosamente; risos espocavam como fogos de artifício; a boca de guimba de cigarro continuava falando, e agora puxava a manga da sua camisa, o que, entretanto, lhe dava uma curiosa sensação de segurança. Percebeu meio alarmado que era sua própria cabeça que rodopiava – enquanto sua outra metade ria, de puro prazer.
Sentiu um pequeno choque no peito. Do bolso da camisa, cheio de esperança, sacou o celular. Era a irmã, comunicando que a transfusão da mãe tinha corrido bem e lembrando-o, com o habitual toque de censura, da escala da semana seguinte.
Foi então que viu o girassol. No centro do fulgor amarelo, ela: olhos levemente estrábicos, tipo esguio, cabelos com reflexos dourados replicando o brilho do vestido.
– Ei!
Saiu quase sem querer. A moça girou o rosto e o fitou com expressão neutra.
– Desculpa. Reconheci você do site. – estendeu a mão. – Carlos Estragão. Jornalista literário.
– Ah!
– Será que poderíamos dar uma palavrinha?
– Claro, claro. Pode ser daqui a um minuto? – Ela sorriu, mostrando dentes pequenos e perfeitos. – Tô procurando o banheiro.
– Hmmm, nesse caso, posso acompanhar você? Até a porta, claro. – Ele levantou os ombros, constrangido. – Entrevista.
– Pode ser. Mas não temos muito tempo, a Lurdinha vai subir no palco daqui a pouco. Qual é o seu jornal?
Lurdinha. Era, portanto, íntima da curadora. E adorava o Speculum. Estava muito feliz com a oportunidade… Um reconhecimento importante, ela que era tão jovem… Poderia segurar minha bolsa, por favor? Não, espera, a maquiagem está aqui.
Tinham andado até o banheiro químico instalado fora do Palácio. A luz de um holofote batia enviesada na sua metade superior, destacando o rosto da moça, uma jovem promessa da literatura. Meu Deus, ela estava mesmo mordendo os lábios? Anos de monogamia – mas talvez fosse mais preciso chamar de nulogamia – podiam provocar alucinações? Ou seria a bebida? Segurou a bolsa (textura aveludada), devolveu-a, postou-se ao lado da porta. A garota tinha escrito um livro erótico (ou quase). Passaram-se alguns minutos. No Palácio, os movimentos das pessoas eram como marés; talvez obedecessem a um padrão regular que poderia ser descrito por alguma equação da física quântica.
– Agora me fala o que você quer saber e te direi tudo! – a promessa da literatura tinha saído do banheiro com uma boca apetitosa, cheirando a framboesa.
Mas ele simplesmente não sabia o que perguntar. Porra, ele era um jornalista ou um rato? Um escritor ou um rato? Um escritor rato? Um rato jornalista? Enquanto as únicas palavras que passavam pela sua cabeça eram essas, chegaram à entrada do palácio, a essa altura lotado. Felizmente, ela preenchera o silêncio com os dados básicos sobre a “sua obra” (aquela era uma época em que pessoas de menos de 30 anos já tinham uma obra). A mochila que ele carregava às costas nunca fora tão inconveniente. Ninguém com mais de três décadas de vida estava de mochila, muito menos carregava o peso morto de dois Gays Taleses e um notebook defasado em quatro anos.
As luzes se apagaram. Ouviu-se o disparo de fogos de artifício, e um uivo de expectativa atravessou a multidão. Buquês dourados e verdes explodiram no céu e através dos vidros. A promessa da literatura pegou na sua mão, enquanto abriam caminho para o palco. Ele é apenas um dedo mais alto que ela. Sua garganta está seca. O palco se inunda de luz. Sobre ele, reina a Princesa Isabel. A curadora.
O cabelo estava penteado com uma grossa trança e o vestido era longo e discreto. Era o que ele uma vez, em uma das suas tentativas literárias, caracterizara como uma mulher no limite: da idade, do corpo, da razão. Um limite que podia ser terrivelmente promissor: o corpo fornido, de uma carnalidade macia, mas ainda consistente; a idade da experiência, mas também do desejo de aventura; o hábito da razão ao lado da consciência da própria loucura. Tivera uma amante assim, quando ainda não era casado (ela era), e nunca tinha encontrado alguém com quem tivesse gostado tanto de trepar.
Mas isso só ocorria com algumas mulheres. Sua mãe, por exemplo, certamente nunca atingira aquele estágio. A vida toda consumida pela organização da casa, pelos serões em frente à TV, pelas mesmas amigas sem graça de sempre. Ele se perguntava o que a movia. Nenhuma paixão, nenhuma questão mais importante do que “quem quebrou o copo” ou “o que fazer para o almoço”. Agora, que estava morrendo, pela primeira vez parecia ter um corpo – fluidos, escaras, fezes, urina. Era no mínimo irônico que a maior intimidade entre eles se desse na iminência da morte. Enquanto olhava Lurdinha mover-se suavemente no palco, entornou o uísque que, não sabia como, tinha parado na sua mão.
“Aqui, todos os verões, se abrigava o homem alto e melancólico, este exilado da alta cultura nos trópicos que era o imperador Pedro II. A grande poeta Elisabeth Bishop, que também amava esta cidade, se declarou uma vez apaixonada por ele: por sua cultura, seu amor às línguas, seu senso moral”. O discurso chegara à apoteose: “Nosso desafio: inaugurar o império das Letras, como sonhou D. Pedro II!”
Uma chuva de aplausos. Através dos vidros, via-se o céu estrelado; o primeiro dia da Feira seria de tempo bom. Do lado do palco, um pequeno grupo aguardava. Lurdinha desceu os dois pequenos degraus, magnífica. Estavam todos ali: Dan Ilitch, mergulhado numa barba lisa de imperador; um mulato atarracado de écharpe, que o jornalista reconheceu como o antropólogo; o embaixador, sentado numa cadeira providenciada pela orquídea do início da festa; dois ou três emissários do mundo jornalístico; enfim, ele mesmo, ao lado da promessa da literatura.
Ela apresentou o jornalista rapidamente e voltou sua corola para as novas fontes de luz. Tentou acompanhar o que diziam, mas era inútil – as vozes pareciam misturar-se, os rostos sorriam para tudo, exceto para ele. Não, ele estava enganado, não era Charles Lúcio o autor de Nuvens na berlinda. Esse era o livro que ganhara o prêmio Kafka no ano anterior. Tentou fazer uma piada, mas o homem já havia se esquecido dele e conversava com a promessa da literatura. “Sucesso”, “estandes”, “chiquérrimo”, “mídia” – as palavras voavam como estilhaços. No fundo do seu copo, dois pedaços de gelo boiavam na água suja. Aquilo o mareou definitivamente. Pediu licença para o nada e saiu arrastando os pés.
Antes que pudesse chegar ao banheiro, viu-se regando um arbusto com as próprias entranhas. Por alguns segundos, até recuperar o fôlego, contemplou algo que parecia um plástico laranja (seria o salmão?). Ao levantar a vista, viu, junto a uma das vigas do palácio, um pequeno furo, raiado em estilhaços, que tinha o indiscutível aspecto de um tiro. Estendeu o dedo e acariciou a marca no vidro, como se pudesse apreender pelo tato a data do incidente. Seria interessante se aparecesse de repente alguém ferido, e tudo se precipitasse numa trama policial.
Já se sentia bem melhor. Correu ao banheiro para se lavar e voltar a tempo de colher mais dados para sua primeira investida jornalístico-literária. Quando retornou, porém, não encontrou mais ninguém. Não se sabe como, em alguns minutos tudo adquirira o aspecto de fim de festa. Clareiras que não eram de luz abriam-se entre os grupinhos remanescentes, copos vazios rolavam no chão. Música ruim ressoava nos vidros. Casais se tocavam com antecipação: sente-se no ar a tensão sexual da qual ele obviamente está excluído.
A maior parte das plantas se adapta bem a temperaturas entre 10º e 40º centígrados. Entretanto, há algumas que suportam temperaturas mais baixas. Assim, é bom observar a variedade da planta que se pretende cultivar para ter certeza que se aclimatará no lugar onde será cultivada. Caso contrário, o cultivo será muito mais trabalhoso, muitas vezes resultando na perda da planta.
Consulta mais uma vez o celular. Conferiu a mensagem da mulher: “Alê parece doente, sabe onde está o termômetro?” Um bafejo da sua velha realidade. A esposa previsível. A mãe arrastando-se entre a não-vida e a morte. Mais de uma vez, pegara-se sonhando com eutanásia. Talvez um dia desligasse os aparelhos e acabasse de vez com aquilo. Tinha a impressão de que era assim também a literatura contemporânea: distraíam-se com todo aquele debate entre narração e experimentação linguística enquanto ninguém tinha coragem de desligar os aparelhos. Algumas vezes parecia que o faziam, mas tudo não passava de uma mímica malfeita para comover os inocentes.
Mas quem era ele para debochar de alguma coisa, se naquele momento sentia o peito tremer (e não era o celular)? Resolvera voltar a pé para o hotel onde estava hospedado – não tão próximo nem tão sofisticado quanto o oficial da Feira, mas ainda assim um ótimo hotel – quando, perto de um cachorro descarnado, percebeu um vulto. Um vulto feminino… os ombros levemente curvados, o volume do penteado atrás da nuca, a respiração suspensa numa pose antiga. Devagar, se aproximou. Parecia a curadora. Adiantou-se. Era a ocasião perfeita de abordá-la. Porém, quando estava a ponto de falar com ela, viu surgir, por trás de uma árvore que até então o escondia, um homem que se agitava terrivelmente. Caminhava em círculos, juntava as mãos, apelava a deus – talvez mesmo ao diabo. Seus braços pareciam prontos a enlaçá-la a qualquer momento, mas, a cada investida ela recuava levemente. E agora? Deveria intervir ou não? Não pareciam desconhecidos ou inimigos: via-se isso claramente pela sua postura corporal. Chega a sentir ciúmes da intimidade entre os dois.
Não conseguira sequer trocar cartões com os escritores. Por outro lado, tinha um material bruto; qualquer bom escritor conseguiria tirar algo interessante dali. Sente o resíduo de vômito na boca: quem dera estivesse no hotel para escovar os dentes. Devagar, o cachorro se afasta na direção do poste de luz mais próximo. É o caminho do seu hotel, e ele o segue.
* Adriana Armony é escritora, doutora em Literatura Comparada pela UFRJ e professora do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Publicou, pela Editora Record, os romances A fome de Nelson (2005), Judite no país do futuro (2008) e Estranhos no aquário (2012), premiado com a bolsa de criação literária da Petrobras. Organizou, com Tatiana Salem Levy, a coletânea Primos: histórias da herança árabe e judaica (2010), e tem contos publicados nos jornais Cândido e Rascunho. É pesquisadora do PACC, onde conclui o projeto de pós-doutorado Transescritas.


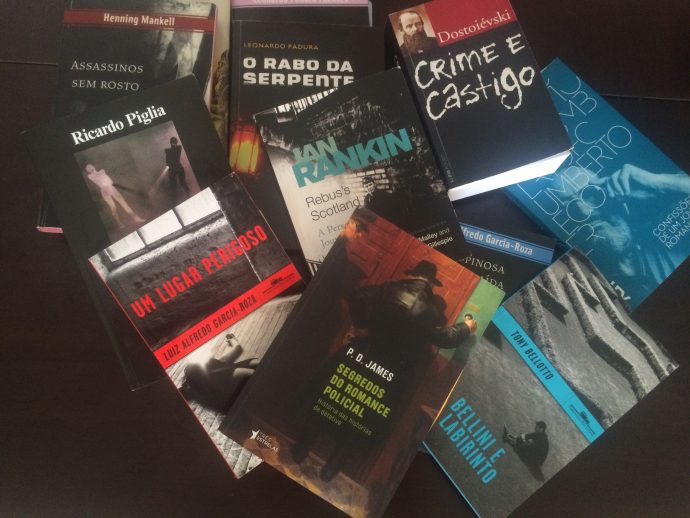


















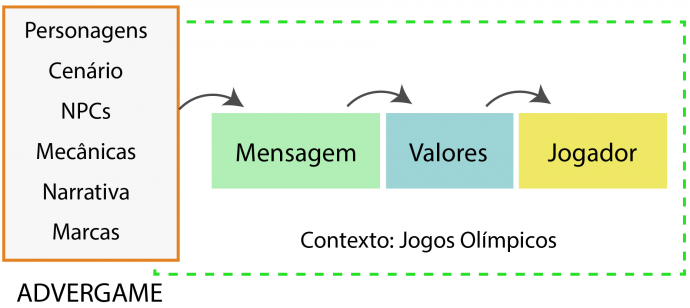





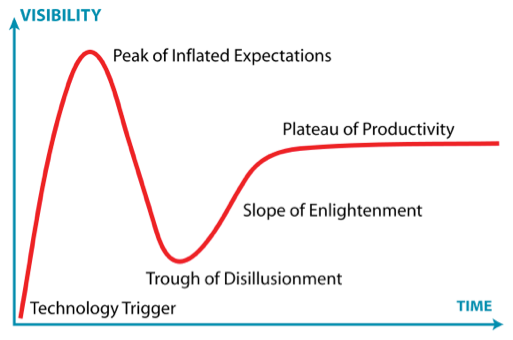

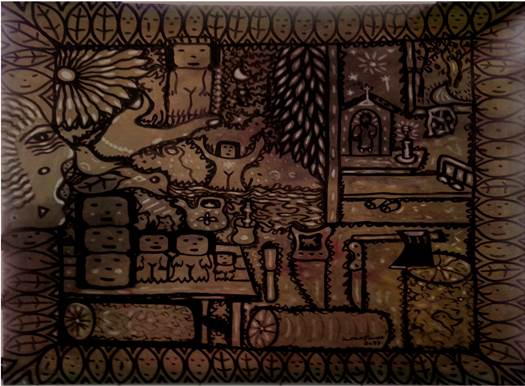

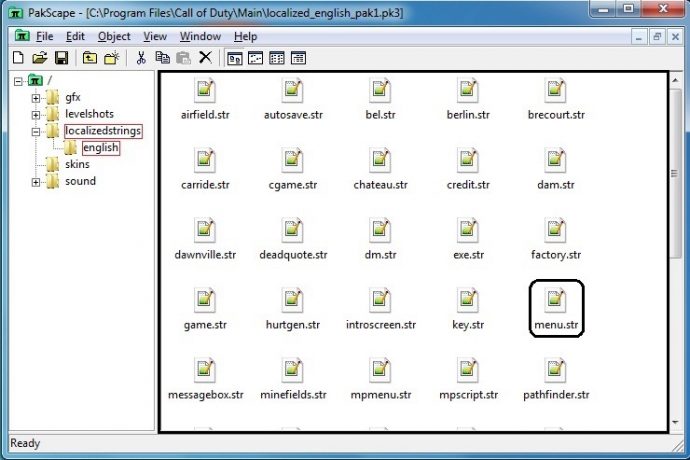
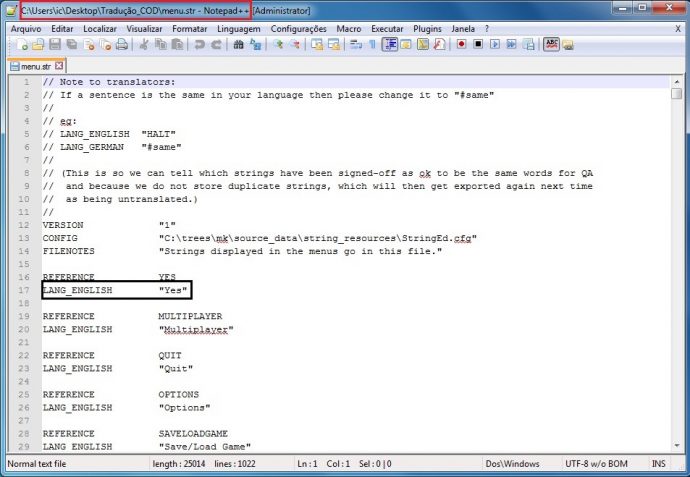
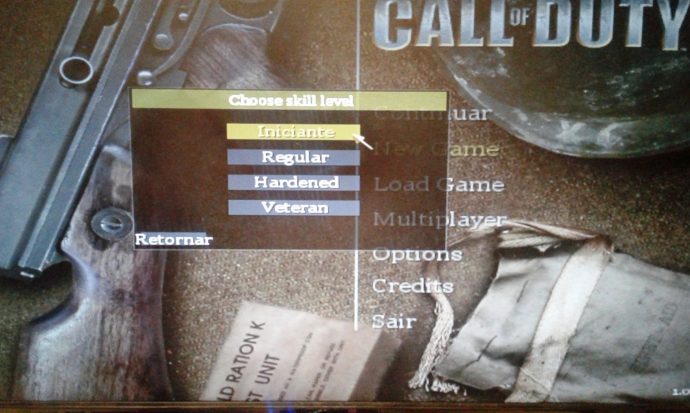

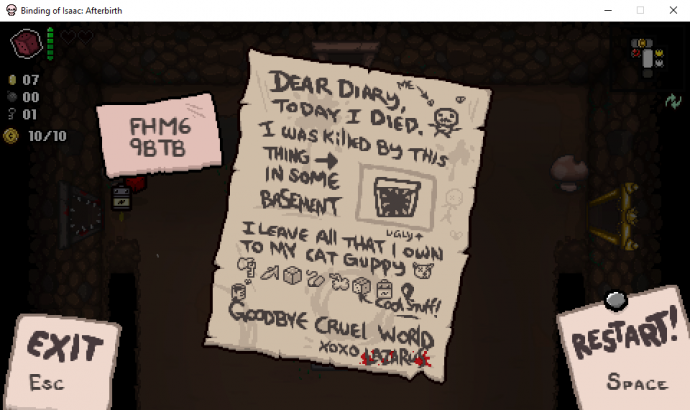
![Sala do Demônio [Devil Room]](http://revistazcultural.pacc.ufrj.br/wp-content/uploads/2016/09/binding-003-690x408.png)