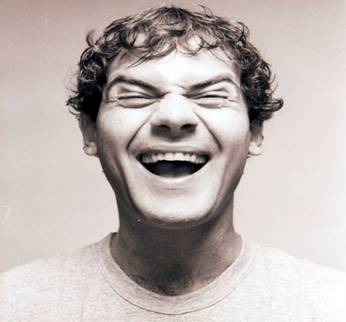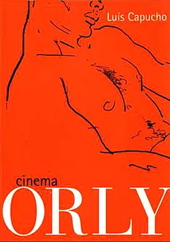Resumo: Este artigo trata da análise de um processo-criminal em Cunha, São Paulo, 1870, aberto para investigar o que foi chamado de Escola de Feitiçaria Coroa da Salvação. Os escravos envolvidos foram acusados de matar pessoas como prática de lições de feitiçaria, em investigação iniciada pela senhora do principal acusado. A escola envolvia escravos de várias fazendas locais, além de libertos que moram na região. A base teórica usada são, principalmente, textos de Max Weber sobre religião e magia para tentar observar as condições de possibilidade para a crença compartilhada por senhores e escravos no caso analisado.
Palavras-chave: escravidão; magia; acusações de feitiçaria.
Abstract: This article deals with the analysis of a criminal process, in Cunha, São Paulo, 1870, open to investigate what was called by the School of Witchcraft Crown of Salvation. The slaves involved were accused of killing people as practicing witchcraft lessons in an investigation initiated by the lady of the main accused. The school involved slaves from several local farms, as well as freedmen living in the area. The theoretical basis used are mainly texts by Max Weber on religion and magic to try to observe the conditions of possibility for the shared belief by masters and slaves in the case analyzed.
Keywords: slavery; magic; witchcraft accusations.
Max Weber se notabilizou nas Ciências Sociais, dentre outros fatores, por abordar a religião como fenômeno social, entrelaçado a elementos de ordem diversa, centrais na sua compreensão. Momentaneamente, ele isola o fenômeno para investigá-lo e, assim que possível, relacioná-lo a tantos outros. Uma questão de estratégia analítica, de método. Para Weber, a crença na salvação, a conformação das regras de autorização para alguém ser mágico, feiticeiro ou sacerdote, as maneiras de produzir os fundamentos de sua reputação, da crença em suas habilidades extraordinárias, a sustentação social moral que imbui de poder um messias, as camadas letradas, os especialistas, que detém as rédeas da argumentação teológica e as justificativas rituais, são, em alguma medida, aspectos dos universos chamados de religiosos. Esses seriam ambientados a partir dos desejos nutridos nas pessoas para responderem de forma confortável aos seus medos, às suas angústias. Tudo isso socialmente concebido e performatizado, experimentado com paradoxos de diversos níveis de complexidade. Para Weber, a sociogênese da crença na magia não ocorre em etapas evolutivas numa única temporalidade ahistórica, mais sim em processos sociais os mais diversos – alguns de cunho mundial, outros territorialmente mais localizados. O tempo também é socialmente construído e vivido, e as investigações de Weber trazem recomendações teóricas e metodológicas para observarmos e analisarmos os agentes sociais em relação nos seus devidos contextos históricos.
Neste artigo, viso a fornecer alguns instrumentos para avaliar situações nas quais indivíduos se valeram de recursos mágicos e processos de magicização do mundo social para atingir os fins por eles almejados, num processo de busca de superação de angústias, dramas dolorosos. Terei como corpo analítico central parte de um caso ocorrido na cidade de Cunha, província de São Paulo, em 1869 (Processo-crime, Corte de Apelação, número 50, caixa 28, galeria c, ano 1870). Desde minha tese de doutorado não revisitava essa documentação, e esta é a primeira vez em que publico algumas análises, que serão completadas em outros artigos em fase final de elaboração, parte de um livro que pretendo publicar com investigações e interpretações mais amadurecidas intelectualmente sobre o caso.
A base teórica das análises neste artigo são algumas observações de Max Weber, contidas nos seus estudos sobre as condições sociais de possibilidade para crença na magia e as investiduras sociais que os candidatos a mágicos devem ter para que sejam reconhecidos como portadores de poderes mágicos, para os que neles acreditam. De maneira alguma tratarei de percorrer a vasta bibliografia sobre a magia, tema central na Antropologia, muito menos sobre a historiografia sobre religiosidade e escravidão nas Américas e Caribe. A proposta é me ater em textos que permitam pôr em relevo o quanto os procedimentos mágicos são constitutivos do funcionamento do mundo social, buscando compreender o que me parece ser uma densa trama de relações, presentes nas narrativas que constam nas diferentes peças processuais que compõem o já referido documento. Dessa forma, a perspectiva por mim adotada é procurar identificar em certos antropólogos aquilo que é útil para pensar os materiais de pesquisa, enfatizando questões inspiradas em textos específicos sobre religião de autoria de Max Weber.
O que de Max Weber ajuda na análise do caso de Cunha?
Religião é ação no mundo, para Weber, mas as motivações dos fiéis adeptos seguem os mais diversos protocolos, baseados em regras morais compreendidas empiricamente. Tal afirmação não vale somente para o que denominou por grandes religiões mundiais, às quais ele dedicou volumes particulares. Tal maneira de tratar pesquisas sobre religião coloca o pesquisador diante do impedimento de não universalizar valores morais. Não percebo, nesse sentido, um caráter etnocêntrico em Weber, nem mesmo observo antropólogos sob sua influência, tendo feito uso de seus apontamentos ao se debruçarem no entendimento de seus materiais de pesquisa. Citarei dois exemplos. Lygia Sigaud (1979) buscou avaliar as condições morais de interpretação de formas de remuneração e de lidar com dinheiro entre trabalhadores em engenhos de cana na Zona da Mata de Pernambuco, observando forte presença de justificativas morais para colocar patrões entendidos como sendo mau-pagadores na justiça. Stanley Tambiah (1968) entendeu, em certos rituais religiosos em Sri Lanka a verbalização das moralidades em palavras ritualmente alocadas em situações de transformação de estágios sociais dos participantes das cerimônias. Ambos esses autores não trataram de modo etnocêntrico os universos pesquisados, como se fossem confirmações de fenômenos mais amplos, exemplos da ocorrência em qualquer outro lugar, mas partiram do raciocínio de Weber da preponderância de explicações morais para atos objetivamente vividos e performatizados, com autorização ou condenação ética de outros agentes envolvidos. Por um lado, podemos dizer ser esse um uso canibalista do autor, mas eu prefiro dizer pragmático e empírico, fazendo render os dados das pesquisas. Ou seja, o que Weber (1921) chama de tipos ideais.
Dos textos em que ele coloca aspectos religiosos como sendo centrais em certas sociedades, escolhi L´éthique économique des religions mondiales (1996 [1915-1920]), posto que traga questões inspiradoras para a avaliação do material que estou revisitando. Weber põe em relevo a promessa ofertada como algo a ser investigado no que chama de religiões mundiais asiáticas. Nelas, o saber é o caminho da salvação, uma vez que há o pressuposto de um fosso entre a massa de fiéis e os letrados, os especialistas. Não há o banimento, mas sim a tolerância às práticas mágicas por meio de constantes negociações entre os envolvidos. Desde que não houvesse concorrência com os rituais religiosos, haveria como acomodar as coisas em seus devidos lugares socialmente aceitos. Existiria, para o autor, um saber asiático, dito de maneira imprecisa, em seu aspecto voltado para a vida religiosa e para não dar conta somente de um saber prático no mundo. A relevância disso encontraria variações nas religiões mundiais asiáticas.
Para Weber, “só o saber assegura o poder” (1996, p. 464), e, não à toa, ele destaca a atuação dos Brâmanes, uma aristocracia sacerdotal que exercia domínio na leitura e interpretação das escrituras sagradas, na Índia, e que liderava a negociação do bom lugar da magia nessa sociedade. Se os sacerdotes e teólogos trabalham para dar explicações acerca dos acontecimentos no mundo, racionalizando a religião, os feiticeiros operam no campo da eficácia. Estes teriam o papel de contemplar as insatisfações de fiéis com relação à ação dos sacerdotes. A capacidade de chegar à gnose mística estaria ligada, então, a um carisma que só essa casta possuiria – ela teria o monopólio das possibilidades racionalizadas de salvação, pois é a casta dos especialistas. A salvação é experimentada, assim, nesse texto de Weber, na vida mística, e interpretada na vida racional. Ela não é conseguida por uma recompensa por atos corretos dados por um Deus pai, único e absoluto.
O referido texto pode ser conectado a outro conjunto de escritos sobre Confucionismo e Taoísmo (2000), também produzidos no mesmo intervalo de tempo, cerca de dez a quinze anos depois da publicação da Ética protestante e o espírito do capitalismo (1985). Especificamente sobre aquelas duas religiões há um conjunto apontamentos que também me inspiram. O caráter mais solto desses textos em relação aos dados específicos me traz certo desconforto na imprecisão, contudo, também observo maior dinamismo no aparecimento de questões gerais que devem ser testadas à luz de material empírico mais detalhado. Nos textos apontados, Weber coloca as mesmas perguntas às grandes religiões mundiais: como se chega à salvação? Qual é o caminho da salvação? Uma forma de encarar essas questões, através de observações do próprio Weber, é examinar trajetórias religiosas de indivíduos e coletivos humanos que tenham suas condutas morais orientadas por alguma ideia de salvação. Localizei claramente essas duas questões no material pesquisado e no cenário no qual foi produzido, sendo, assim, pontos centrais da minha abordagem da rede de relações para o estudo e prática de magia, organizada por escravos e libertos de fazendas localizadas no município de Cunha, São Paulo, em 1969, chamada na documentação consultada Escola de Feitiçaria Coroa da Salvação.
Sobre os critérios para a escolha do caso estudado
Na tese de doutorado (Couceiro, 2008), busquei avaliar como poderia encontrar situações de acusação de feitiçaria enfrentando o problema do seu aparente não-lugar nas classificações nos arquivos consultados. Minhas pesquisas ocorreram, principalmente, no Arquivo Nacional, localizado no Rio de Janeiro. Geralmente, as classificações obedecem aos códigos legais de cada período administrativo estatal, em parte formulados de acordo com critérios morais dos agentes com poderes legitimados socialmente para o exercício do controle jurídico satisfatório dos conflitos. No período colonial, a América Portuguesa era regida por ordenações que previam que acusados de feitiçaria participassem de ritualísticas jurídico-criminais, assim como nas primeiras décadas da república no Brasil, conforme mostrou, dentro outros autores, Laura de Mello e Souza (1986) e Yvonne Maggie (1993), respectivamente para os períodos colonial e o início do republicano. Como feitiçaria e magia não eram crimes prescritos no Código Criminal do Império é preciso adotar outro tipo de busca dessas fontes. Esse é o motivo para ter me detido nesse período, uma vez que a crença não desapareceu com o novo corpo de leis.
Operei com pesquisas em arquivos como sendo eles espécies de aldeias, em metáfora às primeiras etnografias clássicas em antropologia, na medida em que operam como registros sob questionamento do investigador pata responder a questões que não são as que deram sentido original à sua produção (Carrara, 1998). No caso de processos judiciais, são papéis organizados a partir de regras institucionais, carregados de significados morais, tecidos de pedaços de narrativas de biografias esfaceladas dirigidas em rituais policiais e jurídicas em que os narradores estão em posições desiguais de locução (Vianna, 2014). De acordo com a pergunta que se faça, podemos inscrever os documentos em narrativas ordenadas por informações de fontes as mais variadas sobre os seus autores, a sua natureza, os personagens que ali apareçam direta ou indiretamente, e as circunstâncias e os cenários para a sua construção (Le Goff, 1996, p. 203-231). Ou seja, o que Weber (1985) chama de condições de possibilidades, principalmente a de narrativas acerca de situações dramáticas experimentadas por pessoas de outros tempos, no tocante às relações escravistas, em nosso caso, documentadas na organização de um acervo – aldeias em forma de fichas, gavetas, instrumentos de busca, catálogos diversos, em meios físicos ou, mais recentemente, digitais.
Assim, procuro operar por meio do caráter histórico das relações sociais. Muito embora seja território consagrado aos historiadores, não é lugar incomum aos antropólogos desde a fundação da disciplina (Stocking Jr., 1992). Estar nos arquivos é fundamental para que fatos sejam reclassificados e interpretados pelos pesquisadores. Realizar etnografias nos arquivos permite redimensionar os caminhos para a formulação de narrativas e de seus variados estilos, historicizando lógicas e sentidos, descobrindo personagens e suas relações, questionando temporalidades, observando as contradições dos tempos. Um dos caminhos pelos quais enveredei foi o do emprenho de autoridades senhoriais, burocratas do sistema legal escravista e seus prepostos nas investigações de casos denominados por feitiçaria quando relacionados às denúncias de insurreições de escravos, com a participação ou não de libertos e africanos livres. Seguindo a literatura nacional e internacional, trata-se de um perfil bem estabelecido de evento que produziu documentos os mais variados. As pessoas envolvidas passaram a ser personagens desses registros, nas Américas e no Caribe, como apontam trabalhos de Carolyn Fick (1992), para o Haiti, John Savage (2007), para Martinica, Vincent Brown (2003), em relação à Jamaica, João José Reis (1988; 1989; 2001) e Rachel Harding (2003), sobre Salvador.
Circunscrito às investigações a fazendas de café do Vale do Paraíba e do Oeste Paulista, examinei documentos judiciais e oficiais do Império, processos criminais que tratavam de homicídios e tentativas de, correspondências confidenciais de ministros de Estado, chefes de polícia, da diplomacia e presidentes de província, além de romances, como A carne, de Júlio Ribeiro, de 1888, e notícias de jornais (Couceiro, 1998b). Todos eles se referiem às insurreições de escravos ou a sinais lidos por senhores seus prepostos e autoridades públicas como da iminência de sua ocorrência, bem como planos de acusados de serem feiticeiros conspirando para matá-los. Nessas fontes, encontrei narrativas sobre acusações de feitiçaria e sobre os acusados e os seus acusadores, com os últimos recorrendo ou não às esferas jurídicas para resolver as ofensas sofridas. As narrativas sobre as ações das autoridades públicas não trazem certeza ao pesquisador de que elas compartilhavam, sempre e de que maneiras, da crença nos efeitos dos feitiços, dos poderes dos sacerdotes e das sacerdotisas, dos iniciados nas práticas mágico-religiosas de matriz africana diversa. Os acusados eram punidos não por serem feiticeiros e nem por praticarem o que seus acusadores e julgadores entendessem por feitiçaria, mas sim por estelionato, homicídio, e demais crimes previstos no Código Criminal do Império.
Lembrando autores como Malinowski (1935), Evans-Pritchard (1968), Mauss e Hubert (2003) e Lévi-Strauss (1975a; 1975b), não é feiticeiro e nem mágico quem quer, mas sim quem corresponde às investiduras simbólicas socialmente instituídas pelos problemas que afligem certo número de pessoas. Quem demanda suas intervenções no correr da vida exige eficácia para atingir os fins desejados por meio mágicos, e explicações aceitáveis do mágico para os motivos de suas falhas. Ele é punido, de acordo com as disputas de poder em cada coletivo humano, seguindo o nível de frustração de quem avalia ter sido prejudicado. Trata-se de uma relação de morde e assopra: coerção aos mágicos e feiticeiros quando alguém se sente prejudicado através da ação mágica, e, em alguns casos, com legítimas relações de vingança e contra-vingança, como nos materiais analisados por Evans-Pritchard (1931), Max Gluckman (1968), e Jeanne Favret-Saada (1977), e presentes em livro organizado por Mary Douglas (1970). Contudo, protegem-se os ditos feiticeiros quando eles não estão a serviço de inimigos ou pessoas que ameacem poderes estabelecidos, como no caso dos Shona, na antiga Rodésia, atual Zimbábue, analisado por Peter Fry (1976), no período em que membros do partido comunista a eles recorriam nas lutas de independência. Mais recentemente, trabalhos como os de Peter Geschiere (1998) e naqueles organizados por Jean e John Commarof (1993) demonstram a dinâmica dessas relações de explicação de infortúnios nos processos de construção das formas burocráticas estatais ditas modernas em países como Camarões, e as perspectivas de interferir nos rumos dos acontecimentos.
Entendendo a Escola de Feitiçaria Coroa da Salvação
O cenário por mim escolhido é o da chamada “segunda escravidão”, conceito construído por Dale Tomich (2011), para falar do momento de maior crescimento das economias escravistas ligadas às plantações monocultoras uma vez inseridas no sistema capitalista industrial mundial – a partir da década de 1760. Trabalho de escravos africanos em regiões tropicais forneciam a baixíssimos custos matéria prima para as indústrias europeias, principalmente algodão, e alimentos estimulantes de valor nutritivo precário, como café e açúcar, consumido pelo proletariado capaz de fabricar os bens mundialmente comercializados (Mintz, 1986; 2010). No Brasil, a região economicamente mais rica na concentração de escravos de origem africana eram as lavouras de café, principal produto desse cenário no século XIX, a partir de 1840 (Slenes, 1986). Tal região abrangia parte do Vale do Paraíba Fluminense e do Oeste de São Paulo. Verdadeiro laboratório historiográfico para explicações de caráter local e nacional acerca de problemas os mais diversos, desde migração, até táticas revolucionárias precoces, recentemente vem sendo revisitada com outros olhares teóricos e metodológicos. Através da compreensão do quadro mais amplo das estruturas da economia nos meios de produção em escala industrial nas quais tais fazendas escravistas operavam (Marquese e Salles, 2016), de um lado, e dos debates acerca do grau de influência das ações de escravos nessa região na queda desse sistema de produção econômica em termos legais oficiais (Gomes, 1995; Machado, 1987; 1994), podemos avaliar como dona Geraldina e senhores vizinhos reagiram de forma tão rápida para evitar o alastramento das ações da Coroa da Salvação.
Nesse ambiente, pesquisei casos em que acusações de feitiçaria ocorriam exatamente quando os senhores não se sentiam contemplados pela ação de mágicos de origem africana, algo que resumi, em parte, noutro artigo (Couceiro, 2008). Pelo contrário, sentiam forte ameaça ao seu poder quando feiticeiros operavam perspectivas salvacionistas antissenhoriais nos rituais por eles comandados. Um dos casos analisados por mim ocorreu na fazenda de dona Geraldina Maria de Campos, na cidade de Cunha, província de São Paulo, em 1869, onde foram praticados assassinatos, segundo ela mesma narrou em carta ao inspetor de quarteirão Antonio Pereira Coelho, datada de 12 de janeiro de 1870.
Contava a senhora que alguns de seus escravos haviam aparecido mortos, depois de sofrerem da mesma enfermidade.[1] Os sintomas levaram dona Geraldina a suspeitar que eles pudessem ter sido “envenenados”, uma vez que tais fatos já haviam ocorrido em fazendas daquela região. Desta forma, mandou fazer “minucioso exame em todas as casas que serviam de morada para os seus escravos”. O alvo principal do exame eram as “caixas onde os escravos guardavam suas roupas”. Na “casa onde residia” o escravo Pascoal de Nação foram encontrados em sua caixa e uma patrona de couro contendo “uma pequena garrafa branca com um líquido que ele confessou ser de uma raiz muito venenosa, raspada e misturada com aguardente”, bem como “diversas raízes, todas venenosas, das quais de algumas ele se servia para dar aos seus parceiros”.
Depois do exame, dona Geraldina mandou que Pascoal fosse preso por trabalhadores livres, empregados em sua fazenda, e levado a ser interrogado na sala da casa de morada. Perguntou a Pascoal o porquê das tais “raízes venenosas” estarem em seu poder, tendo ele respondido que nem todas eram venenosas. Em seguida, sobre a “composição” que estava na garrafa, Pascoal afirmou que dera a três escravos de dona Geraldina – Jeremias, Benedito Gama e Lourenço Crioulo. Da raiz, tinha dado à “crioulinha Rita, também escrava de dona Geraldina”, misturada ao seu “mingau”. A escrava faleceu no dia seguinte. Pascoal afirmou, ainda, que não matara somente estes quatro escravos, mas também o escravo chamado Luís, pertencente ao genro de dona Geraldina, Joaquim Augusto da Purificação. Havia dado a Luís um pouco de pó de uma raiz venenosa, misturado à “canjiquinha que o crioulo estava comendo”. Seu falecimento também se deu no dia seguinte à ingestão da raiz.
Pascoal teria dito ser ele o único escravo que detinha o conhecimento acerca das propriedades das ervas e de seus usos com os objetos com ele encontrados. Usando esse aparato, segundo afirmara em juízo, havia matado, sozinho, cinco escravos. Além disso, contou que fora os dois “mestres”, Luís Moçambique e Félix, havia outro que era “o que melhor sabia fazer tudo aquilo” – um “preto” de nome Antonio. Entretanto, com aqueles dois “mestres, disso ele sabia, muitos escravos estavam aprendendo o ofício”. Não sabia quem eram, muito menos precisar o que realmente estavam “aprendendo” para atingirem o grau maior no que chamou “Escola de Feitiçaria Coroa da Salvação”.
Os depoentes foram revelando uma complexa estrutura de aprendizado na chamada “Escola de Feitiçaria Coroa da Salvação”. Mestres, calendário com local, mês, dia e hora de atividades específicas, protocolos rituais rígidos, tarefas a serem realizadas, hierarquia definida entre o seleto grupo de participantes, fórmulas de conteúdo misterioso, segredos, demonstração de habilidades, e o preço de objetos mágico-religiosos. É possível estabelecer uma tabela relacionando esses objetos, prestações e contra-prestações entre os que os negociavam, como dentes de cobra, patuás, orações, imagens de santos, ervas as mais variadas, através dos seus preços e do valor social a eles atribuído entre os envolvidos. Parte do documento indica, ainda mais quando ocorreram acareações entre os sacerdotes e candidatos ao grau máximo da Coroa da Salvação, que havia dívidas financeiras entre eles. Elas teriam motivado vinganças, uma vez que mau-pagadores não teriam digerido muito bem a cobrança material que seus credores exerceram, que obedeceria a outro calendário que não o das aulas e provas para avançar rumo à Coroa da Salvação.
Como Weber (1985) demonstrou, a vida religiosa não está automaticamente associada à vida voltada para ganhar dinheiro pelo trabalho diário, algo claro no capitalismo. Os agentes sociais tecem essas relações, através dos mais variados critérios, experimentando a vida sob condutas morais que ajudam a fazer uma costura entre a ação religiosa para a salvação pela ação nesse mundo e o ganho financeiro pelo trabalho diário. A fazenda de dona Geraldina estava localizada numa região rica e monetarizada do Império, perto de Parati, aonde desembocava o antigo caminho do ouro colonial. Não avalio como sendo de todo irrelevante lembrar que essa microrregião conhecia formas monetarizadas de intermediação de relações sociais as mais diversas, de modo pioneiro na América portuguesa, junto com a região das Minas Gerais. Da mesma maneira, podemos encontrar registros sobre isso na cidade de Salvador, a partir de 1828, segundo as pesquisas de, envolvendo a encomenda de feitiços, organização de festas dos candomblés e a sustentação dos terreiros nos arrebaldes da cidade, de cujos africanos e seus descendentes, em situação de escravidão ou não, participavam de relações mediadas pelo dinheiro (Reis, 2001; Santos, 2005). Para os anos subsequentes, especificamente nos terreiros do chamado candomblé jeje, Luís Nicolau Parés (2006) fornece dados acerca da complexa rede de relações para o sustento econômico das casas de culto e seus organizadores. Gabriela Sampaio (2007) investigou extensa rede de dons e contra-dons eróticos, políticos e econômicos na sexualizada figura de Juca Rosa, afamado feiticeiro africano-descendente que morava no coração da capital do Império do Brasil.
Há registros de que escravos e africanos moradores de Salvador e do Rio de Janeiro, durante o século XIX, teriam vindo de regiões em que bens mágico-religiosos, saberes e ofícios de sacerdotes e sacerdotisas, por exemplo, eram pagos com dinheiro. Esse sistema não seria diferente do que os africanos islamizados transmigraram com sucesso para Salvador e o Recôncavo da Bahia, a partir da série de insurreições étnico-religiosas desde 1816 (Reis, 2003; 2008).
Contudo, para a região cafeeira, ou para além dos limites urbanos de grandes cidades escravistas das Américas e do Caribe, trata-se de uma novidade esse perfil de organização econômica das relações mágico-religiosas, incluindo pagamento por etapas de aprendizado. Tanto Cunha, Parati como Salvador ocupam lugar privilegiado nas correspondências reservadas dos ministros da Justiça, da Agricultura e da Fazenda do Império quando o assunto eram moedas e notas falsas. Para Weber, somente esse caminho explicaria a racionalização da crença religiosa na salvação pelo trabalho remunerado diário para outrem. Um espírito, um sentir e agir simultâneos, um conjunto de éticas, ethos, que guiam o sentido das pessoas no mundo. Se fosse um radical leitor de Weber, e não de certa maneira um herético, submeteria toda a interpretação do processo de precificação, seguindo as definições de Viviana Zelizer (2011), desenvolvidas por José Renato Baptista (2007) para religiões de matriz africana, dos feitiços e outros elementos do caso de Cunha ao contato com a mentalidade econômica religiosa supostamente disseminada pelo protestantismo na anglo-américa. Poderia até mesmo tratar, em parte como Robert Slenes (1991-92) e Parés (2006) vêm propondo, de uma diáspora religiosa do que autoridades classificavam como feitiço africano e de entidades espirituais. Mas esse não é o meu caso, nesse artigo.
Considerações finais
Diante de todas as declarações, dona Geraldina entregou Pascoal às mãos do inspetor de quarteirão, para que ele, por sua vez, o enviasse ao delegado de polícia da cidade de Cunha, afastando-o do convívio dos seus escravos. O caso se desenrolou em processo criminal volumoso e duradouro, e num longo inquérito que mostrou ser um verdadeiro pente-fino da senhora e outros senhores locais nas senzalas de suas fazendas para descobrir como dar fim ou controlar satisfatoriamente, como diria Yvonne Maggie (1992), a ação dos feiticeiros. Afinal, o dono do escravo não era quem controlava a magia, a manipulação de ervas usadas como dispositivos outros, que não senhoriais, e nem legais, para a resolução de conflitos. Os senhores insatisfeitos poderiam deslocar as autoridades religiosas, e seus futuros mestres, para longe do conjunto de seus escravos. Tal atitude era comum nessas áreas do café, obedecendo ao conjunto de atitudes de vigilância e punição para evitar as ondas negras, nos termos de Célia Azevedo (1987).
No dia 30 de março de 1870, Pascoal e Luís Moçambique foram condenados a pena de galés perpétuas – prisão com trabalhos forçados. Jacinto Monjolo foi absolvido. O pedido de apelação foi negado, em 6 de julho de 1870, com o processo sendo encerrado em 21 de agosto. A condenação foi pelos homicídios, no caso de Pascoal, e por Luís Moçambique tê-lo ajudado diretamente a cometê-los, lhe fornecendo os instrumentos necessários.
Em Mauss e Hubert, Malinowski e Evans-Pritchard o mágico era informado por características místicas e carismáticas, funcionando como um mediador, um especialista, para proporcionar às populações atingir suas demandas. Pela etnografia e pelo recurso aos arquivos, é possível mostrar o lugar da magia na sociedade. Entre os Azande e os Trobriandeses, seguindo Malinowski, a magia não tem relação com sentido do mundo e da vida, ao contrário das grandes religiões mundiais trabalhadas por Weber. É bom saber que se os Azande desnaturalizam a morte, os Trobriandeses não. Um dos interesses do texto de E-P é pensar que magia e feitiçaria não são as mesmas coisas. Quem se considera atingido pela feitiçaria atribui o seu estado como produto da ação de alguém que teria feito o mal magicamente. Isso só é possível se a sociedade permitir que essa possibilidade exista – na feitiçaria, sempre há a atribuição de responsabilidade por um terceiro, tendo como suporte a crença da sociedade, a opinião. O epicentro é a vítima que formula a acusação, refutada pelo acusado. Isso é moralmente condenado pela sociedade, através das opiniões. Esse tipo de acusação revela as classificações dos indivíduos no mundo social, e a natureza social da acusação. A pessoa é vista como um feiticeiro, e não instituída socialmente como mágico. O feiticeiro é escolhido pelo jogo de relações pessoais. A questão, assim, é como os indivíduos tratam historicamente as situações de acusação de malefício, tendo sido acusados por alguém. Ao acusar, a pessoa atribui culpa. Em ambos, magia e feitiçaria operam com o pressuposto da crença de que há uma força fora do mundo.
A magia e a feitiçaria somente relacionam pessoas que já estão em relação em determinado círculo social. Por isso, é fundamental reconstituir a rede de quem diz o que em relação a quem. Como no mundo social tudo é fluido, é preciso historicizar as acusações – o acusado de um momento pode ser o acusador de outro. E Max Weber nos oferece perspectivas eficazes de leitura de materiais de pesquisa que tenham perfis de crença, organização de relações com o sagrado em sentidos salvacionistas que rendem análises não etnocêntricas.
*Luiz Alberto Couceiro é bacharel e licenciado em história pela PUC-Rio, mestre e doutor em antropologia pelo PPGSA-IFCS/UFRJ, com pós-doutorado em antropologia social pelo PPGAS-Museu Nacional/UFRJ. É professor de antropologia no Departamento de Sociologia e Antropologia e professor no PPGHIS, ambos da UFMA. Pesquisa perfis de sociedades escravistas e ações dos agentes escravizados no dimensionamento dos significados de sua existência, através de conflitos com senhores e seus prepostos nos cenários de fazendas de café no Rio de Janeiro e São Paulo, na segunda metade do século XIX, acusações de feitiçaria no Rio e em Salvador, e comunidades de fugitivos no Maranhão e Amapá, a partir de 1755, e suas conexões com as dinâmicas do sistema capitalista internacional.
Fonte documental
Arquivo Nacional
Processo-crime, Corte de Apelação, número 50, caixa 28, galeria c, ano 1870.
Referências
AZEVEDO, Célia Maria Marinho de. Onda negra, medo branco: o negro no imaginário das elites, século XIX. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
BAPTISTA, José Renato de Carvalho. Os deuses vendem quando dão: os sentidos do dinheiro nas relações de troca no candomblé. Mana, 13(1), 2007, p. 7-40.
BROWN, Vincent. Spiritual terror and sacred authority in Jamaican slave society. Slavery and Abolition, vol. 24, n. 1, April 2003, p. 24-53.
CARRARA, Sérgio. Crime e loucura: o aparecimento do manicômio judiciário na passagem do século. Rio de Janeiro, São Paulo: EdUERJ, EdUSP, 1998.
COMAROFF, Jean e COMAROFF, John (Eds). Modernity and its malcontents: ritual and power in postcolonial Africa. Chicago: The University of Chicago Press.
COUCEIRO, Luiz Alberto. Acusações de feitiçaria e insurreições escravas no Sudeste do Império do Brasil. Afro-Ásia, n. 38, 2008, p. 211-244.
COUCEIRO, Luiz Alberto. Magia e feitiçaria no Império do Brasil: o poder da crença no Sudeste e em Salvador. Tese (Doutorado em Antropologia). Rio de Janeiro: Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia – IFCS/UFRJ, 2008.
DOUGLAS, Mary (Ed.). Witchcraft, confessions and accusations. London: Tavistock, 1970.
EVANS-PRITCHARD, E. E. [1935]. Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande. Oxford University Press, 1968.
EVANS-PRITCHARD, E. E. Sourcery and native opinion. Africa: Journal of the Africa International Institute, v. 4, n. 1, jan., 1931, p. 22-55.
FAVRET-SAADA, Jeanne. Les mots, la mort, les sorts. Paris: Gallimard, 1977.
FICK, Carolyn. The making of Haiti: the Saint Domingue Revolution from below. Knoxville: The University of Tennessee Press, 1990.
FRY, Peter. Spirits of protest: spirit-mediums and the articulatino of consensus amongst the Zezuru of Southern Rhodesia. London, New York, Melbourne: Cambridge University Press, 1976.
GESCHIERE, Peter. The modernity of witchcraft: politics and the occult in postcolonial Africa. Carlotteville e Londres: University Press of Virginia, 1998.
GLUCKMAN, Max. Psychological, sociological and anthopological explanations of witchcraft and gossip: a classification. Man, New Series, v. 3, n. 1, mar. 1968, p. 20-34.
GOMES, Flávio dos Santos. Histórias de quilombolas: mocambos e comunidades de senzalas no Rio de Janeiro – século XIX. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1995.
HARDING, Rachel E. A refuge in thunder: candomblé and alternative spaces of blackness. Bloomington: Indiana University Press, 2003.
LÉVI-STRAUSS, Claude. O feiticeiro e sua magia. In: Antropologia estrutural. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1975a. p. 193-213.
LÉVI-STRAUSS, Claude. A eficácia simbólica. In: Antropologia estrutural. Traduzido do francês. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1975b. p. 215-236.
MACHADO, Maria Helena Pereira Toledo. O plano e o pânico: os movimentos sociais na década da abolição. Rio de Janeiro, São Paulo: Editora UFRJ, EdUSP, 1994.
MACHADO, Maria Helena Pereira Toledo. Crime e escravidão: trabalho, luta e resistência nas lavouras paulistas, 1820-1888. São Paulo: Brasiliense, 1987.
MAGGIE, Yvonne. Medo do feitiço: relações entre magia e poder no Brasil. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1992.
MALINOWSKI, Bronislaw. Part VI. An ethnographic theory of the magical word. Coral Gardens and their magic, v. II. London: Georde Allen and Unwin Ltd., 1935, p. 213-248.
MARQUESE, Rafael e SALLES, Ricardo (Orgs.). Escravidão e capitalismo histórico no século XIX. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016.
MAUSS, Marcel e HUBERT, Henri. [1902-1903]. Esboço de uma teoria geral da magia. In: MAUSS, Marcel. Sociologia e Antropologia. São Paulo: Cosac & Naify, 2003. p. 47-181.
MINTZ, Sidney W. [1991]. Produção tropical e consumo de massa: um comentário histórico. In: MINTZ, Sidney W. O poder amargo do açúcar: produtores escravizados, consumidores proletarizados. 2ª ed. revista e ampliada. Recife: Editora Universitária UFPE, 2010. p. 39-50.
MINTZ, Sidney W. Sweetness and power: the place of sugar in Modern History. New York: Penguin, 1986.
PARÉS, Luis Nicolau. A formação do Candomblé: história e ritual da nação jeje na Bahia. Campinas: Editora da UNICAMP, 2006.
PARSONS, Talcott. [1965]. Evaluación y objetividad em el ámbito de lãs ciencias sociales: uma interpretacións de lós trabajos de Max Weber. In: PARSONS, Talcott et al. Presencia de Max Weber. (selección de José Sazbón). Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, 1971. p. 9-59.
REIS, João José. Candomblé in nineteenth-century Bahia: priests, followers, clients. In: MANN, Kristin e BAY, Edna (Eds.), Rethinking the African diaspora: the making of a Black Atlantic world in the bight of Benin and Brazil, London, Frank Cass, 2001, p. 116-134.
REIS, João José. Magia Jeje na Bahia: a invasão do calundu no Pasto de Cachoeira, 1875. In: Revista de História – Escravidão. São Paulo: ANPUH, Marco Zero, vol. 8, n. 16, 1988, p. 57-81.
REIS, João José. Nas malhas do poder escravista: a invasão do Candomblé do Accú. In: REIS, João José e SILVA, Eduardo. Negociação e conflito: a resistência negra no Brasil escravista. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. p. 32-61.
REIS, João José. Domingos Sodré, um sacerdote africano: escravidão, liberdade e candomblé na Bahia do século XIX. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.
REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos malês em 1835 – edição revista e ampliada. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.
SAMPAIO, Gabriela dos Reis. Juca Rosa: um pai-de-santo na Corte Imperial. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2007.
SANTOS, Jocélio Teles dos. Candomblés e espaço urbano na Bahia do século XIX. In: Estudos Afro-Asiáticos, 27 (1-3), 2005, p. 205-226.
SAVAGE, JOHN. “Black magic” and white terror: slave poisoning and colonial society in Early 19th Century Martinique. Journal of Social History, v. 40, n. 3, 2007. p. 635-662.
SIGAUD, Lygia. Os clandestinos e os direitos: estudo sobre os trabalhadores da cana-de-açúcar de Pernambuco. São Paulo: Duas Cidades, 1979.
SLENES, Robert W. .“Grandeza ou decadência? O mercado de escravos e a economia cafeeira da província do Rio de Janeiro, 1850-1888.” In: COSTA, Iraci del Nero da (Org.). Brasil, história econômica e demográfica. São Paulo: IPE-USP, 1986. p. 103-155.
SLENES, Robert W. ‘Malungu, Ngoma vem!’: África coberta e descoberta do [sic: leia-se “no”] Brasil. Revista USP, n. 12, dez./jan./fev. 1991-1992, p. 48-67.
SOUZA, Laura de Mello e. O Diabo e a Terra de Santa Cruz: feitiçaria e religiosidade popular no Brasil colonial. São Paulo: Companhia das Letras, 1986.
STOCKING Jr., George. The ethnographer´s magic and other essays in the history of Anthropology. Madison: The University of Wisconsin Press, 1992.
TAMBIAH, S. J. The magical power of words. Man, New Series, v. 3, n. 2, jun., 1968, p. 175-208.
TOMICH, Dale W. A “segunda escravidão”. In: Pelo prisma da escravidão: trabalho, capital e economia mundial. São Paulo: EdUSP, 2011. p. 81-97.
VIANNA, Adriana. Etnografando documentos: uma antropóloga em meio a processos judiciais. In: CASTILHO, Sérgio Ricardo Rodrigues; SOUZA LIMA, Antonio Carlos de; TEIXEIRA, Carla Costa (Orgs.). Antropologia das práticas de poder: reflexões etnográficas entre burocratas, elites e corporações. Rio de Janeiro: Contra Capa, Faperj, 2014. p. 43-70
WEBER, Max. [1921] Conceitos sociológicos fundamentais. In: WEBER, Max. Metodologia das Ciências Sociais, parte 2. São Paulo: Cortez, Campinas: Editora da UNICAMP, 1992. p. 399-429.
WEBER, Max. The Religion of China. New York: Free Press, 1968.
WEBER, Max. [1905]. A ética protestante e o espírito do capitalismo. 4a ed. São Paulo: Livraria Pioneira Editora, 1985.
WEBER, Max. [1915-1920]. Confucianisme et taoïsme. Paris: Gallimard, 2000.
WEBER, Max. [1915-1920]. L´éthique économique des religions mondiales. In: Sociologia des religions. Paris: Gallimard, 1996. p. 329-486.
ZELIZER, Viviana A. Economic lives: how culture shapes the economy. Princeton: Princeton University Press, 2011.
Nota
[1] Todas as citações estão nas folhas 17 e 18v do documento citado.













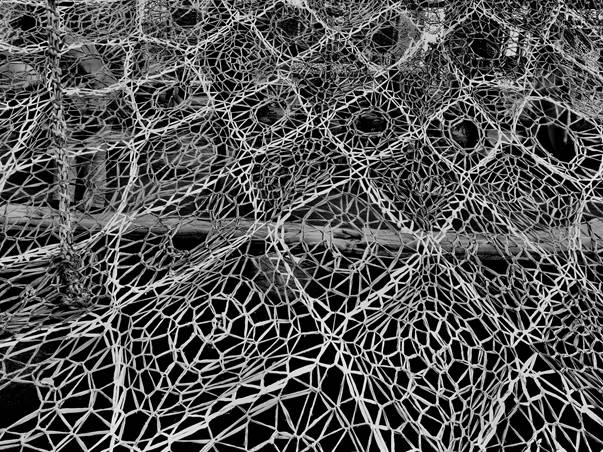

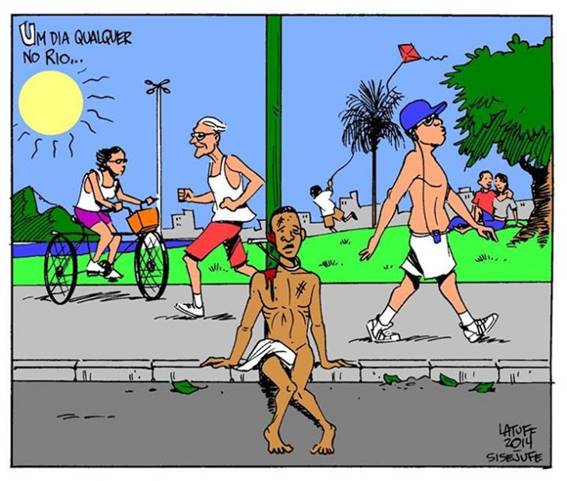


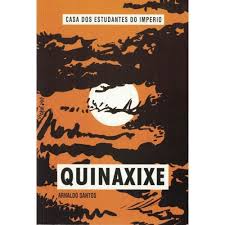






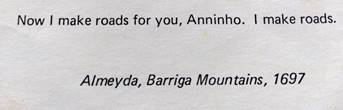





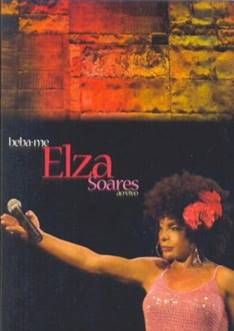







![Bob Wolfenson, capa do álbum Um som [1998]](http://revistazcultural.pacc.ufrj.br/wp-content/uploads/2019/02/cazuza-image002.jpg)