Resumo: Este estudo aborda a escravidão no Brasil a partir da escrita imaginativa de Gayl Jones (1949 – ), que dialoga com a historiografia em abordagem interamericana e diaspórica. A autora negra do estado de Kentucky, sul dos Estados Unidos, recorre à história colonial brasileira para contar histórias emocionadas e contundentes no romance Corregidora (1975) e nos poemas narrativos Song for Anninho (1981) e “Xarque” (1985). Narrados por uma mulher negra em primeira pessoa (respectivamente, uma descendente de escravas, uma palmarista e uma escrava), os textos de Jones se modulam em tons de blues para revelar os sonhos, lutas e dores de mulheres negras nas Américas.
Palavras-chave: Brasil colonial; mulheres negras; diáspora; Américas; contar histórias.
Abstract: This essay approaches slavery in Brazil through the imaginative lenses of Gayl Jones (b. 1949), a black writer from the southern state of Kentucky, in the United States. The inter-American, diasporic concerns in her literature set up a dialogue with Brazilian colonial historiography to tell touching, dramatic stories in the novel Corregidora (1975) and the narrative poems Song for Anninho (1981) and “Xarque” (1985). With a woman as first person narrator (respectively, a descendant of former slaves, a Palmarista or maroon, and a slave), Jones’s texts echo sounds of the blues to reveal the dreams, struggles, and pains of black women in the Americas.
Keywords: colonial Brazil; black women; diáspora; the Americas; storytelling.
Eu me considero, na verdade, uma contadora de histórias.
[…] “Contar histórias” é algo dinâmico, em processo […que] me sugere
possibilidades, muitas possibilidades […]. Também me vejo como contadora
de histórias devido à conexão entre palavra falada e escrita […],
entre tradições orais e documentos escritos. […E] é preciso documentar as
tradições – para combater os efeitos das documentações falsas[1]
(Gayl Jones, 1979, p. 355-56).
Partindo de um viés alternativo para abordar a escravidão no Brasil, este estudo privilegia as histórias contadas em prosa e verso pela escritora negra Gayl Jones. Numa literatura que acena de modo especial aos brasileiros, Gayl Jones convoca nossa atenção para a agudeza do seu olhar e a contemporaneidade de sua abordagem interamericana e diaspórica. Nascida em 1949 na cidade de Lexington, no estado sulista de Kentucky, Estados Unidos, onde ainda vive, a escritora recorreu diversas vezes à história colonial brasileira para compor suas obras, ainda não traduzidas para o português. A mais conhecida em seu país é provavelmente seu primeiro romance, Corregidora (1975), cujo manuscrito causou uma impressão tão forte em Toni Morrison (então editora da Random House), a ponto dela declarar que “nunca mais um romance sobre uma mulher negra poderia ser o mesmo” depois daquele texto revolucionário da iniciante Gayl Jones (apud Ghansah, 2015).[2] Além da valiosa recomendação de Morrison, Corregidora recebeu mais adiante o aval transnacional do autor de O Atlântico negro [The Black Atlantic, 1993] e professor da University of London, Paul Gilroy, que vem estampado na contracapa do romance de Jones na edição de 1987: “O panorama de trauma e superação em Corregidora se tornou ainda melhor e mais relevante com a passagem do tempo. Continua sendo um indispensável ponto de entrada para a tradição da escrita afro-estadunidense, que Gayl Jones renovou e enriqueceu”.[3]
O enredo do romance entrelaça o tempo presente – os anos 1950-1970 em Kentucky – e os traumas coletivos carregados pela narradora Ursa Corregidora, uma cantora de blues, que dá voz e descende de mulheres que foram escravas no Brasil do século XIX, traumatizadas, estupradas e permanentemente marcadas com o nome do senhor de escravos, Corregidora. Nos longos poemas narrativos Song for Anninho (1981) e “Xarque” (1985), por outro lado, Gayl Jones escolhe uma mulher quilombola (denominada Almeyda, em Anninho) e uma escrava urbana (Euclida, em “Xarque”) para contar em verso suas vivências e memórias. A autora recria acontecimentos dos séculos XVII e XVIII, respectivamente, remetendo a locais, fatos e personagens da história colonial brasileira. Mas são, principalmente, histórias femininas e intimistas, imaginadas por Gayl Jones e narradas em primeira pessoa, falando de amores, alegrias, medos, sofrimentos, luta e sobrevivência.
Esses três textos publicados num período de dez anos – Corregidora (1975), Song for Anninho (1981) e “Xarque” (1985) –, compõem o referencial básico para este artigo, lembrando que o interesse da autora norte-americana sobre a história e a cultura afro-brasileira não se encerra neles; abarca vários outros escritos.[4]
Gayl Jones na literatura negra dos Estados Unidos
A obra de Gayl Jones compartilha características marcantes e inovadoras com outras escritoras que publicaram nos Estados Unidos nas décadas de 1970 e 1980. Pode-se destacar, por exemplo, o entrelaçamento da imaginação literária com a história do país e, ultrapassando fronteiras nacionais, com a diáspora africana nas Américas; a ênfase dada às memórias e raízes familiares; e o foco voltado para a mulher (assumido ou não como feminista). Durante essa verdadeira Renascença da literatura feminina/ negra, há um boom na publicação e visibilidade de uma variedade de autoras e gêneros. Além de Gayl Jones, afirmam-se nomes como Paule Marshall, Audre Lorde, Ntozake Shange, Maya Angelou, Toni Cade Bambara, Alice Walker e Toni Morrison. Um traço distintivo no trabalho de Jones e de outras escritoras da época é a consciência das afinidades existentes entre o seu lugar de origem, a área continental dos Estados Unidos, e o Caribe e/ou partes da América Latina. Chama atenção o fato de que três das citadas acima, Jones, Marshall e Shange, deram especial relevo a aspectos da história e da cultura afro-brasileira em suas obras.[5]
Gayl Jones com frequência associa seu trabalho com a linguagem oral e a cultura negra dos Estados Unidos, mas também manifestou sua admiração por romancistas latino-americanos bastante conhecidos em seu país nos anos 1970. Em entrevista de 1979, Jones declarou que a maior influência que recebeu sobre conceitos de ficção veio de Carlos Fuentes e Gabriel García Márquez. A lista de pontos que ela detalha é longa: “imagem, mito, história, linguagem, metáfora, movimento entre tipos diferentes de linguagem e de níveis de realidade […], a relação entre presente e passado com a paisagem […], as ‘revoluções’, ou tipos de mudanças constantes – coisas políticas (Chile, México, Brasil)”. Na percepção de Gayl Jones, a maioria dos escritores latino-americanos é “moral e socialmente” responsável, conciliando “inovação técnica” com implicações humanas. Preocupados com os “pesadelos históricos e contemporâneos” que atormentam seus povos, os escritores latinos, assim como os negros e indígenas dos Estados Unidos, “são sempre responsáveis”, contagiando a autora com sua energia e despertando nela um sentimento de confiança e de grande afinidade [kinship] (Jones, 1979, p. 366-67).
Algumas das escritoras que então despontavam viriam a ser reconhecidas e premiadas, influenciando tendências naquele país e em outras partes do mundo. Destacam-se Alice Walker, primeira autora negra a ganhar um prêmio Pulitzer de Literatura/Ficção (para A cor púrpura [The Color Purple], 1983) e Toni Morrison, agraciada com um Pulitzer/Ficção por Amada [Beloved] em 1988 e com o Nobel em 1993. Outras, como Gayl Jones e Paule Marshall, receberam prêmios e são valorizadas por leitores exigentes, mas suas obras merecem um reconhecimento bem maior, como enfatiza Volk (2001).
A efervescência dos anos 1970-80 contribuiu para a reedição de escritoras relegadas ao esquecimento, como Zora Neale Hurston (1891-1960), que alcança um lugar de respeito na literatura do século XX, e Frances Harper (1825-1911), poeta e romancista do século XIX, ativista política das causas negras e feministas. Essa energia impulsionou também a expansão e o prestígio da teoria crítica sobre a literatura feminina negra e/ou diaspórica, com nomes como bell hooks (em minúsculo), Barbara Christian, Mary Helen Washington, Hortense Spillers, Barbara Smith, Susan Willis e Hazel Carby, além de influentes ensaios produzidos pelas autoras de poesia e ficção e das parcerias feministas inter-raciais e interculturais que se abrem a uma crescente interamericanidade.
Relações interamericanas, transnacionais, diaspóricas
Toda essa movimentação na literatura e na crítica não acontece de forma isolada; ela tanto repercute quanto revigora mudanças sociais e culturais que se propagam nos Estados Unidos e em outras partes do mundo na segunda metade do século XX. Há os processos de independência de ex-colônias europeias na África e na região caribenha, intensificados naquela época; o incremento de contatos acadêmicos interamericanos e a grande migração de chicanos, latino-americanos e caribenhos para os Estados Unidos. Temos ainda o movimento dos Direitos Civis, os protestos políticos contra a guerra e pela liberdade, a contracultura, as organizações e bandeiras raciais (como Black Power, Black Arts, Afrocentrism) e o movimento feminista, em ramificações diversas. O feminismo negro reforça a necessidade de reconhecer e privilegiar este segmento específico, tendo em vista que, como afirma hooks (1981, p. 7), “nenhum outro grupo nos Estados Unidos teve sua identidade tão excluída do corpo social quanto as mulheres negras”.[6] Em graus e estilos variados, a literatura negra de autoria feminina se associa à expansão de pesquisas acadêmicas nas áreas de história e estudos sociais abordando o colonialismo e seus legados, a diáspora africana nas Américas, os sistemas escravistas, as formas de resistência escrava, os mecanismos de sobrevivência e adaptação, além da relação entre países americanos, sua cultura e história.[7]
É verdade que o reconhecimento dos laços culturais e raciais de caráter interamericano não era algo novo naquele país. Já nas primeiras décadas do século XX, época do primeiro boom da música e literatura black no Harlem, Nova York – a chamada Harlem Renaissance –, o poeta Langston Hughes (1902-1967) cruzava fronteiras, visitando e escrevendo particularmente sobre o México e Cuba. Desde então, os olhares e interesses de escritores, artistas, músicos, intelectuais e pesquisadores negros dos Estados Unidos se voltam cada vez mais para o espaço caribenho em razão da sua centralidade geográfica, da pluralidade cultural e da violência histórica ali gerada e irradiada desde a chegada dos europeus, com a dizimação de povos nativos e a implantação do tráfico escravista.
Vale lembrar o conceito de “Extended Caribbean” ou Grande Caribe, imaginado pelo viés da economia política por Immanuel Wallerstein (1980) para sublinhar características comuns às áreas onde milhares de africanos foram escravizados para garantir o domínio europeu sobre as colônias. Ultrapassando o âmbito das ilhas que marcam o começo da América e interligam hemisférios, e mesmo o conjunto de países em torno do Mar do Caribe, o termo “Extended Caribbean” é tomado emprestado e adaptado aqui para abranger a faixa ao longo do Oceano Atlântico que se estende aproximadamente deste o estado de Maryland, nos Estados Unidos, até o sudeste do Brasil. Reproduzido abaixo, um mapa inspirado em Wallerstein remete à conexão histórica, cultural e econômica entre hemisférios, países, regiões e cidades geograficamente distanciados e politicamente separados por fronteiras e línguas.

O estudo de Wallerstein interliga as economias “modernas” das sociedades que se desenvolveram no “Grande Caribe” em torno das minas de ouro e/ou das plantations, as fazendas de cana de açúcar, algodão e café, com base na mão de obra africana escravizada. Seu conceito oferece um recurso estratégico para abordar a escritora Gayl Jones que, a partir de Kentucky, nos Estados Unidos, focaliza importantes momentos históricos em pontos geográficos diversos do Brasil colonial. Outros historiadores e antropólogos daquele país usam denominações como “Plantation America” e “Afro-America” para identificar aproximadamente a mesma área, mas com interesse primordial nas questões raciais e socioculturais decorrentes da escravidão (por exemplo, Charles Wagley, 1968, p. 14).
A Afro-América une hemisférios, entrelaçando histórias coloniais e culturas de raízes africanas, e o Brasil tem lugar destacado nesse espaço e nessa história. Em 2018 o Museu de Arte de São Paulo (MASP) e o Instituto Tomie Ohtake abriram ao público uma grande mostra intitulada Histórias afro-atlânticas, com “obras de arte e documentos relacionados aos ‘fluxos e refluxos’ entre a África, as Américas, o Caribe e também a Europa, ao longo de cinco séculos”. Como parte da proposta de “descolonizar” a percepção do saber e da arte e transformar museus em espaço “diverso, inclusivo e plural”, a exposição centralizou a matriz africana, explorou as rotas entre continentes e privilegiou os afrodescendentes em suas obras de arte e formas de resistência. Em seu mapeamento, a Afro-América se expande para incluir até o Uruguai. Nesse enorme cenário, os diretores do Museu enfatizam: “O Brasil é um território chave nessas histórias, pois recebeu cerca de 40% dos africanos que deixaram seu continente, durante mais de trezentos anos, para serem escravizados deste lado do Atlântico” (Martins e Pedrosa, 2018, p. 28).
Nas últimas décadas do século XX e primeiras do século XXI, intensas migrações internacionais provocam mais aproximações, misturas, choques e embates. A evolução nas comunicações e transportes facilita contatos sociais e profissionais e a disseminação de saberes, mas também traz maior concentração de poder e riqueza. Esses fatores têm estimulado questões renovadas sobre antigos e novos colonialismos, a persistência de valores eurocêntricos e esquemas de discriminação com base em local, raça, cor, gênero, religião e outros marcadores de diferença. Tais dilemas trazem impulsos adicionais para a expansão de estudos literários e culturais de caráter interamericano/ diaspórico/ global e o desenvolvimento de ferramentas teóricas que contribuam para a análise dos novos desafios.
Este trabalho se desenvolve em grande parte com o suporte de estudos sobre a escravidão brasileira e formas de rebelião adotadas pelos escravos, associados a pesquisas sobre a persistência de legados patriarcais e coloniais, dentro de um quadro crítico-conceitual que inclui estudos feministas, culturais e de-coloniais, com elaborações sobre identidades afro-americanas e hibridismos culturais. Os cruzamentos e colaborações podem ser pensados como movimentos culturais minoritários, transversos e transnacionais, sob o conceito de “minor transnationalism” (Lionnet & Shih, 2005, p. 7-9), relacionado às teorias da relação e transversalidades elaboradas por Édouard Glissant (1928-2011). Em diversos momentos o pensador nascido na Martinica ressalta a interligação das Américas e a importância caribenha, e as razões são muitas:
O Caribe sempre me pareceu ser uma espécie de prefácio ao continente americano. […] Foi o lugar do primeiro desembarque dos escravos vítimas do tráfico, dos escravos que vivenciaram o tráfico – e que depois eram orientados para a América do Norte, para o Brasil, ou para as ilhas da região. […] Repito sempre que o mar do Caribe se diferencia do mar Mediterrâneo por ser um mar aberto, um mar que difrata […] e leva à efervescência da diversidade. Ele não é apenas um mar de trânsito e de passagens, mas é também um mar de encontros e de implicações (Glissant, 2001, p. 14-17).
O Brasil imaginado por Gayl Jones
Desde a primeira metade do século XX, o Brasil é foco constante de atenção para estudiosos norte-americanos da história colonial, relações inter-raciais e africanismos, as heranças africanas perceptíveis na cultura do país, principalmente na linguagem, culinária e bebida, música e dança, religião, crenças e costumes.[8] Têm a expectativa de encontrar aqui traços ou indícios relevantes para os muitos descendentes de africanos violentamente cortados de sua história e de seus ancestrais. Afinal, o Brasil foi o maior importador de escravos africanos nas Américas e o último a abolir totalmente a escravatura, tendo hoje a maior população de descendência africana fora da África. Por outro lado, a igualdade racial permanece um objetivo a ser conquistado. Como aponta Heloisa Toller Gomes (2009, p. 15) com referência ao Brasil e aos Estados Unidos, “aqui e lá (assim como em todas as antigas sociedades coloniais nas Américas, erigidas sobre a escravidão), os códigos de conduta diante das relações étnico-raciais se mantiveram obstinadamente refratários a mudanças”, deixando espaços vazios e “silêncios eloquentes” a respeito da escravidão e da pessoa negra.
Gayl Jones, menina tímida e pobre que amava ouvir as conversas dos adultos e as histórias escritas e lidas por sua mãe Lucille, foi sempre fascinada pelo ato de imaginar e contar histórias. A linguagem oral, os sons das palavras, a música e os relatos sobre o passado encantavam e inspiravam a garota que já escrevia seus primeiros registros aos sete/oito anos de idade. Até a adolescência estudou em escola segregada, só para negros, quando afinal começa a integração racial nos estados sulistas. Falando como autora a uma entrevista, citada em epígrafe, Jones se define como uma “contadora de histórias” [storyteller], que tenta reproduzir o ritmo e a integridade das narrativas orais, buscando conexão com o ouvinte. Ela retoma esse tipo de narrativa que é tradicional e ao mesmo tempo dinâmica, em processo, atuando na contraposição às “documentações falsas” (Jones, 1979, p. 355-356).
Nos anos 1970, a escrita de Gayl Jones se afirma com o desejo de registrar tradições, reescrever a história e preencher lacunas, particularmente sobre a figura complexa da mulher negra e escrava, ainda ignorada por estudiosos e mantida na sombra. A escritora procura, porém, abrir relações e horizontes em seus textos literários e ensaios críticos, abraçando culturas mestiças e criando interações entre personagens de raças diversas, fugindo à pureza monocromática e à dicotomia preto/branco ou afro/euro. Afastando-se também do foco exclusivo no país, a escritora defende uma “estética do Terceiro Mundo” que comporia o legítimo “romance afro-americano” [“the African-American novel”]: enraizado no folclore e histórias orais, estética e criticamente “decolonizado”, “afrocêntrico” e, ao mesmo tempo, “multicultural”, “multiétnico” e feminista, ou melhor, “Afro-womanist” (Jones, 1994, p. 507-512).
O termo adotado por Jones agrega o referente “Afro” a “womanist”, conceito proposto dez anos antes por Alice Walker (1984, p. xi-xii), acentuando a diferença feminina-negra.[9] Gayl Jones se alia também à obra literária de Alice Walker, escritora do estado da Georgia e, portanto, sulista como ela, para ilustrar a conexão entre o presente e a história e também as marcas de ambivalência e contradição em temas e personagens. Tem interesse pessoal na complexidade das relações humanas, as ambiguidades, paradoxos, violências e tensões, pontos que definem sua própria escrita e que também percebe em Alice Walker (Jones, 1982, p. 38).
Tais características se entrelaçam nos ‘textos brasileiros’ criados por Gayl Jones, nos quais a escritora combina fatos e personagens históricos, lendas folclóricas (em torno do jabuti, por exemplo), referências linguísticas e aspectos culturais, sem ter nunca visitado pessoalmente o país. Foi possivelmente inspirada por suas muitas leituras e pelo contato com professores e poetas, como Michael S. Harper (1938-2016), seu mentor durante o mestrado e doutorado na conceituada Brown University. Sensível, poeta premiado e professor admirado, Harper era profundamente interessado em história, mito, folclore negro, nos ritmos do jazz e do blues e, também, na cultura de outros povos e raças.
A entrevista concedida a Charles H. Rowell em 1982 possibilitou a Gayl Jones esclarecer seu prolongado interesse na escravidão do Brasil e situar-se num quadro amplo e interamericano: “Gostaria de poder lidar com todo o continente americano em minha ficção – a totalidade das Américas – e escrever com imaginação sobre negros em qualquer lugar e em toda parte.” [10] Segundo a autora, os contatos com a cultura brasileira, ainda que de forma indireta, contribuíram para o enriquecimento do seu próprio trabalho, pois “recorrer à história e à paisagem brasileira ajudaram minha imaginação e minha escrita”. Para alcançar isso, Jones desenvolveu “a necessária pesquisa sobre fatos históricos e sociais”, inclusive para reportar-se a figuras históricas (como Zumbi, Ganga Zumba, Domingos Jorge Velho etc.) e também para se apropriar de alguns nomes e atribui-los a personagens imaginários bem distanciados do ‘original’.[11] É o caso do sobrenome do governador de Pernambuco, D. Pedro de Almeida, usado como primeiro nome da mulher Almeyda, sobrevivente de Palmares, personagem-título do conto “Almeyda” (1977) e protagonista-narradora no poema Song for Anninho (1981), rememorada em “Xarque”(1985). A experiência brasileira (“puramente literária e imaginativa, já que nunca estive lá”, declara Jones) permitiu à escritora maior flexibilidade para abordar a extrema violência contra a mulher (e não ser acusada de exagero, já que se apoiava em fatos reais). Além disso, contribuiu para que olhasse de outra maneira as vidas das mulheres negras em seu próprio país (Jones, 1982, p. 40-41).
Nos dois textos longos poéticos aqui focalizados, Song for Anninho e “Xarque”, a escritora evoca locais, cenas e crenças africanas enquanto imagina histórias e vivências cotidianas de quilombolas e escravos em locais específicos do Brasil. Inspirada pela longa e sofrida história da escravatura no Brasil e, principalmente, pela resistência palmarista, Gayl Jones dialoga com a historiografia e abraça a causa quilombola, que é central para o movimento negro brasileiro e repercute nas Américas. Dada sua importância como resistência ampla e organizada – que envolveu diversos núcleos prósperos e ameaçou por quase um século o sistema escravagista –, Palmares é reconhecido como o maior movimento desse tipo conduzido por escravos fugidos ou maroons. A memória de Zumbi e de Palmares permanece viva e inspiradora, mesmo após sua destruição: todos se unirão novamente “em um Novo Palmares”, porque a força de Zumbi será imortal, em “carne e sangue e espírito” (Jones, 1981, p. 15, 59). A República palmarista é recriada por Gayl Jones ao longo das 80 páginas de Song for Anninho, poema-testemunho que termina assinado com local e data, como um documento sobre a grande utopia de liberdade brasileira.
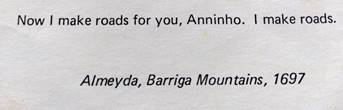
A memória da resistência e a esperança em um Novo Palmares contagiam os personagens de “Xarque”, relato poético de 45 páginas narrado pela voz de Euclida e localizado em “Recife, Brasil, 1741” (1985, p. 51). Mesmo dois séculos após seu fim, a força simbólica de Palmares sustenta ainda os escravos oitocentistas do romance Corregidora (1975); o sonho permanece forte em meio à grande violência contra os corpos negros. A bisavó de Ursa lembra muito bem de um jovem africano que conhecera numa fazenda do Brasil:
“Ele tinha esse sonho, sabe, de fugir e se juntar com os quilombolas em Palmares. Eu vivia repetindo prá ele que isso tinha sido muito antes do seu tempo, mas ele não acreditava, dizia que ia se unir a esses negros que tinham dignidade.[…] Eu disse que ele não ia achar o caminho porque Palmares tinha sido lá atrás, há dois séculos, mas ele disse que Palmares era agora. […] Não devia ter mais de dezessete ou dezoito anos” (Jones, 1975, p. 126-127).[12]
Em vez de privilegiar os heróis oficiais, Gayl Jones ilumina as lutas, sofrimentos e amores de pessoas comuns, dando voz às mulheres negras da era colonial e às que vieram depois. Em Corregidora, romance em formato experimental e estilo “blues”, a autora tentou explorar relacionamentos (entre mulheres; entre mulheres e homens) em situações de tensão e contradição. Intercalando tempos e espaços, o texto cobre um período que vai desde o século XIX no Brasil escravista até o presente segregado e opressivo no sul dos Estados Unidos. A relação entre oralidade, música e escrita é marcante; Corregidora foi primeiramente pensado como uma canção, um ritual, uma combinação ambígua de sonhos e memórias, prosa e poesia, vida e escrita, desafiando gêneros estabelecidos (Jones, 1979).
As três obras se interligam em personagens, episódios e referências históricas que denunciam a opressão, o racismo, o sexismo e a exploração continuada do corpo feminino e negro, em linguagem contundente, por vezes chocante, ou surpreendentemente lírica. Em Corregidora, as memórias da avó e da bisavó de Ursa sobre o apetite sexual e o domínio violento do senhor Corregidora sobre suas escravas ultrapassavam qualquer pesadelo. As duas foram “testadas”, estupradas e engravidadas por ele, de modo que tanto a avó quanto a mãe de Ursa eram filhas biológicas de Corregidora (que não era totalmente branco; tinha cor de índio, segundo dizia a bisavó e mostrava um retrato dele). Ursa é descendente desse homem e odeia os traços híbridos, herdados dele, que enxerga em seu próprio rosto. Os traumas são passados de geração em geração, de corpo a corpo de mulheres comprometidas em gerar filhas que mantivessem ‘o nome do pai’ para denunciar o horror da história. Mas isso não seria, também, um prolongamento da escravidão?, questiona o texto. Ao ser contada e cantada, a dor pede alívio, corpo e voz clamam por um novo tempo.
O corpo feminino abusado e ferido é recorrente nas obras de Gayl Jones. Em Song for Anninho, no ataque final a Palmares, Almeyda teve os seios amputados e jogados num rio por soldados portugueses. Em fuga na mata, recebe os cuidados mágicos das mãos de Zibatra, sábia curandeira que a ouve e socorre, lhe dá de comer e beber e adivinha sua história: sabe que Almeyda nasceu em Recife por volta de 1669, que é católica e que sua avó africana lutou contra holandeses e portugueses. Esta avó, lembrada em diversas partes do poema, era uma bela e inteligente muçulmana que se fingia de católica e admirava o saber dos jesuítas, com quem gostava de conversar (1981, p. 35). Almeyda rememora os tempos de escrava junto com a mãe e a avó em fazenda de cana de açúcar, e depois como ajudante de um sapateiro que a espancava até sangrar. Por fim, foi raptada e levada por homens de Palmares (Jones, 1981, p. 28-29). Zibatra é outra figura feminina sábia e amorosa: fala as línguas portuguesa e tupi, domina os cantos sagrados, a Bíblia e outros saberes místicos, conhece as matas e usa as ervas para aliviar a febre e curar as feridas do corpo de Almeyda. Ao avistar “os globos dos seios flutuando no rio”, Zibatra os enrola e esconde, estanca o sangue com barro, coloca Almeyda num cobertor e a carrega para dentro da mata (p. 11).
Depois que se perde de Anninho, que era um soldado muçulmano de Zumbi, parece restar a Almeyda apenas a lembrança dos carinhos de seu companheiro.
Onde está ele? A guerra de Palmares
acabou, nós fugimos; os soldados portugueses
nos alcançaram no rio.
Minha memória não vai além disso
(Jones, 1981, p. 11).[13]
Coberta com o barro do rio, Almeyda se sente literalmente unida a essa terra que é vida, lar, lugar e história. É como se “o sangue de todo o continente” corresse em suas veias (Jones, 1981, p. 12). Ela conversa com o amado, mesmo em delírio:
Esta terra é minha história, Anninho,
nada menos que esta terra inteira.
Construímos nossas casas no topo
da história.
Você lembra como era,
lá no alto das montanhas?
(Jones, 1981, p. 10-11).[14]
Almeyda recorda as histórias contadas pelo companheiro, que nasceu livre e foi para Palmares por vontade própria. Como não era um escravo fugido e procurado, tornou-se útil à República por circular com facilidade nos vilarejos e fazendas dos arredores, atuando no comércio e colhendo informações. Ele havia conhecido Ganga Zumba, “o velho tolo” que acreditou nas promessas dos portugueses e ia entregar os quilombolas todos, mas foi morto pelo sobrinho Zumbi. Nas palavras de Anninho, “só aqui existe dignidade e posição”, mas é uma liberdade necessariamente vigilante e armada (p. 37).
Sem conseguir aceitar tanta guerra e tamanha crueldade, Almeyda relembra as indagações cruciais que havia feito a sua avó. Falam do Brasil colônia, mas poderiam estar se referindo ao Brasil ou aos Estados Unidos dos dias atuais, do nosso tempo.
Então pergunto, “Porque eles precisam sempre tentar
nos destruir? Porque não nos deixam ficar
neste lugar que fizemos para nós mesmos?” […]
“Este é um país que não deixa os homens
serem gentis. Homens brancos ou negros. […]
E ela disse que não é fácil amar
num tempo como este. Não é fácil
nem para um homem, nem para uma mulher”
(Jones, 1981, p. 37-38).[15]
As três obras aqui focalizadas compartilham o referencial brasileiro e também a ênfase no matriarcado, com diversas gerações de mulheres da mesma família sendo representadas e sua experiência sendo lembrada e recontada pela descendente-narradora. Nos sonhos e delírios de Almeyda em Song for Anninho, por exemplo, a avó lhe fala sobre a necessidade da gentileza e a certeza de uma nova era chegando, quando será fácil mostrar ternura. “Você acredita nisso, vovó?”/ “Sim.” (Jones, 1981, p. 40-41).[16] Seria o diálogo a projeção do desejo de Almeyda, e não fato guardado na memória? Em sua mente torturada e confusa, essa palavra de esperança se mistura a previsões opostas e sombrias sobre o futuro, ditas pela mesma avó e um dia relatadas por Almeyda a Anninho:
“Não. Ela me disse que sabia que não era verdade
que chegaria a hora em que os tempos duros
teriam fim. Não haveria tal momento,
nunca na vida dela, nem na minha e nem
nas vidas dos que vierem depois de nós”
(Jones, 1981, p. 44-45).[17]
E agora, teria sido mesmo a avó quem fez essa “profecia terrível”? Mas ela não enfatizou a ternura, que haveria de prevalecer? Será que essa previsão pessimista não foi feita pela escrava que se automutilara para não ter nem homem nem filhos, mulher que surge trágica e recorrente nas lembranças de Almeyda?[18]
No fluxo de consciência apresentado por Gayl Jones em Song for Anninho, o real e o sonhado se misturam e se confundem. Há também lembranças de momentos doces e das conversas com Anninho, que a avó não chegou a conhecer. Ele era um dos palmaristas que capturaram a moça escrava e a trouxeram para o quilombo, junto a outras mulheres. Até então Anninho “estava convicto de que [aquele] não era nem o momento nem o lugar para uma mulher”, mas quando viu Almeyda, chegando tão amedrontada e cansada, percebeu que “teria que criar a hora” [I would create time] (p. 42-43). Mas ela chegou a ter medo do amado, quando o corpo dele estava tomado pelo ódio. Existirá um tempo certo e uma linguagem apropriada para o entendimento e o amor? é a pergunta que ressoa como refrão neste canto/ song.
A estratégia narrativa traz a confluência de tempos diversos e do real maravilloso presentes em autores como García Márquez e Fuentes. Aspectos violentos, contraditórios e paradoxais também existem na literatura dos dois escritores e em Alice Walker, todos admirados por Jones. Em sua riqueza imaginativa, o texto poético de Gayl Jones é lírico e épico, prosaico e filosófico, narrativo e reflexivo. Conta fatos da história entrelaçados a experiências cotidianas e relacionamentos fictícios, e ao mesmo tempo medita sobre os desafios da existência e da história, as crises políticas, as guerras e os conflitos humanos, o desejo e o amor. A escritora considera que suas “histórias mais autênticas estão em primeira pessoa”, exatamente quando tenta “entrar nas personagens e contar suas histórias como elas teriam contado” (Jones, 1982, p. 37).[19]
Ainda há muito a descobrir sobre o que de fato aconteceu e como viveram as pessoas em Palmares. Os documentos e fontes sobre o quilombo ou agrupamentos semelhantes têm geralmente o selo dos poderes coloniais. Nas palavras de Décio Freitas (1982, p. 13), “a República Negra será sempre vista de longe”, e pouco se consegue imaginar do seu interior. João José Reis e Flavio dos Santos Gomes (1996, p. 11-12) apontam as muitas abordagens existentes sobre Palmares, desde a visão colonial, que insere sua destruição e a vitória do poder constituído na história militar brasileira, passando por interpretações “culturalistas” na primeira metade do século XX e uma corrente “restauracionista”, que mostra Palmares como a tentativa de “restaurar a África neste lado do Atlântico”. Na segunda metade do século XX vieram estudiosos marxistas, socialistas, e ligados ao movimento negro. Análises mais recentes dos quilombos cobrem mais regiões e apontam “para uma complexa relação entre os fugitivos e os diversos grupos da sociedade em torno deles”, embora persistam polêmicas quanto a número, tipo de organização e variedade de habitantes, raças e etnias no conjunto das vilas palmarinas (Reis e Gomes, 1996, p. 13-14).
Gayl Jones recria personagens e episódios relacionados às guerras e sofrimentos, mas também ressalta aspectos do cotidiano e da cultura afro-brasileira em seus sincretismos e multiplicidades. Integra à sua “contação de histórias” diversos pontos de interesse de historiadores e antropólogos e ainda questões cruciais para o pensamento contemporâneo. Entrelaça comentários sobre a linguagem, suas seleções e exclusões, o aspecto ‘construído’ de documentos, a importância do relato oral para o conhecimento de vivências e identidades à margem da história oficial, as relações inter-raciais e as questões de gênero.[20] Em Song for Anninho (1981, p. 17), as raízes na África são valorizadas por Almeyda tanto quanto seu pertencimento ao Brasil, com sua bela paisagem e sua realidade desafiadora. Ela assim diz, na canção dedicada a Anninho:
Sou neta de uma africana.
Esta é a minha terra.
Pego o óleo da palmeira e o esfrego no meu cabelo e corpo.
Este é o meu lugar. Minha parte do mundo.
A paisagem e a ternura,
também as guerras e o desespero. [21]
Jones incorpora lendas africanas e afro-americanas que mostram, por exemplo, a possibilidade de os africanos voarem, referência utilizada por Toni Morrison no romance Canção de Solomon [Song of Solomon, 1979]. Essa crença ressurge no Brasil em relatos sobre a destruição de Palmares, quando Zumbi e seus guerreiros teriam voado da montanha para a liberdade. São evocados por Almeyda:
E nossos bravos palmaristas, saltaram do penhasco ao invés da rendição.
Ah, se eles puderam se tornar pássaros naquela hora! […]
Mesmo agora continuo a olhar os pássaros,
na esperança de que seja algum palmarista!
(Jones, 1981, p. 36).[22]
A personagem Almeyda sobrevive à guerra e ressurge em “Xarque”. É avó da jovem escrava (e narradora) Euclida, insegura e arredia por ter perdido a mão após ser mordida por uma cobra jararaca. Ela se define como brasileira e filha de Bonifácia, esta conhecedora de muitas ervas, curas e antídotos que aprendeu com a mãe. Euclida herdou da avó o gosto pelos prazeres simples da natureza, mas com o insucesso da segunda tentativa de se estabelecer um Palmares em território brasileiro, ela tem medo de novos sofrimentos.[23]
Sou uma mulher tímida
que receia mudanças.
Sonho com redes macias,
com penas e capim. […]
Sonho com figos do mato
e com minha avó guerreira.
Mas sou uma mulher tímida.
(Jones, 1985, p. 7) [24]
Para sobreviver, Euclida força um sorriso e trabalha sem parar. Mas, como sua avó Almeyda, ela um dia encontra a doçura e o carinho em um negro bonito e livre (Feijó), que conheceu pescando no rio Maranhão: “Me senti uma deusa como Iemanjá,/se erguendo do mar./ Ele passou mel na minha testa/ e então me beijou./ ‘Me conta de você’” (Jones, 1985, p. 49).
Tanto em Song for Anninho quanto em “Xarque”, as jovens narradoras adotam uma linguagem simples e coloquial, como se contassem uma história oral ou escrevessem impressões e pensamentos num diário ou numa carta ao amado, em tons de um blues cadente, apaixonado e melancólico. Em Song for Anninho, a sobrevivente Almeyda rememora o sonho compartilhado com o amado Anninho, a força herdada de sua avó escrava, o movimento de resistência coletiva de que participou e, também, a crueldade dos colonizadores e a ameaça de destruição de Palmares. Euclida, neta de Almeyda, conta em versos livres sobre seu trabalho numa fábrica de carne-seca e o de sua mãe como cozinheira, na casa do dono da fábrica. As duas estavam entre os escravos e alguns libertos que acabaram chegando no vilarejo às margens do Rio Parnaíba, bem ao norte do Brasil. Em “Xarque”, a jovem Euclida expõe seu medo, a exploração e mutilação do corpo escravo, a persistente rebeldia negra, a frustrada tentativa de construção de um Novo Palmares.[25] Fala também do sonho recente de fuga “para o norte”, para além das fronteiras brasileiras. Como deseja a criança abandonada pela mãe que havia partido para tentar a sorte em Paris:
“Não a culpo nem um pouco. […]
Mas se fosse eu, iria para o norte.
Dizem que esse é o lugar
para ter aventura e fortuna de verdade.
Subir até a América do Norte,
é para lá que eu vou.”
(Jones, 1985, p.41) [26]
Gayl Jones escolhe mapear cenários importantes na história colonial brasileira e interamericana. Assim é a Serra da Barriga, então na Capitania de Pernambuco e hoje município de União dos Palmares, Alagoas, onde Almeyda consegue sobreviver para contar histórias vividas no quilombo. Também relevante é o Rio Parnaíba, em “Xarque”, cuja denominação foi dada pelo bandeirante Domingos Jorge Velho, que conduziu a tropa para destruir Palmares e aparece como personagem em Song for Anninho e em Corregidora. Maior rio reconhecidamente “nordestino” e totalmente navegável, o Parnaíba corre entre os estados de Maranhão e Piauí até desaguar num grande delta no Oceano Atlântico, “o único delta em mar aberto das Américas” (Wikipedia). Localizado num ponto do mapa voltado para o hemisfério norte, o Delta do Parnaíba parece apontar para espaços além da fronteira, no Caribe e nos Estados Unidos. Esta era a rota desejada por uma personagem em “Xarque”, mas o plano se concretiza para duas escravas que deixam o Brasil, a bisavó e a avó de Ursa, no romance Corregidora. A bisavó consegue escapar da prisão de sexo e terror em que se encontrava sob Corregidora, cruza a fronteira e chega à Louisiana. Em 1906 volta para buscar a filha, também abusada e engravidada por Corregidora. As duas refazem o percurso rumo ao norte e vão até o Kentucky, em busca de trabalho e liberdade (Jones, 1975, p. 79).
Mesmo com tantas dores vividas e lembradas, as personagens de Gayl Jones, mulheres e homens, gostariam de superar as ameaças, de conseguir amar um ao outro e não sofrer mais violência ou mutilação. Será possível o sonho? Em Song for Anninho, sempre com jeito de blues, Almeyda anuncia a esperança no corpo solto e no contato humano, docemente, fora da linguagem, apesar da história: nós faremos nosso tempo.
Fale comigo suave e bem perto com um beijo, Anninho.
E nós teremos nosso tempo de ternura.
Nós faremos nosso tempo de ternura
(Jones, 1981, p. 78).[27]
* Stelamaris Coser é professora aposentada do Departamento de Línguas e Letras e do Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários (UFES). Mestre em Letras/Literatura Norte-Americana (UFRJ) e doutora em Estudos Americanos (University of Minnesota), desenvolve Projeto de Estágio de Pós-Doutorado no PACC/UFRJ. Autora de Bridging the Americas: The Literature of Paule Marshall, Toni Morrison and Gayl Jones (1994); organizadora de O papel de parede amarelo e outros contos (2006) e de Viagens, deslocamentos, espaços (2016), entre outras publicações.
Referências
COSER, Stelamaris. Bridging the Americas: The Literature of Paule Marshall, Toni Morrison, and Gayl Jones. Philadelphia: Temple, 1994.
FREITAS, Décio. Palmares: a guerra dos escravos. 4. ed. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1982.
GHANSAH, Rachel Kaadzi. The Radical Vision of Toni Morrison. The New York Times Magazine, April 8, 2015. Disponível: https://www.nytimes.com/2015/04/12/magazine/the-radical-vision-of-toni-morrison.html. Acesso em: 15 fev. 2019.
GILROY, Paul. The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1993.
GLISSANT, Édouard. Introdução a uma poética da diversidade [Introduction à une poétique du divers, 1996]. Trad. Enilce Albergaria Rocha. Juiz de Fora: Editora UFJF, 2001.
GOMES, Heloisa Toller. As marcas da escravidão: o negro e o discurso oitocentista no Brasil e nos Estados Unidos. 2. ed. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2009.
HOOKS, bell. Ain’t I a Woman?: Black Women and Feminism. Boston, MA: South End Press, 1981).
JONES, Gayl. Corregidora. Boston: Beacon, 1975.
JONES, Gayl. Almeyda. The Massachusetts Review, v. 18, n. 4, p. 689-691, Winter 1977.
JONES, Gayl. An Interview. Concedida a Michael S. Harper. In: HARPER, M.S.; STEPTO, R.B. (ed.). Chant of Saints: A Gathering of Afro-American Literature, Art, and Scholarship. Chicago: University of Illinois Press, 1979. p. 352-375.
JONES, Gayl. Song for Anninho. Detroit, Lotus, 1981.
JONES, Gayl. An Interview. Concedida a Charles H. Rowell. Callaloo, v. 5, p. 32-53, Oct. 1982.
JONES, Gayl. Xarque. In: JONES, Gayl. Xarque and Other Poems. Detroit, Lotus, 1985. p. 7-51.
JONES, Gayl. From the Quest for Wholeness: Re-imagining the African-American Novel – An Essay on Third World Aesthetics. Callaloo, v. 17, n. 2, p. 507-518, 1994.
LIONNET, Françoise; SHIH, Shu-Mei. Thinking through the Minor, Transnationally; Introduction. LIONNET & SHIH (Eds.). Minor Transnationalism. Durham & London: Duke University Press, 2005. p. 1-23.
MARTINS, Heitor; PEDROSA, Adriano. Histórias afro-atlânticas no MASP. In: Histórias afro-atlânticas; Catálogo. São Paulo: MASP/Tomie Ohtake, 2018. v. I. p. 28.
REIS, João José. Quilombos e revoltas escravas no Brasil. Revista USP, São Paulo, n, 28, p. 14-39, dezembro/ fevereiro 1995/96.
REIS, João José; GOMES, Flávio dos Santos. Liberdade por um fio: história dos quilombos no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
VOLK, Chris. Interview with Chris Volk, Regarding Black Writers & Literature. Entrevista concedida a Shirley Bryant. IOBA Standard: The Journal of the Independent Online Booksellers Association, v. 2, n. 3, Winter 2001. Disponível: http://www.ioba.org/newsletter/V5/CVolk.html. Acesso: 22 out. 2005.
WAGLEY, Charles. The Latin American Tradition: Essays on the Unity and the Diversity of Latin American Culture. New York: Columbia University Press, 1968.
WALKER, Alice. In Search of Our Mothers’ Gardens; Womanist Prose. Orlando, FL: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1984.
WALLERSTEIN, Immanuel. The Modern World System. New York: Academic, 1980. v. II.
Notas
[1] As traduções de textos citados são de minha responsabilidade, e o original segue em nota. “[…] I really think of myself as a storyteller. […] “Storytelling” is a dynamic word, a process word. […] (it) suggests possibilities, many possibilities. […] I see myself as a storyteller also because of the connection between the spoken and the written. […] between the oral traditions and the written documentation […] it’s necessary to document the traditions – to counteract the effects of the false documentations.”
[2] “[…] no novel about any black woman could ever be the same after this.”
[3] “Corregidora’s survey of trauma and overcoming has become even better and more relevant with the passage of time. It remains an indispensable point of entry into the tradition of African American writing that Gayl Jones reshaped and enriched.”
[4] Há poemas no livro The Hermit Woman (1983), cenas e personagens no romance Die Vogelfängerin (1986), publicado apenas em alemão (The birdcatcher ou O apanhador de passarinhos). “Ensinança” é nome de personagem desse romance e também título de um poema e um conto (1983). O jabuti e a suas lendas surgem em vários trabalhos e há referências “brasileiras” em The Healing (1998) e Mosquito (1999). Existe ainda o manuscrito inédito de um romance de 1.000 páginas intitulado Palmares.
[5] As três escritoras (mais Edwidge Danticat) fazem parte do projeto de pesquisa que desenvolvo no momento junto ao PACC: “A diáspora africana no Grande Caribe: visões de Brasil na literatura feminina-negra da América do Norte”.
[6] hooks explica: “Quando se fala de pessoas negras, o foco tende a ser os homens negros; e quando se fala de mulheres, o foco tende a ser as mulheres brancas”, como acontece em grande parte da produção feminista dos anos 1970-80. Destaques no original: “No other group in America has so had their identity socialized out of existence as have black women. […] When black people are talked about the focus tends to be on black men; and when women are talked about the focus tends to be on white women.”
[7] Publicam-se estudos pioneiros de autoria feminina e com foco explícito na mulher negra (no país e na diáspora), por ex.: F.C. Steady (The Black Woman Cross-Culturally, 1981); P. Giddings (When and Where I Enter: The Impact of Black Women on Race and Sex in America, 1984); D.G. White (Ar’n’t I a Woman?: Female Slaves in the Plantation South, 1985); R. Terborg-Penn (“Women and Slavery in the African Diaspora: A Cross-Cultural Approach to Historical Analysis”, SAGE, 1986); A. Davis (Women, Race & Class, 1981); b. hooks (Ain’t I a Woman?, 1981); M. Morrissey (Slave Women in the New World: Gender Stratification in the Caribbean, 1989).
[8] Alguns trabalhos pioneiros: M. Herskovits (The Myth of the Negro Past, 1941, e The New World Negro, 1966); F. E. Frazier (“The Negro Family in Bahia, Brazil” e “Some Aspects of Race Relations in Brazil”, 1942); Donald Pierson (Negroes in Brazil, 1942); e F. Tannenbaum (Slave and Citizen, 1947). Na década de 1970, temos as pesquisas relevantes de E. Genovese, C. Degler, M. Horowitz, S. Mintz, R. Price, S. Schwartz, etc.
[9] Avessa a rótulos e partidos, Jones permaneceu distante de organizações feministas apesar de criar mulheres fortes e protagonistas. Em entrevista a M. Harper, 1979 (p. 364), declarou: “Não tenho bem certeza se sei o que é uma feminista” (“I’m not really sure if I know what a feminist is”). Muda de perspectiva nos anos 1990, quando se aproxima de Alice Walker, que havia definido “womanist” como “a feminista negra ou de cor”, que admira a força e a cultura feminina, mas pode amar mulheres ou homens, e é “universalista” em termos de raça e cor.
[10] “I’d like to be able to deal with the whole American continent in my fiction – the whole Americas – and to write imaginatively of blacks anywhere/everywhere. “
[11] Apenas especulação sobre obras que Jones pode ter consultado: Freyre, The Masters and the Slaves/Casa-grande e senzala: A Study in the Development of Brazilian Civilization (tradução inglesa de 1946); R. K. Kent, “Palmares: An African State in Brazil” (Journal of African History, v. 2, p. 161-175, I965); e Herskovits, Pierson e Tannenbaum, citados em nota anterior.
[12] “He had this dream, you know, of running away and joining up with them renegade slaves up in Palmares. I kept telling him that was way back before his time, but he wouldn’t believe me, he said he was going to join up with some black mens that had some dignity […] I said he couldn’t know where he was because Palmares was way back two hundred years ago, but he said Palmares was now.[…] Couldn’t’ve been more than seventeen or eighteen.”
[13] “Where is he? The battle of Palmares/ ended, we escaped; Portuguese soldiers/ caught us at the river./ My memory does not go beyond that.”
[14] “This earth is my history, Anninho,/ none other than this whole earth./ We build our houses on top of history./ Do you remember how it was/ up in the mountains?”
[15] Then I ask, “Why must they always try to/ destroy us? Why can’t they let us stay in/ this place we have made for ourselves?”[…] This is a country that doesn’t allow men/ to be gentle. White men or black men./[…] And she said it is not easy to love/at a time like this one. It is not/ easy for a man or a woman.”
[16] “There will come a time, Almeyda, / when it won’t be difficult/ to be tender, when it will be an easy thing./ Do you believe that, grandmamma?/ Yes.” (itálico no original).
[17] “No. She told me she knew it was not true that/ there would come a time when the hardness would/ be over. There would not come such a time,/ never in her lifetime and not in mine and not/ in the lifetimes of those that come after us.”
[18] Na história e na literatura há registros da revolta feminina contra a escravidão manifestada em violência contra o próprio corpo, em suicídio, em crimes contra os senhores e na morte dos próprios filhos (como no romance Amada [Beloved], de Toni Morrison).
[19] “I think my most authentic stories are in first person when I enter the characters and tell their stories as they would tell them”.
[20] Tenho um artigo publicado sobre Song for Anninho: “Imaginando Palmares: a obra de Gayl Jones (Coser, Revista Estudos feministas, v. 13, n. 3, p. 629-644, 2005).
[21] “I am the granddaughter of an African./This is my land./ I take palm oil and rub it on my hair and body./ This is my place. My part of the world./ The landscape and tenderness,/ the wars too and despair”.
[22] “And our brave Palmaristas,/ jumping from cliffs rather than surrender./ Oh, if they could have become birds then!/[…] Even now I watch out for birds,/ hoping it’s some Palmarista!”
[23] A saga de Euclida inclui referências a seu pai Icó, negro livre e itinerante, sudanês/angolano, que falava do mundo mais ao norte; à liberta Tirana, que cantava “tiranas” e contava sobre Madagascar; ao escravo Diamantino, que perdeu três dedos na fábrica de charque; aos jesuítas e indígenas, à cidade de São Paulo, Bahia, Minas, etc. Como na vila palmarista criada por Gayl Jones, há contatos entre raças, etnias e religiões diversas e misturadas.
[24] “I am a shy woman/ who fears change./ I dream of hammocks/ of feather and grass […]/ I dream of wild figs/ and my warrior grandmother./ But I am a shy woman.” A timidez faz pensar na autora Gayl Jones, descrita como muito retraída e há anos reclusa.
[25] No texto de Jones, Euclida e a mãe foram capturadas em 1721, vendidas e trazidas para o vale do Piauí. Quase três séculos depois, em 2017, já são conhecidas 2.890 comunidades quilombolas, inclusive nos estados do norte.
[26] “I don’t blame her a bit./ We’re all poor devils,/ and now she’s off to Paris,/ to try to be a lucky one!/if it was me I’d go up North./ They say that that’s the place/ for real adventure and real fortune./ Up to North America,/ that’s where I’ll go.”
[27] “Speak to me softly and close through a kiss, Anninho./ And we will have our time of tenderness./ We will make our time of tenderness.”

