Como o clichê, e o real,
desmanchou no ácido
de Venceslau.
E o sol, cadê?
Cadê o carnaval?
E o samba, José?
O Rio dançou?)
O Rio de Janeiro é um clichê global poderoso que está em xeque. A cidade rebelou-se contra seu retrato. O Dorian Gray urbano precisa da degradação de sua imagem-fetiche para libertar-se do feitiço e viver, assumindo os riscos e as novas possibilidades. Cumpre destruir a imagem encantada e deixar morrer o que sobrevivera às custas da fantasia benevolente. Esta é a exigência dos milhões de cariocas que se rebelam contra a domesticação imposta pela história edulcorada que contamos a nós mesmos sobre o que somos. Esta é a agenda de quem ama a liberdade e a justiça, nas suas mais variadas acepções. O tempo da autoindulgência acabou. O Rio atravessa um momento doloroso e fecundo de perigo e reinvenção. A estação de fúria e tempestades não anula o mar, o sol, o esplendor da mata Atlântica e a dança infinita, mas estilhaça ilusões e incinera a pachorra pusilânime dos cartões postais.
O parágrafo acima é a abertura da introdução a meu livro Rio de Janeiro: histórias de vida e morte, publicado em 2015 (Companhia das Letras). O livro saiu na Inglaterra em 2016 (editado pela Penguin) e o jornal The Guardian me convidou para escrever um ensaio sobre a cidade, que seria publicado no dia da inauguração das Olimpíadas. Lendo o resultado da encomenda, decidiram transferir a publicação para a data do término dos jogos. Consideraram meu artigo “less celebratory” do que esperavam e o momento pedia. Recordando tudo o que aconteceu com o Rio na última década, me parece tão óbvio o que escrevi. O monumento de iniquidades estava diante de nós, escancarado, e o frenesi das obras municipais não ocultava a decadência que se infiltrava por todos os poros. Tomo a liberdade de citar ainda o título da introdução: “A Grande Guerra contra o Clichê”. Explico a importância que confiro ao tema: “… a imagem não é só um erro. É um mapa que orienta comportamentos e percepções cotidianos. Não é apenas um retrato falso, mas um modelo restritivo que aprisiona, em uma identidade, a pluralidade de modos de ser e sentir.” Por fim, descrevendo mudanças em curso, concluo:
Se a velha ordem desfaz-se, grão a grão, se o clichê está em chamas, qual ponto de vista adotar para testemunhar esse processo? A primeira pessoa impõe-se como a perspectiva mais razoável e honesta. Sobretudo quando o mundo que balança e vai cedendo lugar a outro repercute tanto em dimensões subjetivas e na vida privada, quanto em níveis substantivos e na esfera pública. É interessante registrar que nesse trânsito entre mundos, sutileza e estrondo substituem-se a todo momento e, por vezes, confundem-se, a depender da sensibilidade do observador. Até porque os mundos distintos, ou antagônicos, conviverão. Pureza é a qualidade da teoria, não da história, muito menos das histórias contadas de pontos de vista particulares.
Pois hoje, março de 2020, blindado pelo confinamento doméstico para deter a expansão da pandemia, empenhado em redigir o diário do bunker, declaro a quem possa interessar: a primeira pessoa talvez não seja apenas uma solução para lidar com a experiência íntima de processos históricos ainda em curso, muito menos uma estratégia estilística, eixo de construção estética ou declaração de enviesamento cognitivo. Tornou-se um imperativo, esse “eu” testemunhal, única janela que me oferece uma fresta para a cidade, fora o tsunami virtual. E daqui não vejo o Redentor, que lindo, cartão postal e alegoria, mas restos e detritos, memória do caos.
Curioso, o suporte canônico do relato sobre a cidade em primeira pessoa é o flâneur, andarilho sem norte que inspeciona as dobras da vida e faz do léu remédio para o breu, não se intimidando ante a opacidade das paredes e a espessura dos sentidos. Hoje, não. O regime da imobilidade inverte a flânerie, que subsiste sublimada, figura de um passado idealizado, espírito do tempo em que cidade era o lugar comum no qual as pessoas circulavam. Agora, é o território onde moram e esperam a visita da indesejada das gentes. Imobilidade é a nova ordem, cronista, poeta, voyeur. Caminhar por aí, bater perna, espiar o movimento, entreter-se com o mosaico das cenas cambiantes, transitar sem apuro e plano, dispor-se ao improvável sem método, entreouvir e entrever bastidores nos entreatos, personagens sem nexo, o faraó urinando, a cantora careca, o vizinho de cueca e gravata, nem pensar. Salvo se alguém jogar nas redes e você pescar. No confinamento, internet é a experiência urbana possível, nosso crivo será o crivo alheio reeditado. Mas não é isso a linguagem? Certas coisas ficam mais claras na escuridão.
A cidade, a cidade de verdade, ela está vazia. A realidade, mais intangível do que nunca. Imagem fugidia, que um internauta deu a outro, que passou a outro, tecendo a luz balão como os galos de Cabral. Luz, não exatamente: talvez a imagem da praia de Copacabana despovoada sob o céu flamejante do fim do verão. Paisagem inútil.
O vozerio no deserto aprende a língua da hora. Pandemia. Coronavírus. Covid-19. Curvas aceleradas de contágio. Aglomeração. Isolamento. Contenção. Grupos de risco. Achatamento da curva. Epidemiologia. OMS. Sequenciamento genético. A guerra contra o vírus. E os slogans: evitem aglomerações, fiquem em casa, não saiam, protejam os mais velhos. Interessante lembrar 2013. Atravessamos um portal, voltamos a junho de 2013 pelo avesso. Daquela vez, ouvíamos ou gritávamos: vem pra rua, vem. Não fique aí parado, você é explorado. O povo na rua derruba o aumento. Em síntese: a massa, a aglomeração, redescobre o protagonismo. De lá pra cá, protagonismo virou empreendedorismo, desempregado na informalidade virou empresário-de-si-mesmo, a viração pra sobreviver no desamparo virou resiliência popular ou criatividade empreendedora, a agenda neoliberal varreu direitos e a punição de corruptos virou Lawfare. Entretanto, cruzado o portal de volta a 2020, a velha demanda popular se realiza como verdadeira maldição: não vai ter Copa, nem Olimpíada.
A cidade respira, ainda sem aparelhos, intuindo lufadas de enxofre, no tenso ensaio geral pra tragédia que se avizinha – somando-se às bem-instaladas na rotina, e naturalizadas, fruto das desigualdades, do racismo estrutural, da violência como política de governo. O que parecia longo, tortuoso, incerto e contraditório processo de transformação da cidade e da sociedade brasileira subitamente se converte em uma internação na emergência da história para tratamento de choque. Metemo-nos numa espécie de exercício simulado coletivo para o naufrágio contratado, tantas vezes adiado. Talvez agora seja pra valer. Vistam os salva-vidas, quem os tiver ao alcance da mão. E os outros? O que será a cidade quando as águas baixarem? E o país?
Nesse momento, cresce a adesão a uma perspectiva ética e política mais solidária, muita gente fabulosa fazendo o possível e o impossível para ajudar as comunidades mais vulneráveis, ante a letargia criminosa do governo federal. À noite, nas favelas, traficantes determinam reclusão, assumindo responsabilidades que contrastam com a bulimia do presidente fascista, que tripudia, rosna e requebra as ancas de atleta fake sobre a pilha de cadáveres por vir.
O leito de morte, com seu sentido de urgência, a falta de ar – destino que não se distribui aleatoriamente, porque a propensão física é agravada pela vulnerabilidade socioeconômica –, essa deveria ser a referência elementar para a definição de prioridades, com base nas quais se organizassem economia e política. Tudo mais é secundário e se ordena ao redor. A quem falta oxigênio não se pode pedir paciência.
Por isso, deixo registrada a pergunta que me parece crucial: se o parágrafo anterior faz sentido, por que deixaria de fazer sentido nas circunstâncias em que estaremos depois da pandemia ou por que não teria feito sentido naquelas circunstâncias em que estivemos antes da pandemia? A pandemia das desigualdades abissais e do racismo estrutural não sufocava, não matava, não atrofiava tantas vidas? Longe de mim subestimar a pandemia em curso, quero apenas extrair da experiência coletiva tão dramática e radical, mais do que a dor, algum aprendizado. Afinal, já ficou demonstrado que a realidade imutável – a economia capitalista sob hegemonia financeira – era só uma construção política cuja estabilidade dependia da crença em sua imutabilidade.
E o que mais se pode aprender? Ou melhor, o que tenho aprendido?
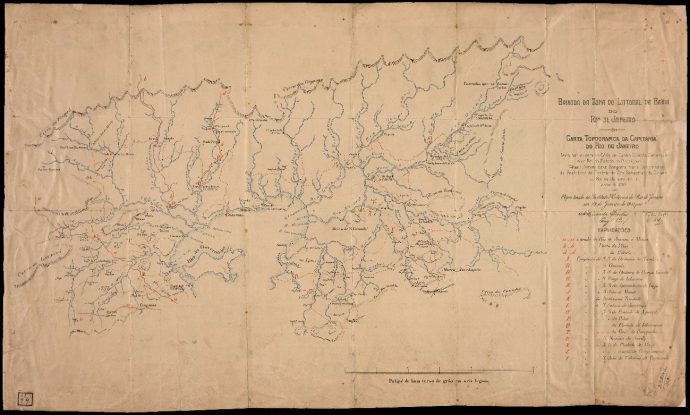
2. A orgia perpétua e letal dos inquilinos que não vemos[1]
Que coisa mais difícil conceber um mundo sem intenção mas com finalidade, que troço enrolado. Cabe na cabeça de quem? Tá certo, os cientistas sabem separar as partezinhas minúsculas das partes minúsculas, abrem as vísceras do cosmos, calculam movimentos e há séculos descrevem – viva Darwin! – a inteligência da natureza, que pensa grande, combinando um sistema com outro, recolhendo as aparas, corrigindo o que desequilibra a marcha claudicante das espécies, em meio aos choques da matéria, de cujo avesso já se tem notícia, embora mal se vislumbre. Claro que tudo fica ainda mais complicado quando físicos criativos, assim como os músicos atonais, os poetas corajosos e os democratas radicais, valorizam a polifonia, o dissenso, a desarmonia, o desequilíbrio, refutando a unidade da inteligência e da finalidade. A gente oscila entre, por um lado, a aposta na evolução, com toda a corte de penduricalhos imaginários e morais, e, por outro, o reconhecimento de regressões, contradições, escorregadas entrópicas, pulsões de morte. Se a lógica da matéria é a linguagem de Deus, talvez convenha aderir ao panteísmo.
Acontece que você tem mais o que fazer, mesmo confinada em casa para prevenir a difusão da pandemia. Mais e melhor do que perder tempo lendo divagações vadias desse autor que custa a se explicar. Já lá se foi um parágrafo e nada de prático, ou de emocionante. Nenhuma notícia sobre o coronavírus, a expansão mundial, as curvas do contágio, os dados mais recentes sobre infectados e vítimas fatais, ou políticas de contenção e prevenção. Tu tens mais uma linha pra me convencer a continuar lendo, pensará a leitora gaúcha. Tudo bem. Que tal o seguinte?: antes da pandemia, na percepção popular, as únicas conexões entre as pessoas, no interior de uma sociedade, e além dela, eram os contatos e contratos estabelecidos ou guiados por interesse, intenção e sentido. Duvido que você me dê um exemplo que escape a essa hipótese. Agora, em meio à trepidação que antecede o que virá, adivinhando o alarido dos carrilhões que se aproximam, a cabeça das gentes concluirá: tem, sim, um fiozinho invisível mas real, substantivo, físico, a nos ligar, efetiva ou potencialmente, a todos. E todas. Essa linha –que não são os impulsos e os memes da comunicação virtual – atravessa portas, paredes, classes e cores, gêneros, idades, muros e identidades, ideologias e línguas. De repente, de uma hora pra outra, está aí, estampado diante de nós: há linhas que nos ligam, conexões biológicas, físicas, que podem nos matar ou mesmo, eventualmente, nos imunizar. Essa camada do que chamamos realidade sempre existiu. Nunca estivemos sós ou separados dos outros – e por isso se fala em ecologia e na crise do clima como catástrofe global. Há um nível em que um destino comum se engendra. Nosso poder de controlar os fluxos torrenciais desses rios invisíveis é limitadíssimo, sobretudo se apelarmos apenas para as percepções comuns, desprezando a ciência, ou se buscarmos soluções individuais ou grupais.
Ah! Entendi, dirá a leitora imaginária, tu és mais um daqueles despolitizados mercadores de platitudes, que ciscam pra lá e pra cá, apenas pra defender os ideais bonitinhos que ficam bem na foto e fazem sucesso nos blogs de autoajuda: todos somos iguais e só a união salva a humanidade. Viva o amor e a misericórdia! Salve a solidariedade! A exploração de classe, a dominação de gênero, o racismo estrutural, tudo o que de fato importa e estrutura a sociedade é omitido e discretamente varrido pra baixo do tapete.
Não, minha amiga, nada disso. Não me subestime. A vertebração político-econômica das sociedades e os eixos de poder e conflito permanecem fundamentais. As opressões não desaparecem quando outra dimensão do real é identificada e focalizada. Faz toda a diferença enfrentar a pandemia como trabalhador precarizado, em moradias sem saneamento, acuado pelo desalento, ou como alguém do 0,1% da população brasileira que detém 48% da riqueza nacional. Entretanto, você há de convir que muda nossa imagem de nós mesmos, e do mundo, admitir a existência e experimentar a presença de vizinhos e inquilinos invisíveis, desprovidos de intencionalidade (interesse e sentido), que atendem a dinâmicas próprias, interagindo conosco, com as demais espécies e com o ambiente, cuja força parasita e consome a nossa.
A sorte de cada um e cada uma de nós não depende apenas do fortuito, por definição imprevisível, cujo âmbito de intervenção é até certo ponto e em certa medida circunscrito por nossas condições socioeconômicas, educacionais, psicológicas, genéticas e fisiológicas. Acaso e necessidade sempre foram os polos de nosso percurso existencial. Não se trata somente do fortuito, mas da atuação de cápsulas de gordura microscópicas, portadoras de material genético e proteína, que não estancam ante as fronteiras dos corpos, de tal modo que seus efeitos não se precipitam de fora para dentro, como nos cataclismos naturais (enchentes, terremotos, tornados, etc.), mas a partir de dentro, enlaçando indivíduos nos circuitos viróticos, infiltrando fake news nas células de defesa de nossos corpos, numa bizarra campanha bélica intracorpórea de contrainformação e contrainteligência.
Na era em que prosperam teorias da conspiração – essas armadilhas mentais paranoicas, cujo pressuposto é a atribuição de intencionalidade, sentido e funcionalidade a tudo o que existe e acontece –, é fascinante (e terrível) observar que nem tudo é passível de controle (nem tudo é político, portanto, embora o sejam as condições nas quais são vivenciados os efeitos de processos físicos não intencionais – embora muitos desses processos sejam consequências inesperadas de ações humanas irresponsáveis e gananciosas) e que a ilusão primeira, que subjaz à nossa construção coletiva da realidade, talvez seja a negação dos fios vivos, físicos, repletos de energia, que nos ligam a todos e todas, enredando-nos num destino comum. Conexões, insisto, sem sentido, intencionalidade ou funcionalidade para a ordem humana, como espécie, ou para a ordem política, subsidiariamente econômica, das sociedades. Em suma, assim como um lance de dados não abole o acaso, as mais alucinadas teorias conspiratórias não domesticam a vida, em sua exuberante multiplicidade criativa e exorbitante negatividade.
As religiões tratam das pragas, a literatura, das pestes, as mitologias, dos desastres. A política se apropria das desditas, pro bem e pro mal, quando não são suas causas remotas. Mas a interação de partes nossas com partes alheias deforma, extrapola, cruza e neutraliza as bordas dos corpos que dizíamos nossos – para John Locke, a propriedade primeira, esteio da liberdade, é o corpo, e proprietário é o ser que chamamos indivíduo, assim subjetivado porque, simultaneamente, contrastado com o objeto de sua posse e inscrito numa cadeia coletiva de direitos naturais. Os animais humanos não intercambiamos apenas dons, dívidas, odores, signos, afetos e fluidos sexuais. Eis aí a orgia perpétua dos inquilinos invisíveis, desdenhando da unidade que nos atribuímos sob o modo das identidades e a forma da consciência. Se Freud minou a identidade-a-si do sujeito e a miragem do autoconhecimento, a promiscuidade virótica completa o trabalho, renovando o recado não suficientemente aproveitado em 1918.
3. E depois?
Claro que não devemos nos iludir com deduções tão a gosto de nosso viés iluminista: graças à pandemia do coronavírus, a realidade se revelará e varrerá do mapa apropriações que lhe confiram significados capazes de remeter de volta aos escaninhos da intenção e do sentido o que lá não cabe. Já vimos esse filme e não só em 1918. Aliás, nada mais refratário ao escrutínio racional da experiência do que as crenças, elas são imunes à mudança e tudo reconfiguram para assimilar. Esse apetite pantagruélico se compreende: crenças servem não só à preservação de relações de dominação político-econômica, mas também à ordem psíquico-emocional, estabilizando expectativas e conjurando a insegurança. Aqui vale uma nota ainda mais cética: uma coisa é a ciência, em sua vertiginosa mutação e audaciosa abertura, outra coisa é a resistência de tantos e tantas cientistas a acolher a instabilidade em suas vidas e projetar a incompletude que caracteriza a ciência sobre suas visões do mundo e de si mesmos ou mesmas. No final dos anos 1980, refletindo sobre a tradição hermenêutica que Gadamer codificara, afirmei que não há nem pode haver uma visão de mundo científica, simplesmente porque ciência não tem visão, nem as metáforas visuais (ver, enxergar, contemplar, vislumbrar, focalizar, iluminar, refletir, esclarecer, clarificar, ponto de vista, ótica, etc.) se aplicam a definições conceituais de objeto. Por isso, cientistas como cidadãos costumam operar como o comum dos mortais, sobretudo quando se trata de enfrentar os desafios extremos da existência humana ou as complexidades, e contradições, do social. Um exemplo sou eu mesmo, cientista social de ofício, fora do papel e do papel de autor. Valho-me do sempiterno Fernando Pessoa: como o poeta, sou aqui um fingidor, e finjo tão completamente que chego a fingir que é dor a dor que deveras sinto. Adaptando, diria que me iludo tanto quanto os que acuso por ingênuos. Pelo menos guardo em mim o desconforto, o desassossego a que Pessoa dedicou sua obra derradeira e incompleta.
O que virá depois da pandemia? O fim do ciclo neoliberal, provavelmente, porque terá ficado evidente que aquilo que se vendia como sendo os limites da realidade e da economia, na verdade, eram os limites da política e da política econômica. Ou seja, o que parecia incontornável e imutável ter-se-ia desmanchado no ar. Pensamentos heterodoxos que já vinham sendo formulados e sistematizados tenderão a se impor, a começar pela Europa. Mas esse novo momento, com novas características, pode vir a ser apenas mais uma oportunidade de revitalização do capitalismo, inaugurando novo ciclo que o salve da autofagia especulativa financeira e das convulsões sociais, contratadas pelo agravamento das crises sociais causadas pelas políticas de austeridade. É possível que a agenda ambiental e da sustentabilidade conquiste patamar superior de legitimidade. E é possível também que, da experiência mundial de combate à pandemia, reste a expansão da tolerância a formações institucionais autoritárias, a vigilância transferindo-se dos subterrâneos clandestinos das agências de espionagem e dos algoritmos virtuais para a sede oficial dos governos, em aliança ostensiva com as empresas monopolistas da comunicação virtual global.
É também possível que do reconhecimento de nossa interdependência, enquanto indivíduos, coletividades, cidades e nações, não derive mais solidariedade, empatia e a ampliação do apoio a políticas sociais redutoras de desigualdade ou até mesmo a modelos socialistas de organização do poder e da economia, mas, ao contrário, o crescimento do medo e dos preconceitos, a elevação dos muros e das separações xenófobas e racistas, a intensificação da brutalidade policial e do punitivismo. Estaremos, nesse caso, trocando a interdependência por mais dependência, em todos os níveis, mantidas e aprofundadas assimetrias e iniquidades. Pessimismo? Não sei. Lembremo-nos que um coronel da PM do Rio comparou a polícia a um dedetizador, que protegeria a sociedade do mal que a pudesse infectar. Políticas eugenistas foram a marca de regimes fascistas e nazistas, embora, mitigadas, tenham sido aplicadas em situações menos extremas – inclusive no Brasil e no Rio de Janeiro. As polícias brasileiras têm se comportado como a metáfora do domínio autoritário das elites brancas contra os riscos de contágio e desordem. A contaminação, figura metonímica por excelência, serve de metáfora para a agenda reativa dos que vocalizam a perpetuação do racismo estrutural. Não espantaria que o futuro nos reservasse a emergência de uma polícia médica, que aplicasse a metáfora como metonímia, isto é, que adotasse a separação entre classes e a contenção xenófoba, sob vigilância, como modos de convívio, como modelos de conexões interpessoais e como princípios reguladores das relações sociais. Contudo, há sempre esperança de que o conhecimento e a imaginação antecipadora ajudem a evitar que o apartheid seja nosso futuro – em meio à catástrofe climática e a pandemias – e que respiração artificial seja nossa única aspiração antes do fim.
* Luiz Eduardo Soares é antropólogo, cientista político, escritor e professor aposentado do Instituto de Ciências Sociais da UERJ. Seu livro mais recente é O Brasil e seu Duplo (Todavia, 2019).
Notas
[1] Minhas hipóteses dialogam com diversas reflexões de Bruno Torturra, expostas em sua série brilhante e inspiradora, no YouTube, “Boletim do Fim do Mundo”.

