Nos últimos anos, a noção de diáspora emergiu, nas ciências sociais e na história, como uma chave de leitura para o processo massivo de migração de pessoas para além dos limites de uma cultura ou nação, mas quais seriam suas possibilidades e limitações no campo da arte? Ela seria rica apenas para lidar com a relação entre duas culturas? Há alguma possibilidade para além da nostalgia de uma pátria original? A diáspora é rica para sujeitos e obras que multiplicam as viagens e o cruzamento de fronteiras culturais?
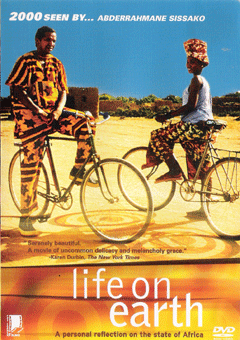 Para discutir estas questões, vamos fazer um diálogo entre os filmes de Claire Denis e os de Abderhamane Sissako que têm como cenário privilegiado a relação entre a África subasariana e a França. Em “A Vida sobre a Terra” de Abderhamane Sissako (1998), a narrativa se articula pelo retorno ao vilarejo de Sokolo, no Mali. A primeira cena é um travelling que passa por um supermercado, uma loja que vende roupas, provavelmente na França, e quando o personagem, que podemos identificar como o narrador, sobe pela escada rolante, o movimento continua até a visão de uma árvore enorme e solitária. Voltamos, junto com o narrador, a Sokolo, através de seu desejo e da carta que escreve ao pai que fala da vontade de filmar Sokolo. O narrador com sua voz over voltará a aparecer no meio e no fim do filme. Em conjunto com o irmão que responde a carta, falando para a câmera, estas vozes emolduram a construção do espaço a partir do desejo de voltar e, ao mesmo tempo, a necessidade, até para ajudar a família, de ficar na Europa.
Para discutir estas questões, vamos fazer um diálogo entre os filmes de Claire Denis e os de Abderhamane Sissako que têm como cenário privilegiado a relação entre a África subasariana e a França. Em “A Vida sobre a Terra” de Abderhamane Sissako (1998), a narrativa se articula pelo retorno ao vilarejo de Sokolo, no Mali. A primeira cena é um travelling que passa por um supermercado, uma loja que vende roupas, provavelmente na França, e quando o personagem, que podemos identificar como o narrador, sobe pela escada rolante, o movimento continua até a visão de uma árvore enorme e solitária. Voltamos, junto com o narrador, a Sokolo, através de seu desejo e da carta que escreve ao pai que fala da vontade de filmar Sokolo. O narrador com sua voz over voltará a aparecer no meio e no fim do filme. Em conjunto com o irmão que responde a carta, falando para a câmera, estas vozes emolduram a construção do espaço a partir do desejo de voltar e, ao mesmo tempo, a necessidade, até para ajudar a família, de ficar na Europa.
Não se trata mais da relação entre metrópole/colônia, como se estabeleceu na África desde o século XVI, e com mais força a partir do século XIX. O filme trata do intelectual, do artista que, fora de seu país, teme esquecer de onde veio e se constitui pela experiência da diáspora contemporânea. Como diáspora é uma palavra muito utilizada, sofrendo de uma amplitude quando alçada a “comunidades exemplares do momento transnacional” (TÖLÖLIAN apud CLIFFORD, J., 1999, p. 245), seria importante precisar o uso que fazemos dela, distinguindo-a primeiro de migração do campo para cidade, de uma região a outra dentro do mesmo país, exemplificado no Brasil pelos nordestinos que foram para o Sul e Sudeste em busca de melhores condições de vida. A diáspora é uma dispersão de um povo de sua pátria original (BUTLER, 2001, p. 189), caracterizada pela: 1) presença em dois ou mais lugares; 2) mitologia coletiva de uma pátria; 3) alienação no país de origem; 4) idealização de retorno à pátria; 5) contínua relação com o país de origem (SAFRAN apud BUTLER, idem, p. 191).
Apesar de “A Vida sobre a Terra” enfatizar muito o vínculo ainda presente com a França, há uma construção em Sissako de uma pertença africana, com o risco de idealização nostálgica do lugar de origem, por uma tensão decorrente de um distanciamento em relação a, mais do que ao país, ao pequeno vilarejo natal, porém sem quebrar os vínculos completamente com este, nem se integrar totalmente na França. Poderíamos então entendê-lo dentro de uma estética diaspórica, não como a realização de um espaço outro definido, como o de cultura híbrida, mas um espaço mais precário, social, econômica e existencialmente, anterior a qualquer diálogo, síntese, mistura.
Neste sentido, “A Vida sobre a Terra”, apesar da referência a Aimé Cesaire, encena o que Hamid Naficy chamou de accented cinema, literalmente um cinema com sotaque, com marcas culturais explícitas, formado por filmes produzidos num modo capitalista mesmo que alternativo, não sendo necessariamente oposicionais – no sentido de se definirem primordialmente contra um cinema dominante unaccented – nem necessariamente radicais porque eles agem como agentes de assimilação e legitimação de cineastas e suas audiências, não só como agentes de expressão, mas como desafio (2001, p. 26). Diferente do cinema do terceiro mundo em que o que mais importava era a defesa da luta armada ou da luta de classes, em uma perspectiva marxista; trata-se de um cinema feito por pessoas deslocadas [ou] comunidades diaspóricas, engajado menos com o povo ou as massas, do que marcado por experiências de desterritorialização (idem, p. 30/1), ao invés da revolução como macro-narrativa (Lenin), uma multiplicidade descentrada de lutas localizadas, como resistências à hegemonia (Gramsci) (STAM e SHOHAT, 1994, p. 338).
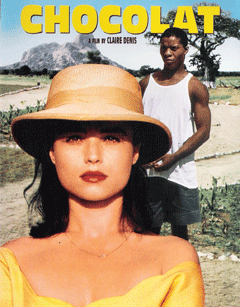 Diferente de “Chocolat” e “Beau Travail” de Claire Denis onde a experiência se dá da Europa para, sobretudo, diversos países africanos; o movimento em Sissako ocorre, no sentido contrário, definido pelo movimento da África para fora. Mas tanto em Sissako quanto em Denis, o trabalho, a sobrevivência econômica parece ser a motivação maior dos personagens para mudarem, no lugar de questões étnicas, religiosas ou por serem dissidentes políticos. A sobrevivência material está sempre subordinada a um drama existencial, mesmo íntimo, particular, socialmente inserido, sem contudo configurar uma alegoria, situando os personagens num quadro mais amplo em que cada vez mais é difícil nascer e morrer onde se nasceu (BUTLER, 2001, p. 214). O tom destes filmes encontra diálogos na cinematografia brasileira não só em “Terra Estrangeira” (1995) de Walter Salles e Daniela Thomaz e “Passaporte Húngaro” de Sandra Kogut, mas também em “O Céu de Suely” (2006) de Karin Aïnouz, apesar deste reencenar no fundo a questão da migração do Nordeste para o Sudeste/Sul do Brasil. Longe das situações desesperadas da seca culminando em morte ou em impossibilidade de volta, ruptura radical com a origem, em “Céu de Suely”, a experiência migratória, sem pretensão alegórica, é tradução afetiva do trânsito entre culturas, em que a vivência íntima é central.
Diferente de “Chocolat” e “Beau Travail” de Claire Denis onde a experiência se dá da Europa para, sobretudo, diversos países africanos; o movimento em Sissako ocorre, no sentido contrário, definido pelo movimento da África para fora. Mas tanto em Sissako quanto em Denis, o trabalho, a sobrevivência econômica parece ser a motivação maior dos personagens para mudarem, no lugar de questões étnicas, religiosas ou por serem dissidentes políticos. A sobrevivência material está sempre subordinada a um drama existencial, mesmo íntimo, particular, socialmente inserido, sem contudo configurar uma alegoria, situando os personagens num quadro mais amplo em que cada vez mais é difícil nascer e morrer onde se nasceu (BUTLER, 2001, p. 214). O tom destes filmes encontra diálogos na cinematografia brasileira não só em “Terra Estrangeira” (1995) de Walter Salles e Daniela Thomaz e “Passaporte Húngaro” de Sandra Kogut, mas também em “O Céu de Suely” (2006) de Karin Aïnouz, apesar deste reencenar no fundo a questão da migração do Nordeste para o Sudeste/Sul do Brasil. Longe das situações desesperadas da seca culminando em morte ou em impossibilidade de volta, ruptura radical com a origem, em “Céu de Suely”, a experiência migratória, sem pretensão alegórica, é tradução afetiva do trânsito entre culturas, em que a vivência íntima é central.
De toda forma, talvez por este desejo de retorno, “A Vida sobre a Terra” seja, num primeiro momento, uma evocação nostálgica da terra natal. No entanto, pouco a pouco, emerge uma consciência dilacerada, apesar da apresentação lírica sem grandes dramas sobre pessoas comuns, com atuações que não parecem de profissionais, numa tradição que remonta pelo menos até o Neo-Realismo de De Sica e Zavattini. O uso do recurso da carta, muito corrente no que Naficy chamou de accented cinema, não coloca a experiência autobiográfica como apenas algo pessoal, narcisista, nem como um filme-ensaio em que a autobiografia é inserida dentro de um debate filosófico mais abstrato, ou sobretudo nos limites do continente europeu, como em “JLG por JLG” (1994) de Godard, mas como intimamente conectada a uma situação coletiva de uma experiência intercultural e de desigualdade colonial. Em contraponto ao risco do saudosismo idealizante devido à distância, esta carta-filme de Sissako é, por um lado, explícita, em não transformar a vida em simples espetáculo e não fazer do narrador (e do público) um simples espectador passivo. Por outro, o encanto com os pequenos fatos de Sokolo é inegável, traduzido pela beleza de Nana, que acaba por encerrar o filme, quando a vemos andando de bicicleta, como se deixando Sokolo, em contraponto à primeira imagem do homem que chega à cidade.
O último dia de 1999 é apresentado pelo cotidiano de Sokolo, com uma trilha sonora eclética que mistura Schubert, Salif Keita, suaves sons do cotidiano e as notícias de programas franceses e da programação local. A conexão da cidade com o exterior, além da carta, é marcada por uma cultura midiática, presente desde as ligações telefônicas precárias a diversas imagens como o retrato da família real inglesa, o anúncio do lançamento de um carro discutido por dois personagens, posters de modelos, mas também pela presença recriadora dos escritos de Aimé Cesaire lido pela rádio comunitária e usado como epígrafe no meio do filme. As diferenças são explicitadas, às vezes, mais sutilmente do que na referência a Cesaire, como na presença do sol que aparece como benfazeja no inverno europeu, e como um mal para a região de Sokolo. Lentamente, vemos os pequenos atos acontecerem: o menino com sua bola de futebol, a menina dançando, um homem se lavando. Uma rede de fatos e pequenos acontecimentos fazem com que alguns personagens desapareçam e reapareçam, sem que haja um eixo narrativo principal, nem mesmo o da voz over do narrador. Como o sol que vai mudando de posição e os homens na frente de uma casa que mudam de posição as suas cadeiras. Trata-se de outro tempo, menos rápido e saturado de informação, embora ecoando e traduzindo o mundo contemporâneo. A poeira que levanta quando as pessoas passam faz um quadro difuso e enevoado em meio ao sol inclemente. Sem precisar recorrer ao recurso narrativo de mostrar vários episódios em diferentes partes do mundo como em “Uma Noite sobre a Terra” (1991) de Jim Jarmusch ou do recente “Babel” (2006) de Alejandro Gonzalez Iñarritu, o uso das transmissões de rádio de celebração do Ano Novo pelo mundo encontra um contraponto a mais, um dia comum. Curiosamente, é na fala de uma repórter japonesa transmitida pela rádio que se encontra melhor traduzido o dia de Sokolo: “A vida não muda. Só o século muda”.
O balbucio da carta e das falas de telefone, ouvidas com dificuldade, redimensionam a nostalgia e o otimismo recorrentes em todo fim de ano. Este balbucio “não é uma carência, mas uma afirmação” (ACHUGAR, H., 2006, p. 24) de um lugar de fala, por frágil que seja. Sem perder o tom afetivo, o filme se coloca ainda como um modesto apelo, uma “oração viril”, nas palavras do narrador, pela mudança, por tempos melhores, na virada do milênio. Não sendo mais o tempo da revolução socialista, nem das lutas pela independência, o que resta? Um poema de Aimé Cesaire citado como epígrafe parece ecoar a resposta poética, conectando não só o local com o mundo, mas embaralhando os tempos, afirmando possibilidades: “Meu ouvido no chão/Ouvi o amanhã passar”.
Se “A Vida sobre a Terra”, filme-carta ao pai possui um tom nostálgico, “A Espera da Felicidade” (2000), filme dedicado à mãe do diretor, parece ser mais áspero na sua encenação. Talvez por se centrar na volta, de fato, do protagonista, e sua recusa de integração, acentua o distanciamento do diretor de qualquer visão de caráter mitopoético, arcaizante ou exotizante. “A Espera da Felicidade” encena uma pluralidade de destinos frente à dificuldade de ficar, de se sentir estrangeiro no seu próprio país e da necessidade de migrar em busca de melhores condições de vida.
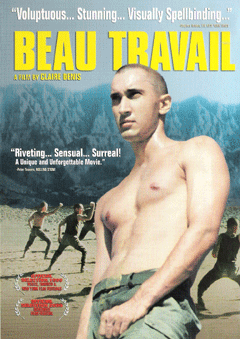 Filmado no litoral norte da Mauritânia, país natal de Sissako, numa cidade entre o deserto e o mar, diferente do filme anterior, não há mais quase nenhuma vegetação, a não ser de um ou outro arbusto, como o que parece ser levado pelo vento no início e no fim do filme. Nesta nossa viagem que vai cada vez mais ao norte, também a sombra da Europa fica mais presente. As conversas sobre deixar o país são freqüentes e representadas visualmente pelas constantes aparições dos barcos em movimento no mar e traduzidas mais concreta e tragicamente por um corpo que o mar retornou. Cronotopo central na diáspora negra (GILROY, 1993, p. 4), o barco não fala do tráfico negreiro do passado, mas das novas viagens para as antigas metrópoles em busca de emprego e sobrevivência. Se em “A Vida sobre a Terra”, a narrativa se dissolvia em vários personagens, aqui, basicamente o enredo se concentra na experiência de volta do jovem Abdullah à casa de sua mãe, na sua dificuldade de falar a versão do árabe da região, no seu isolamento desde sua forma de vestir a sua dificuldade de socializar. Não sabemos porque voltou, mas uma fala de sua mãe menciona problemas com passaporte, o que poderia ser associado a uma eventual deportação.
Filmado no litoral norte da Mauritânia, país natal de Sissako, numa cidade entre o deserto e o mar, diferente do filme anterior, não há mais quase nenhuma vegetação, a não ser de um ou outro arbusto, como o que parece ser levado pelo vento no início e no fim do filme. Nesta nossa viagem que vai cada vez mais ao norte, também a sombra da Europa fica mais presente. As conversas sobre deixar o país são freqüentes e representadas visualmente pelas constantes aparições dos barcos em movimento no mar e traduzidas mais concreta e tragicamente por um corpo que o mar retornou. Cronotopo central na diáspora negra (GILROY, 1993, p. 4), o barco não fala do tráfico negreiro do passado, mas das novas viagens para as antigas metrópoles em busca de emprego e sobrevivência. Se em “A Vida sobre a Terra”, a narrativa se dissolvia em vários personagens, aqui, basicamente o enredo se concentra na experiência de volta do jovem Abdullah à casa de sua mãe, na sua dificuldade de falar a versão do árabe da região, no seu isolamento desde sua forma de vestir a sua dificuldade de socializar. Não sabemos porque voltou, mas uma fala de sua mãe menciona problemas com passaporte, o que poderia ser associado a uma eventual deportação.
A experiência de ocidentalização de Abdullah constitui uma solidão na casa de sua própria mãe, em seu próprio país. Seu isolamento cultural, lingüístico e existencial é reiterado pelo seu confinamento no quarto onde passa o tempo lendo, de onde só se afasta por momentos, quando conversa com uma vizinha que teve uma filha, já falecida, com um europeu, quando dança sozinho uma música que parece ouvir ou lembrar que ouve, ou pelo contato com o menino Khatra, auxiliar do velho eletricista Maata.
Maata e Khatra compõem o outro núcleo central da narrativa que culmina na morte do eletricista e no desejo frustrado do menino de pegar um trem e deixar a cidade em contraponto com a menina que está aprendendo a cantar as músicas da região. Tudo parece pequeno, em trânsito e frágil em meio à imensidão do mar e do deserto. A morte de Maata, encontrado no deserto segurando uma lâmpada, apenas acrescenta mais um fragmento, mais uma estória no movimento constante de ida e partidas, por fim, associado à passagem do tempo, ao movimento da vida para a morte.
Curiosamente, o personagem que mais se sente em casa, para quem a saída não é partir, é o camelô chinês que canta num videokê enquanto namora uma moça do lugar e dá presentes para os seus fregueses que planejam partir.
Para nos encaminharmos para o fim de nossa viagem, passamos a dois filmes de Claire Denis que encenam a experiência de africanos na França: “S´en fout la mort” (1990) e “Pas de sommeil” (1994). Ao contrário dos filmes de banlieu, retratos de jovens pobres, com nítida inspiração na linguagem da MTV ou do Neo-Realismo dos anos 90 (BEUGNET, 2004, p. 14), aqui o registro é mais sutil. Se a paisagem do deserto e do mar fala de opressão, da repetição de um outro cotidiano, a opção por Claire Denis será por um registro noturno, soturno, devedor da tradição do policial noir para falar da experiência na metrópole. “S´en fout la mort”, à primeira vista, foi um filme que chamou menos atenção da crítica do que “Chocolat”, mas coloca a experiência negra, assumida desde o início pela voz em off no narrador-protagonista, a partir de uma situação diaspórica e não nacional. Os dois protagonistas, Jocelyn (Alex Descas) veio da Martinica e Dah (Isaach de Bankokolé) de Benin, vivem no submundo do trafico, da noite e da competição de galos. O deslocamento gera uma imagem da Martinica bem como da mãe de Jocelyn de forma paradisíaca e idealizada, contraponto ao mundo de restrições e fechamentos na França, ao cubículo onde Jocelyn e Dah se encerram para treinar galos, enfim, na vida um pouco à parte que vivem. A fraternidade entre os dois acaba por não resistir, bem como o tratamento filial que o patrão Ardennes (Jean Claude Brialy), apaixonado no passado pela mãe de Jocelyn, tem por ele. Dah quer fazer apenas negócio enquanto Jocelyn vê nos galos toda uma conexão com seu passado, com um outro mundo que o leva ao isolamento, à bebida, e por fim, a ser assassinado pelo verdadeiro filho de Ardennes, no mesmo dia em que o galo, que leva o título do filme, é morto no ringue. A incompatibilidade com uma outra cultura, com uma outra experiência ou o preço do deslocamento solitário e constante são o preço que pagam os dois protagonistas.
A epígrafe inicial do filme de Chester Hines, repetida por Dah, encena uma situação de limiar: “Todo homem é capaz de tudo ou de qualquer coisa”. A vida de homens negros aparece como com poucas aberturas, brechas, como a representada pelo reggae, na música de Bob Marley, ouvida no filme. “S´en fout la mort” fala de uma certa impossibilidade, da dificuldade de convivência num mundo diaspórico, de solidões existenciais e culturais. Não há um certo mistério, uma certa espessura que resiste a qualquer interpretação como em “Chocolat”. Parecem personagens que em breve vão desaparecer ou morrer, não há diálogo, não há paz. Um carro parte na noite. Foda-se a morte. Foda-se a vida. Fazer tudo ou quase tudo parece não um grito libertário, mas estratégia de sobrevivência.
Já em “Pas de Sommeil” (1994), Claire Denis trabalha dentro do próprio filme o contraste entre a claridade de Paris, o fascínio pela cidade a que irá voltar em “Vendredi Soir” (2002) e as relações de seus personagens apresentados num quebra-cabeça semelhante a filmes como “Short Curts” (1993) de Robert Altman, a que foi comparado (BEUGNET, 2004, p. 23), e “Magnólia” de Paul Thomas Anderson, pela forma como a narrativa perde um eixo ou o dilui. Aqui, a procura do serial killer, assassino de idosas é algo que remeteria a um filme policial, mas não há o suspense da revelação. O que interessa aqui não é descobrir o assassino ou se vai ser preso. A partir de certo momento, o próprio filme nos revela quem são. A cena final do seu reconhecimento pela polícia e posterior confissão nada tem de climática ou reveladora. Não se trata de descobrir as razões por quais Camille (Richard Corcet), o jovem migrante martiniquenho, e seu amante Raphaël (Vincent Dupont) assaltam e matam idosas. Não existe uma correlação direta nem fácil entre a condição de Camille como migrante, homossexual e negro, e sua vida de tráfico e roubos. Trata-se de mais um personagem das sombras de nós mesmos1.
Sua condição encontra paralelo em Daiga (Katherina Golubeva), jovem atriz lituana que chega em Paris à procura de emprego ou para talvez reatar um eventual caso com um diretor de teatro que conhecera, mas acaba vivendo de fazer limpeza em um hotel. A ausência de voz over, aqui, acentua ainda mais as ambigüidades dos personagens, suas identidades. Estão todos em trânsito, não só os estrangeiros. Curiosamente, é importante que a ênfase de Denis neste filme é em mostrar uma cidade formada pelos que migraram há muito tempo: os amigos russos da tia-avó de Daiga e a família de Camille e seu irmão Théo (Alex Descas). Diferente da fraternidade masculina, apresentada por Dah e Jocelyn em “S’en fout la Mort”; Camille e Théo têm certo distanciamento, são estranhos um ao outro. Théo, violinista que vive de montar móveis, encena seu não-pertencimento pelo desejo de voltar a Martinica com o filho que teve com uma francesa (Béatrice Dalle). Ao recusar uma imagem paradisíaca do seu país, não diz o porquê da volta ou o que deseja encontrar. Camille acaba na prisão e Theo parece fugir da tela, de Paris, da França como Daiga que rouba o dinheiro de Camille e também abandandona Paris. Provavelmente mais bem sucedida do que o amante de Camille, que acaba recapturado pela policia.
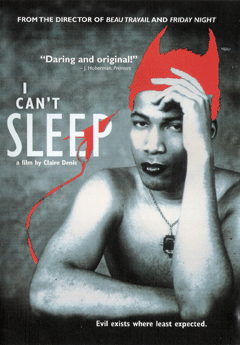 A incertitude acompanha os personagens negros e brancos, franceses, russos e martiniquenhos que vagam incertos. Para além de marcados pela diáspora, eles são nômades. Não sendo à toa que o hotel-pensão se transforma num espaço central em que vários dos personagens se esbarram, não simplesmente um lugar de trânsito, um não-lugar, mas uma casa provisória e precária, mas ainda sim casa. Há um certo mal-estar, mas nada dilacerante. Há frases trocadas rapidamente que estranhos falam quando se encontram em clubs, cafés, na rua. Em geral, nada mais do que isso.O que pode ser pouco, pode ser muito, ou somente o suficiente. Neste contexto, o sexo não representa intimidade. O encontro, quando acontece, é fugaz, como quando a dona do hotel conta estórias em francês para Daiga que pouco entende a língua.As duas ficam bêbadas. É apenas isto, tudo isto. Não se trata de um alivio provisório, um desencanto romântico em meio à solidão humana permanente. É mais como se pudéssemos ouvir ao fundo a voz rouca de Marianne Faithfull: “All over the world, it´s the same, it´s the same, it´s the same”.
A incertitude acompanha os personagens negros e brancos, franceses, russos e martiniquenhos que vagam incertos. Para além de marcados pela diáspora, eles são nômades. Não sendo à toa que o hotel-pensão se transforma num espaço central em que vários dos personagens se esbarram, não simplesmente um lugar de trânsito, um não-lugar, mas uma casa provisória e precária, mas ainda sim casa. Há um certo mal-estar, mas nada dilacerante. Há frases trocadas rapidamente que estranhos falam quando se encontram em clubs, cafés, na rua. Em geral, nada mais do que isso.O que pode ser pouco, pode ser muito, ou somente o suficiente. Neste contexto, o sexo não representa intimidade. O encontro, quando acontece, é fugaz, como quando a dona do hotel conta estórias em francês para Daiga que pouco entende a língua.As duas ficam bêbadas. É apenas isto, tudo isto. Não se trata de um alivio provisório, um desencanto romântico em meio à solidão humana permanente. É mais como se pudéssemos ouvir ao fundo a voz rouca de Marianne Faithfull: “All over the world, it´s the same, it´s the same, it´s the same”.
Como na cena final de “Chocolat” ou a boate em “Beau Travail”, também a cena em que Camille dubla o cantor Jean-Louis Murat, corpo transcultural, meio homem, meio mulher, andando descalço no bar, sintetiza uma mesma impenetrabilidade que a África representava aos olhos de France em “Chocolat”, um outro cada vez menos exótico, mas distante e estranho por mais geográfica e fisicamente perto.
*Denilson Lopes é professor da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador do CNPq, doutor em Sociologia pela Universidade de Brasília, autor de A Delicadeza: Estética, Experiência e Paisagens (Brasília, EdUnB, a sair em 2007), O Homem que Amava Rapazes e Outros Ensaios (Rio de Janeiro, Aeroplano, 2002) e Nós os Mortos: Melancolia e Neo-Barroco (Rio de Janeiro, 7Letras, 1999), co-organizador de Imagem e Diversidade Sexual (São Paulo, Nojosa, 2004) e organizador de O Cinema dos Anos 90 (Chapecó, Argos, 2005).
NOTAS
1O mesmo tipo de construção evita que “Madame Satã” (2005) de Karin Aïnouz se torne um clichê multicuralista de celebração da exclusão identitária.
BIBLIOGRAFIA
ACHUGAR, Hugo. Planetas sem Boca. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2006.
BEUGNET, Martine. Claire Denis. Manchester: Manchester University Press, 2004.
BUTLER, Kim. “Defining Diáspora, Refining a Discourse”. In: Diaspora, Vol. X, n. 2, 2001.
CLIFFORD, James. “Diásporas”. In: Routes. Travel and Translation in the Late Twentieth Century. 2ª.ed., Cambridge: Harvard University Press, 1999.
DIRLIK, Arif. “There is More in the Rim than Meets the Eye: Thoughts on the ´Pacific Idea´”. In: The Postcolonial Aura. Boulder, Westview, 1997.
GILROY, Paul. The Black Atlantic. Cambridge: Harvard University Press, 1993.
HALL, Stuart. “Pensando a Diáspora”. In: Da Diáspora. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2003.
MARKS, Laura. The Skin of the Film. Durham: Duke University Press, 2000, 1/126.
NAFICY, Hamid. An Accented Cinema. Princeton, Princeton University Press, 2001.
RENOUARD, Jean-Philippe e WAJEMAN, Lise. “The Weitgth of Here and Now. A Conversation with Claire Denis, 2001” , Journal of European Studies, V. 34, n.1/2, 2004.
STAM, Robert e SHOHAT, Ella (eds.) Unthinking Eurocentrism. New York: Routledge, 1994.
STRAND, Dana. “ ‘Dark Continents´ Collide: Race and Gender in Claire Denis´s Chocolat”. In: LE HIR, Marie Pierre and STRAND, Dana (eds.). French Cultural Studies. Albany: State of New York University Press, 2000.
