É comum, em debates sobre racismo e colonialismo, lembrar a “herança” da escravidão. Como o terrível das relações sociorraciais nesse período se metamorfoseia em várias violências hoje, não necessariamente físicas, mas que tocam fundo quem as sofre, como o desprezo ao de pele escura, a sua consideração ou desconsideração como humano, o desdém à sua capacidade e trabalho, como o doméstico, que, codificado como servir, é naturalizado como coisa de gente tida como inferior. Gente que antes era tratada na chibata, merecendo castigos como o tronco, agora para reconhecer o “seu lugar” é tratada de forma ríspida, sem direitos e necessidades.
Dantes os escravos tinham que fazer! Mal serviam a janta iam aprontar e acender os candeeiros, deitar-lhes novo azeite e colocá-los no seu lugar… E hoje? É só chegar o palitinho de fogo à bruxaria do bico de gás e… caia-se na pândega! Já não há tarefa! Já não há cativeiro! É por isso que eles andam tão descarados! Chicote! chicote, até dizer basta! que é do que eles precisam. Tivesse eu muitos, que lhes juro, pela bênção de minha madrinha, que lhes havia de tirar sangue do lombo!
(Diálogo entre duas sinhás em O Mulato [Azevedo, 2020].)
Os sindicatos de trabalhadores domésticos hoje dispõem de um triste repertório de testemunhos que ilustram tal “herança”, a naturalização do maltratar, do desprezar, do que seria tido como próprio ao trabalho doméstico remunerado, o servir e a ambígua relação entre depender e menosprezar tal serviço, o que também, costuma-se frisar, viria sendo escancarado com a pandemia, mas que não necessariamente é novo.[1]
Mas, além da prosopopeia de brancos que se acham os humanos, os superiores, e por aí desqualificam os negros, os não brancos, e que por dinâmica do racismo estrutural se institucionalizem situações que não oportunizam mudanças de tal estado de desigualdades sociorraciais, não se considera a necessidade de reparações materializadas em oportunidades para um digno viver e mobilidade para o povo negro. É bem incipiente o debate do que se vem nomeando por branquitude, o que se confunde com o sutil processo de reprodução da supremacia branca. Considera-se que a branquitude se realiza por privilégios, o que pede desvendar práticas e silenciamentos, pedindo autocríticas de nós, que nos declaramos antirracistas, quanto a formas de ser, nos comunicar com o outro, a outra, o povo de cor preta, e com eles/elas traçar estratégias de reparação que lhes pareçam mais convenientes. De fato, não é fácil uma ressocialização que implique a crítica de privilégios, estando em sociedades racialiazadas por hierarquias.
Uma das reparações que cobram urgência é quanto ao silêncio sobre histórias de tantos e, não ao azar, recontar a da colonização de acordo com vivências em relações sociais. O sentido da raça nessas e para a modernidade é um dos princípios fundadores da perspectiva decolonial e, nessa, do conceito de colonialidade do poder (ver Quijano, 2005 e Segato, 2015 sobre esse conceito). Ora, tal silêncio contribui para a reprodução tanto de justificativas para racismos, como o desprezo pelo tido como não humano, já que inferiorizado, quanto para subjetividades interrompidas, quando o povo negro tem sua história apagada.
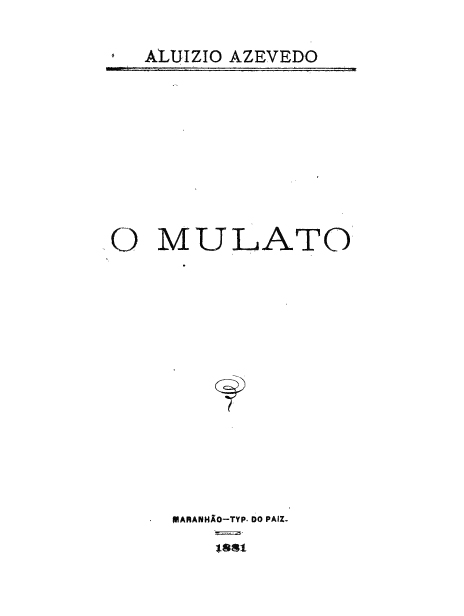
Foi lendo O Mulato, de Aluísio Azevedo, sobre a ambiência colonial da província do Maranhão de 1832, que me dei conta de outra herança terrível aos não brancos, aos não descendentes dos colonizadores por pai e mãe. A herança de não ter passado, não saber quem foram os/as ancestrais, o que contamina muitas vezes aqueles que não se dão conta de que também são o outro, nem tão brancos como pensado, ou melhor, se dão sim, quando em terras estrangeiras são tratados de forma paternalista, ou invisibilizados.
No romance, o personagem Raimundo vivia bem, autoestima alta, pois o pai, fazendeiro branco, dono de escravos, por culpa ou afeto, lhe pusera nos melhores colégios da Europa. Ele, apesar de ter sido chamado de “macaquinho” no colégio em Lisboa, por conta da boa vida e privilégios da fortuna paterna, não se dera conta da sua desintegração, de que ele era um outro, não da terra, não da raça dos colonizadores. Considerava-se inclusive superior, já no Maranhão, aos provincianos fazendeiros, ricos donos de negócios, orgulhosos de sua ascendência portuguesa, a qual sonham projetar em descendência, e às irascíveis sinhás. Raimundo criticava o perverso trato aos escravos e curtos horizontes cognitivos daquela gente, tão distantes dos “civilizados” europeus. O “Mulato” suspirava saudoso pelos tempos na Europa. Estamos em 1832, tempos em que, segundo Aluísio Azevedo, os/as das classes poderosas chamavam os negros de “sujos”, e os mestiços de “cabras”, considerando esses não apenas como inferiores, mas culpados de todos os males que lhes podiam advir, já que tidos como de “mau caráter” e portadores de “má sorte”.
Pois bem, ao ter seu pedido de casamento com a prima branca negado pelo tio, por ser “pessoa de cor”, “filho de uma escrava com um senhor”, Raimundo espanta-se ao ser chamado de mulato. Começa a traduzir os sinais de desprezo e indiferença que lhe chegavam nas reuniões da Casa Grande, onde era tolerado. Começa a sentir mais forte a dor de perguntas que, se antes o incomodavam, não chegavam a doer: Quem era ele? Qual a sua história? Quem era a sua mãe?
Raça é criação dos colonizadores, frisa Aníbal Quijano, um dos principais autores do pensamento decolonial, questionando como se nos chega a história da modernidade, a emancipação das “trevas” pelo iluminismo, uma invenção dos cultos europeus, assim omitindo as trevas impostas aos povos colonizados, justificadas pelo mito fundador da colonização/escravidão: humanos, cultos europeus, a civilizar incultos, não humanos nativos, gente de cor. A colonialidade do poder, conceito de Quijano, se afirma inclusive por subjetividades cúmplices.
Até ser nomeado “mulato”, Raimundo não se dera conta, graças a seu lugar de classe, jovem de posses, como era socialmente enquadrado, inferiorizado entre os de igual fortuna, sua marca de raça.
Mulato! Esta só palavra lhe explicava agora todos os mesquinhos escrúpulos, que a sociedade do Maranhão usara para com ele. Explicava tudo: a frieza de certas famílias a quem visitara; a conversa cortada no momento em que Raimundo se aproximava; as reticências dos que lhe falavam sobre os seus antepassados; a reserva e a cautela dos que, em sua presença, discutiam questões de raça e de sangue; a razão pela qual D. Amância lhe oferecera um espelho e lhe dissera: “Ora mire-se!” a razão pela qual, diante dele, chamavam de meninos aos moleques da rua. Aquela simples palavra dava-lhe tudo o que ele até aí desejara e negava-lhe tudo ao mesmo tempo, aquela palavra maldita dissolvia as suas dúvidas, justificava o seu passado; mas retirava-lhe a esperança de ser feliz, arrancava-lhe a pátria e a futura família; aquela palavra dizia-lhe brutalmente: Aqui, desgraçado, nesta miserável terra em que nasceste, só poderás amar uma negra da tua laia! Tua mãe, lembra-te bem, foi escrava! E tu também o foste! — Mas, replicava-lhe uma voz interior, que ele mal ouvia na tempestade do seu desespero; a natureza não criou cativos! (Azevedo, 2020).
Toca fundo a expressão de Aluísio Azevedo pensada por Raimundo em frente a um túmulo no cemitério da fazenda que fora do pai, que ele supõe ser da mãe escrava: “seu passado uma sepultura sem epitáfio”. Um túmulo com uma lápide em branco ou em negro?
Somos memória, e se não as temos? O reconhecimento da linhagem nos enraíza, colabora em alinhar ou desalinhar projetos. Em todas as etnias africanas muito se cultua a ancestralidade.[2] Tutano de medula que sustenta subjetividades e comunidades. São eles e elas, os/as ancestrais, que eram reis e rainhas na África, caçadores, livres, que identificam por língua e rituais próprios que o/a escravizado/a tem uma história que vai além do cativeiro; que tornaria o presente suportável pois se tem um passado-idealizado, não importa, de feitos heroicos que legitimam pensar em transcendência e ultrapassar tempo passado e futuro em danças e batuque seus; que resistiram às chicotadas dos sinhôs e das sinhás; que construíram os quilombos e que dão força para rebater o desprezo, a desumanização, pois doam outra herança, que fala de uma humanidade singular, relembrada nas estórias que chegam dos mais velhos. Os/as ancestrais amalgamam pertença, sugerindo que, com os/as iguais, a luta fundacional por descolonizações é possível.
Ancestralidade e memória são conceitos que se entrelaçam quer em busca por identidades individualizadas, quer com orientação coletiva. Por exemplo, são parte de distintos corpos teóricos sobre comunidade étnica.[3]
Também na literatura sobre memória se enfatiza a relação entre o individual e o coletivo. Michael Pollak, sociólogo com reconhecidas pesquisas e ensaios teóricos sobre problemas da identidade social em situações-limite, em conferência dada no Brasil em 1987, intitulada “Memória e identidade social”, lembra que:
A priori, a memória parece ser um fenômeno individual, algo relativamente íntimo, próprio da pessoa. Mas Maurice Halbwachs, nos anos 20-30, já havia sublinhado que a memória deve ser entendida também, ou sobretudo, como um fenômeno coletivo e social, ou seja, como um fenômeno construído coletivamente e submetido a flutuações, transformações, mudanças constantes (Pollak, 1992, p. 201).
Corpo e alma são decepados quando memórias são sequestradas. Mas bastaria ao “Mulato” encontrar sua mãe, uma escrava enlouquecida, que no romance vaga pela fazenda onde tanto sofrera, para, em busca individual, mais conhecer sobre sua ancestralidade e resgatar identidade? Com que coletividade, os quase pretos e não muito brancos, haveria que se juntar para sua construção identitária? Como reconstruir a história de uma herança escrava, se a história é contada pelos vencedores e não pelos vencidos. No romance, não ao azar, muito se sabe sobre o pai branco, rico fazendeiro descendente dos colonizadores portugueses, como viveu, quem era, como morreu. Tinha nome e sobrenome: José da Silveira. Sobre a mãe, Domingas, algumas linhas sobre sua vitimização por torturas pela ciumenta sinhá, sua dor de mãe e enlouquecimento:
Estendida por terra, com os pés no tronco, cabeça raspada e mãos amarradas para trás, permanecia Domingas, completamente nua e com as partes genitais queimadas a ferro em brasa. Ao lado, o filhinho de três anos, gritava como um possesso, tentando abraçá-la, e, de cada vez que ele se aproximava da mãe, dois negros, à ordem de Quitéria [a sinhá], desviavam o relho das costas da escrava para dardejá-lo contra a criança. A megera, de pé, horrível, bêbada de cólera, ria-se, praguejava obscenidades, uivando nos espasmos flagrantes da cólera. Domingas, quase morta, gemia, estorcendo-se no chão. O desarranjo de suas palavras e dos seus gestos denunciava já sintomas de loucura (Azevedo, 2020).
“Seu passado, uma sepultura sem epitáfio”. A saga do “Mulato” é a saga de uma raça ou uma não raça racializada para a qual, entre as reparações que lhe são devidas, estão histórias de vidas sem lápides.
* Mary Garcia Castro é professora visitante do UFRJ/IFICS/PPGSA, professora aposentada Universidade Federal da Bahia e pesquisadora da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais/Brasil.
Referências
AZEVEDO, Aluísio. O Mulato. Clássicos de Aluísio Azevedo. Nostrum Editora. Edição do Kindle, 2020 [1881].
CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. Cultura com aspas e outros ensaios. São Paulo: UBU, 2017.
CASTRO, Mary Garcia. Gênero e etnicidade, conhecimentos de urgência em tempos de barbárie, Revista ODEERE, v. 3, n. 6, 2018, p 80-101.
OYEWUMI, Oyeronke. African Gender Studies: A Reader. Nova York: Palgrave MacMillan, 2005.
POLLACK, Michael. Identidade e memória, Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 5, n. 10, 1992, p. 200-212.
QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In: LANDER, Edgardo (org.). A colonialidade do saber: Eurocentrismo e ciências sociais, perspectivas latino-americanas. Buenos Aires: Clacso, 2005.
SEGATO, Rita L. Aníbal Quijano y la perspectiva de la colonialidad del poder. In: SEGATO, Rita. La crítica de la colonialidad en ocho ensayos y una antropología por demanda. Buenos Aires: Prometeo, 2015.
Notas
[1] Ver entrevistas de diretoras da Federação Nacional de Trabalhadores Domésticos (https://fenatrad.org.br/).
[2] Ver distintos artigos em Oyewumi, 2005.
[3] Sobre etnicidade, ver, entre outros, Carneiro da Cunha, 2017 e Castro, 2018.

