Embora tenha cunhado o termo racismo linguístico no calor da polêmica em torno do chamado “livro de português do MEC” (Lucchesi, 2011), os fundamentos para essa formulação remontam aos inícios da década de 1990, quando iniciamos nossas pesquisas de campo junto a comunidades quilombolas do interior do estado da Bahia, nas quais coletamos amostras de fala vernácula que possibilitaram análises dos processos de mudança em curso nos padrões de comportamento linguístico dessas comunidades, com o enquadramento teórico e metodológico da Sociolinguística Variacionista (Labov, 2008[1972]). A Figura 1 é uma foto deste pesquisador (muito mais magro), em uma comunidade quilombola, no ano de 1992.

Um conjunto significativo de análises de aspectos da morfossintaxe da fala dessas comunidades foi reunido em volume intitulado O Português Afro-Brasileiro (Lucchesi; Baxter; Ribeiro, 2009). Essa publicação, cuja capa é apresentada na Figura 2, contribuiu significativamente para vencer as resistências na pesquisa linguística brasileira em reconhecer a relevância do contato do português com as línguas indígenas e africanas na conformação das atuais variedades do chamado português brasileiro, embora essas resistências ainda persistam de forma minoritária.
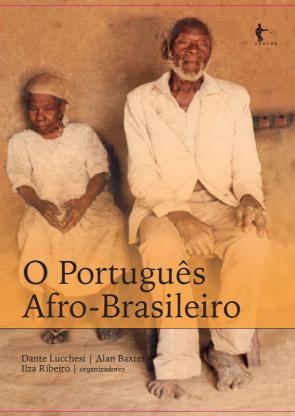
Mas a expressão racismo linguístico só viria a ganhar maior notoriedade quando se tornou o título do livro de Gabriel Nascimento (2019), que passou a ser tido como autor da expressão (cf. Melo; Mira, 2021, por exemplo), certamente por conta de sua militância e lugar de fala. Nesse âmbito, a expressão se fundamenta na dimensão racista do preconceito linguístico, ou seja, o preconceito linguístico integra um conjunto de mecanismos que plasmam o racismo estrutural no Brasil.
Mais do que dirimir uma questão de autoria, este artigo busca demonstrar que, não obstante a pertinência desse conteúdo do conceito de racismo linguístico, há razões históricas que permitem afirmar que o racismo está na gênese do preconceito contra as formas mais típicas da linguagem popular brasileira, especialmente a falta de concordância nominal e verbal (exemplificadas na frase: “meus filho trabalha muito”). Revela-se, assim, a dialética perversa, que é inerente ao próprio preconceito linguístico. A falta de concordância era estigmatizada por ser típica da fala de africanos e seus descendentes, e, quando essa motivação histórica se diluiu e se perdeu no esquecimento, o estigma ganha uma autonomia e se escora na “autoridade gramatical”, que classifica tais formas linguísticas como degradadas e inferiores, de modo que, com a força ideológica do preconceito, atua como mecanismo reprodutor do racismo estrutural.
Portanto, quando a ciência da linguagem, conjugando pesquisa histórica e empírica, revela as raízes racistas do preconceito linguístico, fornece elementos para a desconstrução de um dos mais poderosos instrumentos ideológicos de dominação de classe nas sociedades letradas contemporâneas. Não é à toa que a Linguística é uma das ciências mais desprestigiadas quando não virulentamente atacada pela grande mídia corporativa. E a luta ideológica que se trava na sociedade se insinua no próprio campo do fazer da ciência, com o preconceito e o conservadorismo se infiltrando, de forma mais ou menos dissimulada, nas posições em debate.
Para abordar tais questões, este artigo está dividido em quatro seções. A primeira seção reporta brevemente o episódio do que ficou conhecido como “livro de português do MEC”, quando a questão da língua ocupou o centro do debate político nacional, com o acirramento do preconceito contra as formas mais típicas da linguagem popular. A forma como as representações sociais da língua atuam como um poderoso instrumento de discriminação e de construção da hegemonia da dominação de classe é objeto da segunda seção deste artigo. A terceira seção traz um breve panorama da história sociolinguística do Brasil. A quarta seção busca explicar como o contato entre línguas deu origem às formas mais típicas da linguagem popular, sobre as quais recai um pesado estigma social. A conclusão retoma a íntima relação entre a história da língua e a história social e como a compreensão daquela pode contribuir para uma conscientização do que ocorre nesta.
Um livro que ensinava a falar errado
Uma ligeira nota publicada em um portal da Internet, no mês de maio de 2011, desencadeou um dos mais intensos debates sobre a língua no Brasil. A violenta reação ao chamado “livro de português do MEC”, cuja capa é apresentada na Figura 3, foi motivada por uma passagem em que se afirmava que o aluno poderia dizer “os livro”, sem aplicar a regra de concordância nominal, como é comum na fala popular, mas deveria ficar “atento”, porque, “dependendo da situação”, poderia “ser vítima de preconceito linguístico”. A frase “nós pega os peixe”, também referida no livro, como legítima em seu ambiente cultural de origem, foi propagada à exaustão, reforçando o estigma social que se abate sobre a falta de concordância na fala popular.
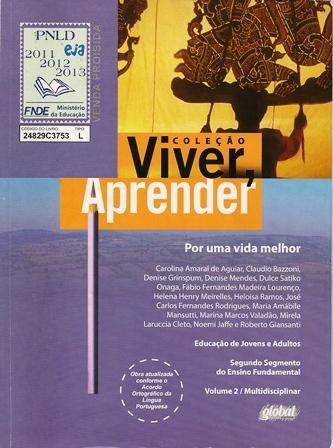
Para os críticos, a distribuição do livro demonstrava que o MEC estava fazendo apologia da ignorância popular e privando a população de seu direito legítimo a um ensino adequado de língua portuguesa, dando azo às reações mais furibundas e esdrúxulas, como esta, de uma senhora (publicada no portal100fronteiras.com.br, em 15/05/2011), que se apresentava como pedagoga e professora de português [sic]:
Com pompa e circunstância, o MEC do governo petista quer assegurar que os futuros cidadãos fiquem privados de empregos, de crescimento intelectual, de relações culturais; no futuro, o MEC deseja que os brasileiros estejam no estado de barbárie linguística e sejam incapazes de entender um edital de concurso, por exemplo; salvo se o edital informar que “os candidato deve apresentarem os seguinte documento”. Nem Hitler, com sua mente diabólica e homicida, realizou um projeto desse tipo para dominar a juventude nazista, ganhando simpatias e aplausos dos pouco letrados daquela época. Com pompa e circunstância, em uma palhaçada do politicamente correto, o governo petista organiza um exército de futuros adultos privados de proficiência no vernáculo, cuidadosamente preparado no sistema público de ensino, que servirá aos interesses do estado brasileiro que está sendo forjado desde 2003, em conformidade com as lições Gramsci.
Manifestações desse tipo alimentaram, durante semanas, uma onda de revolta e indignação, na qual os responsáveis pelo livro foram, inclusive, chamados de criminosos, e uma procuradora da República anunciou sua intenção de processá-los, como se pode ver nesta notícia publicada pelo jornal O Globo (versão on line), em 16/05/2011:
Diante da denúncia de que o livro Por uma vida melhor, da professora Heloísa Ramos – que foi distribuído a 485 mil estudantes jovens e adultos pelo Programa Nacional do Livro Didático, do Ministério da Educação –, defende o uso da linguagem popular e admite erros gramaticais grosseiros como “nós pega o peixe”, a procuradora da República Janice Ascari, do Ministério Público Federal, previu que haverá ações na Justiça. Para ela, os responsáveis pela edição e pela distribuição do livro “estão cometendo um crime” contra a educação brasileira. “Vocês estão cometendo um crime contra os nossos jovens, prestando um desserviço à educação já deficientíssima do país e desperdiçando dinheiro público com material que emburrece em vez de instruir. Essa conduta não cidadã é inadmissível, inconcebível e, certamente, sofrerá ações do Ministério Público”, protestou a procuradora da República em seu blog.
É muito significativo observar que alguns aspectos desse episódio anteciparam o violento retrocesso que ocorreria nos anos seguintes, no país. Em primeiro lugar, o discurso de ódio e intolerância, contra uma paranoica ameaça comunista e contra o politicamente correto. Esse foi um dos principais motes da campanha que elegeu Bolsonaro em 2018. Em segundo lugar, o açodamento e a exacerbação de alguns órgãos do poder judiciário. A partidarização do poder judiciário, através da famigerada Operação Lava Jato, foi um fator decisivo no desenvolvimento da luta política que levou ao golpe parlamentar que derrubou a presidenta Dilma Rousseff, em 2016, e à prisão do presidente Lula, em 2018. O terceiro aspecto foi a manipulação da grande mídia corporativa, que também desempenhou um papel decisivo no retrocesso político que ocorreria nos anos seguintes, com um verdadeiro massacre midiático do Partido dos Trabalhadores, que descambou para a criminalização de toda a política, criando o caldo de cultura que possibilitou a eleição à presidência da República de um deputado que se destacava pela defesa da ditadura militar e viria a dar representatividade política ao que de mais obscuro existe na sociedade brasileira.
Visando desgastar o governo petista, particularmente seu ministro da educação, Fernando Haddad, que concorreria e venceria a eleição para a maior cidade do país, em 2012, a mídia corporativa não tinha pejo em se referir ao “livro que ensinava a falar errado”, contrariando a lógica mais elementar, como ficou evidente quando o então ministro da educação afirmou que “ninguém em sã consciência se propõe a ensinar ao aluno a falar como ele já fala”. Aferrando-se às três primeiras páginas do livro, a mídia sonegou a informação de que em todo o seu restante o livro se propunha a ensinar a norma culta para o público a que se destinava: os alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Também vale destacar que quase nunca um linguista foi convidado para os diversos debates que foram promovidos na época.
Embora não tenha havido maiores consequências práticas (a ação judicial impetrada para o recolhimento do livro, por exemplo, não prosperou), o episódio do livro de português do MEC deixou claro que o preconceito contra as formas mais típicas da linguagem popular é um poderoso instrumento ideológico de dominação de classe, do qual a elite econômica, através de seus pensadores e de sua mídia corporativa, não abre mão.
O papel da língua na construção da hegemonia ideológica nas sociedades de classe
No plano linguístico, o episódio do livro de português do MEC tornou evidente que o emprego das regras de concordância nominal e verbal é um marcador social que traça uma indelével fronteira, reproduzindo, no plano social da língua, o apartheid que rasga a sociedade brasileira. Dessa forma, a fala se junta a outros marcadores sociais da dominação capitalista no Brasil, como os estereótipos do popular como atrasado, ignorante e folclórico, cujas origens remontam ao passado colonial e escravista da sociedade brasileira. Nesse contexto, o aporte da ciência da linguagem assume um caráter profundamente subversivo, ao desconstruir o preconceito linguístico como sendo uma mera convenção social, sem implicações para o pleno funcionamento da língua, o que explica a forma como a ciência da linguagem é tratada pelo mainstream midiático.
Um simples cotejo com o inglês e o francês, línguas que gozam de grande prestígio, no Brasil e no mundo, basta para provar o caráter arbitrário do julgamento social sobre as formas da linguagem popular. Em inglês, se diz: I work, you work, he works, we work, you work, they work; na linguagem popular do Brasil: eu trabalho, tu trabalha, ele trabalha, nós trabalha, vocês trabalha, eles trabalha. Nas duas variedades linguísticas, só uma pessoa do discurso recebe uma marca específica (no inglês é a 3ª pessoa do singular: he works; enquanto no português popular brasileiro é a 1ª pessoa do singular: eu trabalho), ou seja, ambas têm o mesmo nível de complexidade estrutural, mas o inglês é a língua da globalização e da modernidade, enquanto o português popular do Brasil é língua de gente ignorante, que não sabe votar.
O mesmo se pode dizer do francês, em que a flexão de número e pessoa do verbo também se perdeu, e só se mantém na escrita: je travaille, tu travailles, il/elle travaille, nous travaillons, vous travaillez, ils/eles travaillent. Isso não impediu o francês de ser a língua de cultura do século XIX e ser chique para a aristocracia brasileira falar francês até meados do século XX.
Conquanto seja evidente o caráter arbitrário e preconceituoso do estigma que se abate sobre a ausência de concordância no português popular, o pensamento conservador dominante sequer reconhece o preconceito linguístico como uma categoria de análise válida. Diante disso, vale a pena descrever o modus operandi do preconceito na língua, introduzindo a noção de transferência. No julgamento preconceituoso, avalia-se uma coisa com base em outra. Nesse caso, a avaliação negativa da linguagem popular decorre da avaliação negativa de seus falantes, em um círculo vicioso e tautológico, no qual a desqualificação da linguagem popular, baseada no julgamento negativo de seus falantes, serve para legitimar o próprio julgamento social negativo desses falantes, do qual se alimenta. Porém, na inversão que a hegemonia ideológica da classe dominante opera, o discurso gramatical, que condena a falta de concordância, é chancelado como um discurso técnico, ponderado e abalizado, enquanto o discurso da Linguística, que revela o caráter arbitrário e dogmático dessa avaliação, é visto como altamente ideológico e relativista. E isso não ocorre só no Brasil, mas em todo o mundo letrado. Para entender por que essa inversão ideológica ocorre, é preciso situar a normatização da língua na cultura das sociedades modernas.
A normatização linguística é um dos pilares da hegemonia ideológica nas sociedades contemporâneas, no que o sociolinguista James Milroy (2011 [2001], p. 57-59), recentemente falecido, denominou ideologia da língua padrão: “praticamente todo o mundo adere à ideologia da língua padrão e um dos aspectos dela é uma firme crença na correção gramatical”:
Essa crença assume a seguinte forma: quando houver duas ou mais variantes de uma palavra ou construção, somente uma delas pode estar certa. É considerado óbvio, como senso comum, que algumas formas são certas e outras são erradas, e assim é, mesmo quando existe discordância sobre qual é qual. Em geral, não existe discordância. […]. Para a maioria das pessoas em culturas de língua padrão que prestam atenção à língua é assim e pronto: nenhuma justificativa é necessária [para rejeitar uma forma como errada].
A naturalização do mito da correção gramatical faz com que ele assuma uma dimensão moral, o que acentua seu caráter ideológico e a sua força como discurso hegemônico, posto que a correção gramatical é vista como uma mera questão de bom-senso, ocultando o seu caráter ideológico:
embora as atitudes do senso comum sejam ideologicamente carregadas, aqueles que a sustentam não as veem de modo algum como tais: eles acreditam que seus juízos desfavoráveis sobre pessoas que usam a língua “incorretamente” são juízos puramente linguísticos sancionados por autoridades sobre a língua (…). As pessoas não associam necessariamente esses juízos com preconceito ou discriminação em termos de raça ou classe social: elas acreditam que, sejam quais forem as características sociais do falante, estes simplesmente usaram a língua de um modo errado e que existe para eles a possibilidade de aprender a falar corretamente. Se não o fizeram, é por culpa própria deles, como indivíduos, seja qual for sua raça, cor, credo ou classe; existe uma abundância de modelos do “bom” falar para eles. (Milroy, 2011 [2001], p. 59)
Dessa forma, a ideologia da correção gramatical confina com a ideologia da meritocracia, que avalia supostos méritos individuais, abstraindo as condições objetivas que diferenciam os indivíduos. E a dimensão ideológica do discurso da correção gramatical é assim descrita por Milroy (2011 [2001], p. 62):
A ideologia exige que aceitemos que a linguagem (ou uma língua) não é algo que os falantes nativos possuem: eles não são pré-programados com uma faculdade da linguagem que lhes permite adquirir (ou desenvolver) “competência” na língua sem ser formalmente ensinados (…). O que eles adquirem de modo informal antes da idade escolar não é confiável e não plenamente correto ainda. Nesse contexto, a “intuição do falante nativo” não significa nada, e as sequências gramaticais não são produtos da mente do falante nativo. Elas são definidas externamente – em compêndios gramaticais – e a escola é o lugar onde ocorre a verdadeira aprendizagem da língua. Faz parte do senso comum que é preciso ensinar às crianças as formas canônicas de sua própria língua nativa.
Assim, o discurso da correção gramatical exibe uma das características centrais do discurso ideológico, ou seja, um discurso que emite um juízo de valor, determinado por um interesse de classe, mas que não se apresenta enquanto tal. Não obstante sua avaliação seja arbitrária e apriorística, o discurso da correção gramatical logra um estatuto de objetividade e de universalidade. O parâmetro da autoridade, definida externamente, é crucial para a legitimação do discurso ideológico. E autoridade da tradição gramatical (um paradigma do saber que se mantém e se reproduz há mais de dois mil anos no mundo ocidental) é tanta que se opera uma inversão perversa: “se os linguistas afirmarem que todas as variedades são gramaticais (o que elas, é claro, são), suas opiniões serão interpretadas como ideológicas, não como linguísticas” (Milroy, 2011 [2001], p. 62). Ou seja, o discurso da correção gramatical arbitrário e dogmático é visto como técnico e objetivo, enquanto o discurso científico e empiricamente fundamentado da linguística é visto como… ideológico!
Essa invisibilidade do caráter ideológico do discurso da correção gramatical é que lhe confere um papel central na construção da hegemonia ideológica da dominação de classe, donde a importância estratégica de se manter o dogma da correção gramatical, como faz o pensamento conservador, amplamente apoiado e difundido pela mídia corporativa. Como contraparte necessária, é preciso também desqualificar o discurso científico da Linguística, interditando-lhe qualquer autoridade sobre as questões da língua, pelo menos no debate social. Uma estratégia adotada para isso é exatamente criar uma contradição entre o conhecimento científico da língua e o seu ensino como disciplina escolar, como o fez o gramático Evanildo Bechara, por ocasião do debate acerca do livro de português do MEC:
Há uma confusão entre o que se espera de um cientista e de um professor. O cientista estuda a realidade de um objeto para entendê-lo como ele é. Essa atitude não cabe em sala de aula. O indivíduo vai para a escola em busca de ascensão social.[1]
Não deixa de ser espantoso o que é reconhecido com tanta naturalidade. A língua não deve ser estudada na escola como ela é de fato, mas como ela deve ser. Imaginem o professor de biologia ensinando a forma ideal dos seres, e não sua anatomia real. Ou o professor de geografia ensinado a disposição perfeita dos continentes, e não sua configuração atual. Acenando com a cenoura da “ascensão social”, Bechara limpa o terreno para os normativistas legislarem arbitrariamente sobre a língua. A visão científica, que descreve e analisa a variação e a diversidade da língua viva, deve ficar hermeticamente confinada entre os muros da universidade. Na escola e na sociedade, deve predominar a visão dogmática e discriminatória de que existe uma única forma de falar e escrever, enquanto as demais variedades devem ser vistas como deteriorações produzidas por mentes inferiores, ou seja, o discurso da correção gramatical, que atua como um poderoso instrumento de discriminação, marginalização e exploração das classes populares das periferias urbanas e dos rincões rurais do país, onde predominam os pretos e os pardos. E revela-se aí mais um círculo vicioso e perverso. Alguns dos aspectos linguísticos mais estigmatizados da linguagem popular têm a sua origem exatamente na forma como a língua portuguesa foi assimilada pelos africanos escravizados e se tornou a língua materna dos descendentes brasileiros desses africanos, e o estigma social que se abate sobre essas formas linguísticas torna-se um poderoso sustentáculo do racismo estrutural no Brasil.
O contato entre língua na formação histórica da realidade linguística brasileira
A realidade linguística do Brasil atualmente pode ser definida como paradoxal. Ao tempo em que contém uma das mais ricas diversidades linguísticas do planeta, com mais de duzentas línguas faladas em seu território, o Brasil é também um dos países mais linguisticamente homogêneos do mundo, pois cerca de 98% de sua população é falante nativa do português, em sua imensa maioria monolíngues (Lucchesi, 2020). Tirando as mais de 50 línguas de imigração, a grande diversidade linguística do Brasil se concentra nas cerca de 160 línguas autóctones de pelo menos cinco famílias linguísticas tipologicamente bem diferenciadas. Porém, toda essa diversidade linguística é só uma pálida imagem do que existia no início da colonização portuguesa, quando se estima que eram faladas mais de mil línguas indígenas no território brasileiro (Rodrigues, 1986). Grande parte dessas línguas desapareceu já nos primeiros séculos de colonização, com o extermínio dos povos que as falavam. Da mesma forma, estima-se que cerca de 200 línguas africanas foram trazidas para o Brasil com o tráfico negreiro (Petter, 2006). E nada diz mais sobre a violência simbólica e cultural da escravidão do que o fato de nenhuma dessas línguas ter subsistido no Brasil. Portanto, a história linguística do Brasil, nos últimos 500 anos, pode ser definida como um violento processo de homogeneização linguística, pois, até o final do século XVII, o português era apenas uma das centenas de línguas que se falavam no território brasileiro, sem uma clara proeminência sobre as demais em várias regiões. Dessa forma, o ciclo da mineração representa um turning point no processo de imposição do português como língua hegemônica do Brasil (Lucchesi, 2017), embora a imposição linguística, religiosa e cultural tenha sido a marca da colonização europeia desde o seu início.
Não obstante a enorme quantidade de línguas autóctones que eram faladas em seu território, predominava, na costa do Brasil, no início da colonização portuguesa, uma grande homogeneidade linguística, devido à grande expansão dos povos tupis pelo litoral brasileiro (Lucchesi, 2009, 2017). Esses povos falavam basicamente duas variedades linguísticas muito aparentadas: o tupiniquim e o tupinambá (Rodrigues, 1986). Por serem muito semelhantes entre si, os colonos e missionários portugueses se referiam a essas variedades como uma única língua, a que chamaram língua geral da costa do Brasil. O amplo uso dessa língua geral vai caracterizar o cenário sociolinguístico de São Paulo, onde se instalou o primeiro foco de colonização portuguesa no Brasil, com a fundação da Vila de São Vicente, em 1532. Após se estabelecer no litoral, os colonizadores seguiram para o interior, subindo o planalto paulista e fundando uma nova vila, que viria a dar origem à atual cidade de São Paulo. Após a sujeição da população tupi local, o aprisionamento dos povos indígenas prosseguiu pelo interior do Brasil, em grandes expedições denominadas Bandeiras. Essas populações eram aprisionadas e exploradas em aldeamentos nos quais se impunha a língua geral tupi como língua franca, já que muitos desses povos eram falantes de diversas línguas indígenas, sobretudo do grupo macro-jê, que predominava no interior do Brasil. Por outro lado, o reduzido contingente de colonizadores, em sua imensa maioria homens, possibilitou um amplo processo de miscigenação, no qual as crianças adquiriam a língua geral tupi de suas mães para só adquirirem o português quando cresciam e iam trabalhar para seus pais (Rodrigues, 2006).
A conservação de variedades da língua geral tupi, com alterações produzidas no novo contexto de colonização, ocorreu em vários pontos da costa brasileira, como o sul da Bahia (Argolo, 2013). Com a expulsão dos franceses de São Luís, em 1615, outra variedade do tupi, o tupinambá, viria a predominar na sociedade colonial que os portugueses estabeleceram inicialmente no Maranhão e expandiram para a região amazônica, em busca das especiarias da selva e do apresamento de novos povos indígenas, em sua maioria falantes de línguas diversas, inclusive de outras famílias linguísticas, distintas da família tupi-guarani, nomeadamente as famílias aruaque e caribe. Assim, a língua de intercurso que viria a predominar na colonização da Amazônia seria essa variedade crescentemente alterada do tupinambá, que, com a denominação de nhengatu (lit. ‘língua boa’), acabou por se nativizar entre povos indígenas da região e até hoje é a língua materna de algumas localidades do Alto Amazonas (Rodrigues, 2006).
A língua geral foi predominante no Estado de São Paulo até os finais do século XVII (Silva Neto, 1963[1951]), porém a descoberta de ouro e diamantes na região vizinha, das Minas Gerais, promoveu um grande afluxo de colonos portugueses, com seus muitos milhares de africanos escravizados, ao longo do século XVIII, os quais expulsaram os antigos paulistas para o centro-oeste do Brasil, reduzindo drasticamente o uso da língua geral no Sudeste. No Maranhão e no Pará, no norte do Brasil, a língua geral de base tupinambá se conservou por muito mais tempo, tanto que o governo português do Marquês de Pombal publicou um decreto, proibindo o seu uso, no ano de 1755, mas a língua geral amazônica só viria a entrar em franco declínio ao longo do século XIX (Freire, 2004).
Por outro lado, nas regiões economicamente mais dinâmicas do Brasil Colonial, como o entorno das vilas de Olinda e Salvador, no Nordeste do Brasil, a população indígena local foi rapidamente dizimada, com a importação de largos contingentes de africanos escravizados, que teriam substituído a mão-de-obra indígena já em meados do século XVII (Menard; Schwartz, 2002, p. 10). A partir daí a contribuição africana para a composição da sociedade brasileira foi crescente, pois a principal força motriz do empreendimento colonial português foi a mão de obra dos africanos escravizados e seus descendentes, denominados crioulos; tanto que o chamado tráfico negreiro se tornou uma das atividades comerciais mais lucrativas, durante todo o período colonial e em boa parte do período do Império.
Embora tenha sido, durante bastante tempo, muito pouco visível, em função da violência, não apenas física, mas, sobretudo, simbólica, inerente ao processo de escravidão (Mattoso, 2003), a presença africana constitui um dos componentes fundamentais na formação da sociedade brasileira, nos mais diversos setores da atividade social e da cultura, com forte influência na religião, na culinária, na música, na dança (Freyre, 1936), e também no plano da língua, tendo os africanos e seus descendentes desempenhado um papel decisivo na “europeização” linguística do Brasil (Ribeiro, 1995, p. 166).
Não apenas no Brasil, mas em todo o processo de colonização da América, entre os séculos XVI e XIX, a importação de largos contingentes de mão de obra africana foi crucial. Estima-se que, ao longo de mais de três séculos, o tráfico negreiro trouxe para o continente americano cerca de dez milhões de africanos.[2] A participação desse contingente na formação das nações que vieram a se constituir no novo continente foi significativa, não obstante a já referida opressão na qual se buscava apagar a identidade cultural e linguística dos povos africanos. Em vários planos da cultura, como a religião, a música e a culinária, a contribuição africana é indelével. No plano linguístico, essa contribuição se destaca pela emergência de línguas crioulas, na região do Caribe, em sociedades formadas a partir de grandes propriedades agroexportadoras que empregavam largamente a mão de obra escravizada, denominadas plantações. Dentre as mais de trinta línguas crioulas que se formaram na região, encontram-se o haitiano, cujo léxico é de origem francesa, e o jamaicano, de base lexical inglesa, além do papiamento, em Curaçao, e o sranan e o saramacan, no Suriname.
Calcula-se que o destino de quase a metade dos africanos trazidos para o continente americano tenha sido o Brasil, o que conduz à impressionante cifra de cinco milhões de indivíduos.[3] Em sua maioria, eram provenientes da região de Angola e da região que atualmente corresponde à Nigéria e ao Benin. Da primeira região vieram os falantes das línguas banto, principalmente o quimbundo, o quicongo e o umbundo. Da segunda região, vieram os falantes das línguas kwa, majoritariamente o iorubá, o ewe, o mahi e o fon. Os escravos provenientes de Angola eram levados para Pernambuco e principalmente para o Rio de Janeiro, que se tornou o principal porto do Brasil, a partir do século XVIII. Do Rio de Janeiro, eram distribuídos para o resto do Brasil, exceto a Bahia, que importava a maioria dos seus escravizados da Costa da Mina, com larga predominância dos falantes do iorubá, tanto que essa língua ainda era falada entre a população pobre de Salvador até o início do século XX (Rodrigues, 2004 [1933]).
Até meados do século XIX, aproximadamente dois terços da população do Brasil era constituída por índios, africanos e seus descendentes – ou seja, só cerca de um terço daqueles que formaram a sociedade brasileira eram falantes nativos do português filhos de falantes nativos dessa língua, ou seja, o segmento da elite colonial branca. A partir do século XVII, os africanos e seus descendentes, incluindo os mestiços, predominaram na população do Brasil, tanto que, em 1850, africanos, crioulos e mulatos correspondiam a 65% do total da população (Lucchesi, 2009). Esse contingente formou, quase que exclusivamente, a mão de obra das lavouras de cana-de-açúcar, fumo e algodão do Nordeste, entre os séculos XVII e XIX, da extração de ouro e pedras preciosas em Minas Gerais, no século XVIII, e das fazendas de café do Vale do Paraíba e do Planalto Paulista, no século XIX. O tráfico negreiro só cessou em 1850, e a escravidão africana só foi abolida em 1888. Até o início do século XX, a grande maioria dessa massa de afrodescendentes vivia no campo e era iletrada (Lucchesi, 2015, p. 85-94).
Desde o tráfico da África para o Brasil, os africanos eram misturados para evitar a articulação de revoltas. No Brasil, essa prática se reproduzia, e o uso das línguas africanas era reprimido, bem como suas práticas culturais e religiosas (Mattoso, 2003). Os africanos eram forçados a usar o português até para se comunicarem entre si, porém a aquisição da língua do colonizador era precária, porque o acesso a essa língua era muito restrito, e, na maioria das situações, especialmente na lavoura, os africanos não tinham interesse em adquirir uma grande proficiência em português. Essa segunda língua tornava-se, então, um código restrito de comunicação interétnica (Baker, 2000), com uma estrutura gramatical limitada e muitas vezes decalcada das línguas nativas dos africanos. Mesmo assim, essa variedade alterada de segunda língua ia se tornando a língua materna dos filhos dos africanos, no que se definiu como transmissão linguística geracional irregular (Baxter; Lucchesi, 1997; Lucchesi; Baxter, 2009). Esse processo pode levar à formação de uma língua qualitativamente distinta da língua do colonizador, tradicionalmente denominada língua crioula.
É possível que variedades crioulizadas do português tenham se formado no Brasil, sobretudo no século XVII, em algumas localidades com maior concentração de população africana, como o quilombo dos Palmares, no atual estado de Alagoas. Porém, essas variedades tiveram uma vida efêmera e não deixaram testemunhos históricos. Para além da desarticulação dos núcleos de resistência linguística e cultural, vários fatores demográficos, sociais e culturais concorreram para que a crioulização da língua do colonizador não ocorresse no Brasil de forma ampla de duradoura como ocorreu no Caribe, não obstante os significativos paralelos que se podem estabelecer entre os dois processos de colonização, especialmente no século XVII, que marca o início da formação da maioria das línguas crioulas nas sociedades de plantação das ilhas caribenhas (Lucchesi, 2019). Em primeiro lugar, coloca-se o percentual de pelo menos 30% de falantes nativos de português, durante o período da colônia e do império, bem superior ao que Bickerton (1981) estabeleceu para que a crioulização fosse possível: que os falantes do grupo dominante fossem inferiores a 20% do total da população. No plano socioeconômico, destaca-se a significativa presença pequenos proprietários no Brasil, que empregavam uma média de 3 a 5 escravizados, esbatendo, assim, a polarização entre senhores e escravizados, que caracterizou o Caribe, com a grande concentração de africanos nas poderosas empresas agroexportadoras que tornaram o açúcar o primeiro produto de consumo de massa do Ocidente. O elevado grau de miscigenação e a grande assimilação dos mestiços pela sociedade branca. A ação da Igreja Católica, que favoreceu a maior integração dos africanos e crioulos, nomeadamente através das ordens religiosas. E o grande número de alforrias (Lucchesi, 2019). Essas condições impediram a formação de pidgins e crioulos no Brasil, mas não impediram as alterações que vão separar as variedades de português dos descendentes de índios e africanos frente o português lusitanizado da elite colonial e do Império. Assim, um português dividido vai-se tornando a língua hegemônica da sociedade brasileira, configurando a polarização sociolinguística do Brasil (Lucchesi, 2015). Identificar os efeitos do contato entre línguas nas atuais variedades da língua no Brasil é crucial para compreender mais profundamente a questão social da língua e do preconceito linguístico.
Como o contato entre línguas afetou as atuais variedades do português popular brasileiro
Se hoje 98% da população do Brasil é de falantes nativos do português, quase todos monolíngues, durante a maior parte da sua história, cerca de dois terços de sua população era de falantes de línguas indígenas africanas e seus descendentes. Escrever livros e artigos científicos, como muito se faz, falando da história do português no Brasil baseado apenas nos testemunhos escritos da elite colonial e do império é apagar a história e a voz da maioria do povo brasileiro, descendentes dos povos originários e africanos (Lucchesi, 2012). A história linguística do Brasil tem ao menos duas grandes vertentes (Lucchesi, 2001). De um lado, uma elite branca e concentrada no litoral esforçava-se para reproduzir aqui o bon usage de Coimbra e Lisboa. De outra parte, esfalfando-se nas minas e plantações, milhões de indígenas e africanos iam adquirindo precariamente a língua do colonizador que lhes era imposta juntamente com os açoites. E essa variedade de segunda língua, mastigada e remoída, foi gradualmente se tornando a língua dos descendentes desses indígenas e africanos, gravando em seu modo de falar uma clivagem que reproduzia a clivagem de uma sociedade dividida entre senhores e escravos. Assim, ao longo dos séculos, a clivagem original entre o português da elite colonial, de um lado, e as línguas gerais indígenas e línguas francas africanas, de outro, foi se transformando na oposição entre um falar lusitanizado da elite escravocrata e variedades mais ou menos alteradas do português do povo trabalhador, descendente, em sua maioria, dos povos originários e africanos.
Em meados do século XIX, essa clivagem etnolinguística era bem notável para qualquer observador arguto, porém o ingresso de cerca de três milhões de imigrantes europeus e asiáticos na sociedade brasileira, entre as últimas décadas do século XIX e as primeiras do século XX, foi esbatendo a coloração da clivagem linguística do Brasil, pois esses imigrantes, atraídos pelo governo brasileiro para substituir a mão de obra escravizada (sobretudo depois da abolição), aprendiam português, no mais das vezes, com os ex-cativos que subsistiam nas propriedades em que eram alocados. E como muitos desses imigrantes, pelas melhores condições que desfrutavam aqui, acabavam por ascender na escala social, levavam para as classes médias e altas as marcas da linguagem dos afrodescendentes, com quem haviam convivido (Lucchesi, 2001, 2015).
Esse esbatimento do caráter étnico da clivagem linguística do Brasil, ao longo do século XX, favoreceu o esforço para diluir as contribuições dos africanos e indígenas para o modo de falar dos brasileiros, até mesmo no âmbito da ciência. Para isso, concorreram dois fatores. De um lado, o racismo e o eurocentrismo, que viam nas interferências do aprendizado indígena e africano o empobrecimento e a degradação do idioma lusitano. Isso fica bem claro neste trecho do discurso de Joaquim Nabuco, na sessão de instalação da Academia Brasileira de Letras, em 1897:
A raça portuguesa, entretanto, como raça pura, tem maior resistência e guarda assim melhor o seu idioma; para essa uniformidade de língua escrita devemos tender. Devemos opor um embaraço à deformação que é mais rápida entre nós; devemos reconhecer que eles são os donos das fontes, que as nossas empobrecem mais depressa e que é preciso renová-las indo a eles. A língua é um instrumento de ideias que pode e deve ter uma fixidez relativa. Nesse ponto tudo devemos empenhar para secundar o esforço e acompanhar os trabalhos dos que se consagrarem em Portugal à pureza do nosso idioma, a conservar as formas genuínas, características, lapidárias, da sua grande época (…) Nesse sentido nunca virá o dia em que Herculano ou Garrett e os seus sucessores deixem de ter toda a vassalagem brasileira. (apud Pinto, 1978, p. 197-198)
No discurso do acadêmico, fica claro que os modelos de correção gramatical devem ser importados de Portugal, porque no Brasil a língua estava contaminada pela miscigenação racial, revelando como o racismo estava na base das representações sociais da língua numa sociedade que acabara de abolir formalmente a escravidão. Um pensamento similar é igualmente observado, entre filólogos e até linguistas, em meados do século XX, com a ideia de que o português não se impôs pela violência, mas pela superioridade cultural do colonizador europeu:
a vitória do português não se deveu a imposição violenta da classe dominante. Ela explica-se por seu prestígio superior, que forçava os indivíduos ao uso da língua que exprimia a melhor forma de civilização. (Serafim da Silva Neto, 1963 [1951], p. 67)
Foi, portanto, a superioridade axiológica e pragmática da cultura ocidental que levou à vitória da língua portuguesa no Brasil sobre as suas concorrentes indígenas e africanas. (Sílvio Elia, 1979, p. 18)
Por outro lado, a hegemonia do estruturalismo, que encerra a história da língua na lógica interna do sistema linguístico, levava muitos teóricos a minimizar a influência do contato do português com as línguas africanas. Assim, Mattoso Câmara Jr. (1975) mantém no essencial a visão de Serafim da Silva Neto (1988[1957], p. 604):
Não se pode esquecer que a ação dos aloglotas consiste, de modo geral, em precipitar a deriva da língua, isto é, tendências já contidas no sistema. A evolução opera-se no sentido de tendências pré-existentes, que então irrompem e se difundem. É sabido que o aloglota reproduz, acentuando-os e exagerando-os, os traços da pronúncia que ouve.
E o mais surpreendente foi ver dois dos mais destacados sociolinguistas do Brasil reafirmarem essa hipótese, que se baseia no conceito estruturalista de deriva secular do linguista norte-americano Edward Sapir (1954[1921]):
A língua portuguesa falada em Portugal antes da colonização do Brasil já possuía uma deriva secular que a impulsionava ao longo de um vetor de desenvolvimento. No Brasil, este vetor se encontrou com forças que reforçavam e expandiam a direção original. (Naro; Scherre, 2007, p. 47)
Portanto, o resgate da participação de africanos e indígenas na formação histórica da realidade linguística brasileira demandou, em primeiro lugar, a superação de obstáculos que se colocavam no âmbito da própria ciência da linguagem, seja por influxos ideológicos, seja por limitações da teoria. Esse trabalho de pesquisa ensejou três grandes frentes de investigação: uma historiográfica, precisando os contextos sociolinguísticos em que ocorreu contato entre português e as línguas indígenas e africanas; uma teórica, com a formulação de uma teoria que desse conta de como o contato entre línguas afeta a estrutura da língua; e uma empírica, que testa as hipóteses geradas pela teoria por meio de análises sociolinguísticas em tempo aparente dos processos de mudança em curso na fala popular brasileira, especialmente das comunidades quilombolas, onde, por suposto, os efeitos do contato do português com as línguas africanas seriam mais notáveis. No plano da teoria, a formulação do conceito de transmissão linguística irregular (Baxter; Lucchesi, 1997; Lucchesi; Baxter, 2009) foi a chave para se buscar uma adequada compreensão de como o contato entre línguas afetou a formação das atuais variedades populares da língua portuguesa no Brasil.
O conceito de transmissão linguística irregular tem um caráter gradiente e visa a desenvolver um modelo mais amplo de análise das mudanças linguísticas induzidas pelo contato maciço entre línguas, para além das situações típicas de crioulização. A ideia básica é que uma situação de maciço contato entre línguas pode conduzir à formação de uma língua crioula, que tem uma gramática qualitativamente distinta da língua alvo (Rouge, 2008), constituindo um caso radical de transmissão linguística irregular. Por outro lado, a situação de contato maciço pode gerar apenas variedades históricas da língua dominante com algumas características estruturais das línguas crioulas, porém em um nível menos intenso e mais superficial, caracterizando uma transmissão linguística irregular de tipo leve.[4]
Em ambos os casos, o que está essencialmente em jogo é a necessidade de recomposição das estruturas gramaticais perdidas na situação inicial de contato, com a aquisição precária da língua do grupo dominante pelos falantes adultos dos grupos dominados. Portanto, é a intensidade da erosão gramatical da língua dominante que vai determinar o grau de reestruturação gramatical da variedade linguística que se formará na situação de contato. Para que haja a reestruturação original da gramática que dá origem às línguas pidgins e crioulas, é preciso que o acesso aos modelos da língua dominante seja restrito durante todo o período de formação dessa nova comunidade de fala, o que aconteceu, por exemplo, nas sociedades de plantação do Caribe. Nesses casos, o grupo dominado, muito majoritário, retém um restrito conjunto de itens do léxico da língua dominante (denominada, então, lexificadora), adquirido inicialmente para a comunicação verbal com os colonizadores, mas que depois passa a servir como código de comunicação interétnica entre os grupos dominados, já que estes falam línguas diversas, normalmente ininteligíveis entre si. Nesse universo da interação entre os dominados, implementa-se a reestruturação gramatical do restrito vocabulário adquirido da língua do colonizador, sem deixar de ocorrer uma profunda alteração na forma fonética das palavras adquiridas (Baker, 2000). Esse código de comunicação interétnica, denominado tradicionalmente pidgin, é a segunda ou terceira língua da maioria de seus utentes (Mühlhäusler, 1986). Ao se converter na língua materna das crianças que nascem na situação de contato, torna-se uma língua crioula, que, como toda língua nativa de uma comunidade de fala, é uma língua plena em termos estruturais e funcionais em seu universo cultural próprio, conquanto tenha uma estrutura gramatical incialmente muito simplificada em algumas áreas da gramática (Siegel, 2008).
Dessa forma, as línguas crioulas, embora tenham a imensa maioria de suas palavras provenientes da língua do grupo dominante na situação de contato (na imensa maioria dos casos, uma língua europeia), exibe uma estrutura gramatical qualitativamente diversa. Por exemplo, as línguas crioulas expressam os valores das categorias gramaticais de tempo, modo e aspecto por meio de partículas pré-verbais, e não por meio da flexão verbal, como ocorre nas línguas lexificadoras europeias. A gramaticalização desempenha naturalmente um papel crucial na formação das línguas crioulas. Assim, o verbo dar se gramaticaliza para desempenhar a função de preposição de dativo, os verbos discendi (dizer/falar) passam a desempenhar também a função de complementizadores (conectores oracionais), e o nome cabeça ou corpo passa a funcionar também como pronome reflexivo. A crioulização pode ser vista também como um processo de simplificação morfológica (McWhorter, 1998; 2001). Normalmente, as línguas crioulas utilizam um número muito reduzido de preposições e conjunções, predominando as construções por justaposição; além disso, não possuem flexão de caso dos pronomes pessoais, flexão verbal de número e pessoa e concordância verbal e nominal. Como decorrência dessas alterações, as línguas pidgins e crioulas também exibem algumas mudanças paramétricas em relação às línguas lexificadoras europeias, como a ausência de sujeito referencial nulo e de inversão na ordem sujeito-verbo (Roberts, 1997). A recomposição da estrutura gramatical que ocorre na pidginização/crioulização se concentra nos mecanismos que são essenciais ao funcionamento de qualquer língua natural, o que reveste o estudo das línguas crioulas de especial interesse para a compreensão da linguagem humana, pois a língua crioula prototípica possuiria apenas o núcleo gramatical essencial da faculdade da linguagem (Bickerton, 1981, 1999).
Toda essa reestruturação gramatical que caracteriza a formação das línguas crioulas ocorreu em situações sócio-históricas bem específicas, nas quais os grupos dominados eram altamente segregados e tinham um acesso extremamente restrito aos modelos da língua alvo. As grandes plantações de açúcar do Caribe são considerados os contextos históricos prototípicos para a ocorrência da pidginização/crioulização (Arendts, 2008, Singler, 2008). Porém, como argumentado acima, na formação da sociedade brasileira, os falantes dos grupos dominados e seus descendentes tiveram um maior acesso à língua europeia do grupo dominante, o que inibiu a crioulização, mas não impediu a ocorrência de mudanças estruturais decorrentes da aquisição mais ou menos limitada do português como segunda língua por milhões de índios aculturados e africanos escravizados e da nativização desse modelo mais ou menos defectivo de segunda língua entre os seus descendentes mestiços ou endógamos.
Nesse processo de transmissão linguística irregular de tipo leve, que determina a formação histórica das atuais variedades populares do português brasileiro, a reestruturação radical da gramática típica da crioulização não teria sido representativa nem duradoura. Ocorreu, portanto, a transmissão dos mecanismos nucleares da gramática da língua dominante. Por outro lado, não deixou de ocorrer uma reestruturação parcial, com mudanças que afetaram sobretudo os mecanismos gramaticais sem valor informacional, como as regras de concordância nominal e verbal. Observa-se, contudo, uma diferença quantitativa entre esse processo menos intenso de reestruturação e o processo radical da crioulização, pois, neste último, mecanismos gramaticais sem valor informacional são virtualmente eliminados, enquanto na transmissão linguística irregular de tipo leve observa-se apenas um amplo processo de variação no uso desses mecanismos gramaticais, sem ocorrer a sua eliminação, como acontece até hoje no português popular do Brasil, em que a falta de concordância nominal é verbal não é categórica, mas variável, observando-se tanto meus filho foi embora, quanto meus filhos foro embora.
Análises sociolinguísticas desses fenômenos em comunidades quilombolas do interior do estado da Bahia, numa abordagem em tempo aparente, que busca deslindar processos de mudança em curso na comunidade, com base na observação sincrônica da variação em determinando momento da língua (Labov, 2008[1972]), identificaram uma tendência ao incremento das marcas de concordância, liderados pelos homens mais jovens que viveram algum tempo fora da comunidade e que tiveram alguma experiência de escolarização (Lucchesi; Baxter; Ribeiro, 2009). Essas mudanças de cima para baixo e de fora para dentro da comunidade quilombola se inserem no amplo processo de nivelamento linguístico, no qual os padrões de fala das elites letradas das grandes cidades brasileira se difundem para todas as classes sociais e para todas as regiões do país, em função da influência vertiginosa dos meios de comunicação de massa, da educação pública (mesmo que precarizada) e pelo deslocamento populacional. Esse nivelamento linguístico, que vai eliminando gradualmente as marcas produzidas pelo contato linguístico no passado, é resultante do profundo processo de industrialização e urbanização da sociedade brasileira que se implementa a partir da revolução de 1930. Porém, essa difusão do padrão linguístico urbano culto esbarra nas limitações do desenvolvimento tardio e dependente do capitalismo brasileiro e do quadro de violenta concentração da renda que ele produziu, o que não permite a plena integração no mercado de trabalho e de consumo das massas egressas das zonas rurais, que se concentram em bolsões de miséria na periferia das grandes cidades, configurando, assim, o quadro atual da polarização sociolinguística do Brasil (Lucchesi, 2015).
A constatação de que está em curso atualmente uma mudança com a recuperação da morfologia perdida na situação de contato no passado refuta a hipótese de Nero e Scherre (2007) de que esses fenômenos decorrem de uma deriva secular interna à estrutura da língua, pois esta hipótese prevê um lento processo de perda das marcas de concordância, e não o seu incremento, como as pesquisas empíricas têm revelado. Além disso, a observação de fenômenos variáveis mais raros de simplificação morfológica, como a falta de concordância de gênero (e.g., as vezes ‘duece um pessoa, não tem um ambulança) e de não marcação da 1ª pessoa do plural nos verbos (e.g., eu trabalha na roça), que não se observam, em geral, nas variedades populares do português brasileiro, mas se observam nas comunidades quilombolas mais isoladas, reforça a relação historicamente motivada entre esses processos de simplificação morfológica mais profundos e o contato do português com as línguas indígenas e africanas que marca a formação da sociedade brasileira.
A historiografia linguística revela, assim, que as marcas mais estigmatizadas da fala popular tiveram sua origem na forma como o português foi imposto aos segmentos indígenas e africanos na formação da sociedade brasileira e ainda se mantêm, nos dias atuais, em função da marginalização socioeconômica desses segmentos. Sua erradicação passa, portanto, pela real democratização da sociedade brasileira, facultando a esses segmentos marginalizados o pleno acesso ao mercado de trabalho e de consumo, nomeadamente de bens simbólicos e culturais. E nada justifica o preconceito contra essas formas linguísticas, que nada mais são do que o reflexo do caráter pluriétnico da sociedade brasileira, a não ser o preconceito e o racismo de uma elite e uma classe média retrógradas e escravistas.
Conclusão: o racismo na língua e na sociedade
A sociedade brasileira é uma das mais injustas, violentas e cruéis de planeta. Historicamente, isso se explica pelo fato de os dois grandes processos formadores desse imenso país foram o extermínio dos povos indígenas (infelizmente ainda em curso) e a escravidão africana (ainda surpreendida pelo Ministério Público do Trabalho no interior de grandes empresas rurais ou travestida nas “modernas” relações trabalhistas mediadas por aplicativos informáticos). Quarenta anos de hegemonia neoliberal só aprofundaram a exploração e a marginalização de crescentes segmentos da sociedade brasileira, como ocorreu em todo o mundo, com o vertiginoso desenvolvimento tecnológico concentrado na mão de uma poucos gigantes econômicos, produzindo um retrocesso que ameaça o meio ambiente, as relações humanas, a ciência, a cultura e coloca o mundo à beira da guerra, do caos social e do desastre ambiental irreversível.
A ciência não pode se furtar ao seu papel e não pode deixar de cerrar fileiras na luta democrática, popular e progressista em defesa do planeta e da humanidade, contra a voragem dos monstruosos detentores do grande capital financeiro nacional e internacional. A inextrincável relação entre a língua e a vida social faz das representações sociais da língua um poderoso instrumento de dominação de classe, alimentando no Brasil o desumano racismo estrutural. Não é à toa que a mídia capitalista cultiva o purismo gramatical e trata a discriminação contra as formas da linguagem popular como “ação civilizadora”, para “tirar o povo da sua ignorância”. Mas, ao provar, com uma investigação empírica consistente, que o preconceito linguístico não passa de uma nefasta convenção social, cujas origens remontam ao racismo da elite escravocrata do século XIX, a historiografia linguística e a sociolinguística assumem um caráter altamente revolucionário e subversivo, atraindo a ira dos sabujos e mastins das elites brancas e escravistas, como se pode ver nesta passagem de um editorial de um dos órgãos mais reacionários e manipuladores da imprensa nativa, a revista Veja, publicado na época da polêmica do livro de MEC, em sua edição de 25 de maio de 2011:
A discussão arcana sobre o ‘falar popular’ ocupa um escaninho secundário na sociolinguística e seria um enorme favor aos brasileiros que estudam e trabalham se nunca tivesse deixado o seu porão acadêmico.
Como expediente de seu discurso ideológico, a revista, que é porta-voz fidelíssimo dos interesses do grande capital, invoca retoricamente os interesses dos brasileiros que estudam e trabalham. Mas, ao contrário do que seu grunhido sectário afirma, a sociolinguística tem muito a contribuir com a melhoria de vida dos estudantes e trabalhadores brasileiros, desarmando um dos poderosos instrumentos ideológicos de sua opressão e exploração e promovendo a consciência e o respeito à diversidade linguística e cultural, como parte da construção de uma sociedade verdadeiramente pluralista, justa e democrática, o que a grande mídia capitalista tanto tenta impedir, para manter o poder avassalador do grande capital financeiro.
* Dante Lucchesi é professor titular aposentado de Língua Portuguesa da Universidade Federal Fluminense e Bolsista de Produtividade em Pesquisa, Nível 1B, do CNPq. É autor dos livros: Língua e Sociedade Partidas (Contexto, 2015), agraciado com o Prêmio Jabuti em 2016; Sistema, Mudança e Linguagem (Parábola, 2004); e organizador e autor do livro O Português Afro-Brasileiro (EDUFBA, 2009).
Referências
ARENDS, Jacques. A Demographic Perspective on Creole Formation. In: KOUWENBERG, Silvia; SINGLER, John. (eds.). The Handbook of Pidgin and Creole Studies. Oxford: Wiley-Blackwell, 2008. p. 309-331
ARGOLO, Wagner. Colonização e Língua Geral: o caso do sul da Bahia. PAPIA, São Paulo, nº 23, v. 1, p. 75-96, 2013.
BAKER, Philip. Theories of creolization and the degree and nature of restructuring. In: NEUMANN-HOLZSCHUH, Ingrid; SCHNEIDER, Edgard W. (eds.). Degrees of Restructuring in Creole Languages. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2000. p. 41-63.
BAXTER, Alan: LUCCHESI, Dante. A relevância dos processos de pidginização e crioulização na formação da língua portuguesa no Brasil. Estudos Linguísticos e Literários, Salvador, nº 19, p. 65-83, março de 1997.
BICKERTON, Derek. 1981. Roots of language. Ann Arbor: Karoma.
BICKERTON, Derek. How to Acquire Language without Positive Evidence: What Acquisitionists Can learn from Creoles? In: DEGRAFF, Michel (org.). Language Creation and Language Change – Creolization, Diachrony, and Development. Cambridge: The MIT Press, 1999. p. 49-74.
ELIA, Sílvio. A unidade linguística do Brasil. Rio de Janeiro: Padrão, 1979.
FREIRE, José Ribamar Bessa. Rio Babel: a história das línguas na Amazônia. Rio de Janeiro: Atlântica, 2004.
FREYRE, Gilberto. Sobrados e Mocambos. São Paulo: Editora Nacional, 1936.
LABOV, William. Padrões Sociolinguísticos. São Paulo: Parábola, 2008[1972].
LUCCHESI, Dante. História do Contato entre Línguas no Brasil. In: LUCCHESI; Dante; BAXTER, Alan; RIBEIRO, Ilza (orgs.). O Português Afro-Brasileiro. Salvador: EDUFBA, 2009. p. 04-73.
LUCCHESI, Dante. As duas grandes vertentes da história sociolinguística do Brasil, D.E.L.T.A., São Paulo, nº 17, v. 1, p. 97-132, 2001.
LUCCHESI, Dante. Racismo linguístico ou ensino democrático e pluralista? Grial – Revista Galega de Cultura, Vigo, Espanha, nº 190, t. XLIX, p. 86-95, abril/junho. 2011.
LUCCHESI, Dante. A deriva secular na formação do português brasileiro: uma visão crítica. In: LOBO, Tânia; CARNEIRO, Zenaide; SOLEDADE, Juliana; ALMEIDA, Ariadne; RIBEIRO, Silvana (orgs.). ROSAE: linguística histórica, história das línguas e outras histórias. Salvador: EDUFBA, 2012. p. 249-274.
LUCCHESI, Dante. Língua e Sociedade Partidas: a polarização sociolinguística do Brasil. São Paulo: Contexto, 2015.
LUCCHESI, Dante. A periodização da história sociolinguística do Brasil. D.E.L.T.A., São Paulo, v.33, nº 2, p. 347-382, maio/agosto 2017.
LUCCHESI, Dante. Por que a crioulização aconteceu no Caribe e não aconteceu no Brasil? Condicionamentos sócio-históricos. Gragoatá, Niterói, v. 24, nº 48, p. 227-255, jan.-abr. 2019.
LUCCHESI, Dante. O processo de normatização da língua na modernidade e na história sociolinguística do Brasil. In: RAZKY, Abdelhak, OLIVEIRA, Marlúcia Barros de; LIMA, Alcides Fernandes de (Orgs.). Estudos Geossolinguísticos do Português Brasileiro. v. 2. Campinas: Pontes, 2020. p. 49-76.
LUCCHESI; Dante; BAXTER, Alan. A transmissão Linguística Irregular. In: LUCCHESI; Dante; BAXTER, Alan; RIBEIRO, Ilza (orgs.). O Português Afro-Brasileiro. Salvador: EDUFBA, 2009. p. 101-24.
LUCCHESI; Dante; BAXTER, Alan; RIBEIRO, Ilza (orgs.). O Português Afro-Brasileiro. Salvador: EDUFBA, 2009.
MATTOSO, Katia. Ser escravo no Brasil. 3. ed. São Paulo: Brasiliense, 2003.
MCWHORTER, J. Identifying the creole prototype. Vindicating a typological class. Language, n. 74, v4, p. 788–818, 1998.
MCWHORTER, J. The world’s simplest grammars are creole grammars. Linguistic Typology, n. 5, v. 2/3, p. 125–166, 2001.
MELO, Lucas A. N.; MIRA, Ane P. V. J. O Pretoguês em sala de aula: racismo linguístico e as práticas pedagógicas da(o) docente de língua portuguesa. Inter-Ação, Goiânia, v. 46, n. 3, p.1395-1412, set/dez. 2021.
MENARD, Russel; SCHWARTZ, Stuart. Por que a escravidão africana? A transição da força de trabalho no Brasil, no México e na Carolina do Sul. In: SZMRECSÁNYI, Tamás. (org.). História Econômica do Período Colonial. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 2002. p. 3-20.
MILROY, James. Ideologias linguísticas e as consequências da padronização. In: LAGARES, Xoán; BAGNO, Marcos (orgs.). Políticas da Norma e Conflitos Linguísticos. São Paulo: Parábola, 2011. p. 49-87.
MÜHLHÄUSLER, Peter. Pidgin & Creole Linguistics. Londres: Basil Blackwell, 1986.
NARO, Anthony; SCHERRE, Marta. Origens do português brasileiro. São Paulo: Parábola, 2007.
NASCIMENTO, Gabriel. Racismo linguístico: os subterrâneos da linguagem e do racismo. Belo Horizonte: Letramento, 2019
PETTER, Margarida. As línguas africanas no Brasil. In: CARDOSO, Suzana; MOTA, Jacyra; MATTOS E SILVA (eds.). Quinhentos anos de história linguística do Brasil. Salvador: Secretaria da Cultura e Turismo do Estado da Bahia, 2006. p. 117-141.
PINTO, Edite P. O português do Brasil: textos críticos e teóricos, 1 – 1820-1920, fontes para a teoria e a história. Rio de Janeiro / São Paulo: Livros Técnicos e Científicos / Editora da Universidade de São Paulo, 1978.
RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
ROBERTS, Ian. Creoles, markedness and the Language Bioprogram Hypothesis. Estudos Linguísticos e Literários, Salvador, nº 19, p. 11-24, 1997.
RODRIGUES, Aryon. Línguas brasileiras: para o conhecimento das línguas indígenas. São Paulo: Loyola, 1986.
RODRIGUES, Aryon. As outras línguas da colonização do Brasil. In: CARDOSO, Suzana; MOTA, Jacyra; MATTOS E SILVA (eds.). Quinhentos anos de história linguística do Brasil. Salvador: Secretaria da Cultura e Turismo do Estado da Bahia, 2006. p. 143-161.
RODRIGUES, Nina. Os africanos no Brasil. 8.ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2004 [1933].
ROUGÉ, Jean-Louis. A inexistência de crioulo no Brasil. In: FIORIN, José Luiz; PETTER, Margarida. África no Brasil: a formação da língua portuguesa. São Paulo: Contexto, 2008. p. 63-74.
SAPIR, Edward. A linguagem: introdução ao estudo da fala. Trad.: J. Mattoso Câmara Jr. Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro, 1954[1921].
SIEGEL, Jeff. The Emergence of Pidgin and Creole Languages. Oxford: Oxford University Press, 2008.
SILVA NETO, Serafim da. Introdução ao estudo da língua portuguesa no Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: INL, 1963[1951].
SILVA NETO, Serafim da. História da língua portuguesa. 5. ed. Rio de Janeiro: Presença, 1988 [1957].
SINGLER, John. The Sociohistorical Context of Creole Genesis. In: KOUWENBERG, Silvia; SINGLER, John (eds.). The Handbook of Pidgin and Creole Studies. Oxford: Wiley-Blackwell, 2008. p. 332-358.
Notas
[1] Publicado na Folha de São Paulo (versão on line), em 18/05/2011 (http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1805201118.htm).
[2] Voyages – The Trans-Atlantic Slave Trade Database [http://slavevoyages.org/assessment/estimates]. Acesso em 24/09/2018.
[3] Idem.
[4] Uma formulação algo semelhante é feita por John Holm (2004), através do conceito de reestruturação linguística parcial.

