
O modo mais honesto de iniciar um comentário sobre o livro de Christina Sharpe (2023) – No vestígio: negridade e existência – é reconhecer o incômodo, certa perturbação, que como psicanalista prefiro nomear de mal-estar. Pode ser descrito, ainda, como espécie de desequilíbrio: ficamos zonzos, talvez, como em alto-mar, quando somos obrigados a buscar o horizonte, o ponto fixo, a referência que nos permita ficar de pé.
Sharpe nos deixa, então, deixou-me, ao menos, no vestígio. O que pode ter muitos significados. A dificuldade de tradução que acompanha o texto se refere à distância continental das línguas e aos impasses da travessia. Às vezes, são necessárias muitas palavras e a imprecisão deve ser explorada com vagar. Wake tem sentidos diversos que, em português, requerem outras palavras: vigília, velar, velório, vereda.
Há algo de específico nesse mal-estar, que talvez torne preciso recorrer a categorias como lugar de fala (Ribeiro, 2019) ou saberes localizados (Haraway, 1995) para dizer da minha leitura e do quanto posso me implicar ou ser implicado pelo pensamento e afetos evocados por Sharpe. Afinal, ainda que não seja, nos termos de Charles Mills (2023), um signatário, sou certamente um beneficiário do contrato racial e da violência que engendra.
Não seria, contudo, justo falar, a partir do que li, em identidade. Melhor, necessário, dizer de experiências, experiências compartilhadas, aquelas capazes de se sobrepor à distância temporal de alguns séculos, fazendo passado e presente coexistirem no mesmo instante – afinal, para muitas pessoas Negras – grafado assim, em maiúscula, como quer a autora – não é necessário viajar no tempo, como a personagem de Octávia Butler (2019), em Kindred, para viver concretamente a violência da escravização, da transmutação de si mesmo em coisa.
Experiências, contudo, que não podem ser compartilhadas por um homem branco, por exemplo. O que não quer dizer que o livro não nos toque na carne. Tais experiências, como a do porão do navio, do tumbeiro, percorrem todo o livro.
A travessia proposta pela autora se faz em quatro momentos que se movimentam e se contaminam – vestígio, navio, porão, tempo –, capítulos que se encadeiam e se sobrepõem, como o passado e o presente na sensibilidade do vestígio. Navegando-os, descobrimos sentidos novos para palavras conhecidas, e conhecemos outras, como tumbeiro. Navio e sepultura, transporte para a não humanidade e depois a morte.
O destino do livro, porto (um pouco mais) seguro, é fazer do “vestígio” um problema para o pensamento. Há muito a elaborar.
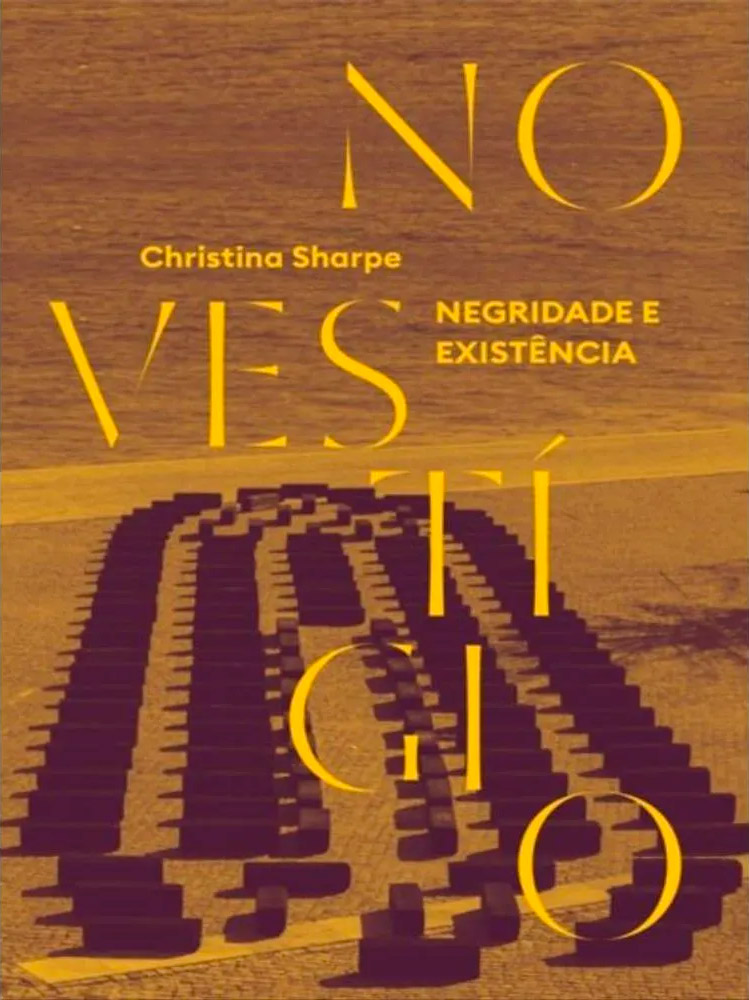
Mas será preciso, antes, perguntar de que pensamento falamos quando buscamos, ao mesmo tempo, interrogar o tipo de racionalidade objetivante, que acaba por transformar pessoas em coisas para descartá-las em benefício de outras mais valiosas, ou simplesmente liquidá-las em troca do seguro comercial. Desdobrar o vestígio em vigília, implica em pensar de outro modo, uma forma de in-disciplina recusando a racionalidade que faz com que as pessoas pretas sejam “com frequência disciplinadas a pensar por meio de nossa própria aniquilação”. Só assim será possível formular “um método para encontrar um passado que não passou” (Sharpe, 2023, p. 33).
Quando afirma se distanciar de intelectuais que buscam respostas políticas, jurídicas ou filosóficas para aproximar-se da arte – da literatura à performance passando pela cultura visual –, Sharpe nos alerta para a incidência da sensibilidade na vigília que reconfigura o pensar. Trata-se de um novo regime de pensamento, de saber, novo regime estético, como quer Paul B. Preciado (2020), que fala a partir da resistência a outra operação colonial de corpos. Como em muitos outros momentos, o pensamento de Sharpe se aproxima de temas caros ao pensamento queer, sobretudo ao que nele se engendra de utopia, como o trabalho de subversão da cronologia que nos incita a falar de um “passado que não passou reaparece, sempre, para romper o presente” (Sharpe, 2023, p. 25). É assim que o vestígio se torna “uma forma de consciência” (Sharpe, 2023, p. 35).
Outras aproximações podem ser feitas com o pensamento queer, inclusive em relação à interrogação do modo como o pensamento (ocidental, branco, europeu, masculino, heterossexual) definiu as fronteiras da humanidade e nelas sentou guarda armado de regimes de verdade e de dispositivos de poder. Definindo, ainda, o modo como se transmite tal humanidade ou seu contrário.
Sharpe nos lembra que a genealogia, a filiação, que, para muitos, garante a ordem simbólica e o primado da civilização sobre a barbárie, no vestígio, opera a persistência da exclusão, pois o que se transmite, simbolicamente, é a não existência:
Viver (n)o vestígio da escravização é viver “a vida após a morte da propriedade” e viver a vida após a morte da ideia de partus sequitur ventrem (quem nasce segue o ventre), em que a criança Negra herda o (não) status, a (não) existência de sua mãe. Essa herança de um (não) status está aparente em toda parte agora na criminalização contínua de mulheres e crianças Negras. (Sharpe, 2023, p. 36)
Questões de gênero chegam a ser tratadas diretamente no livro e os corpos Negros são aproximados de corpos queer, tendo sua experiência marcada por um asterisco seguindo a palavra trans, como em Jack Halberstan (2023). Corpos que resistem à generificação, à epistemologia da diferença sexual, ao mesmo tempo que, como propõe Berenice Bento (2023), estão aquém dela, pois estão fora da humanidade. Nos termos de Sharpe, ejetados.
O asterisco após o prefixo “trans” mantém o espaço aberto para o pensamento (a partir dessa e nessa posição). O asterisco também se refere a uma gama de experiências incorporadas chamadas de gênero e ao desmantelamento do gênero euro-ocidental, sua incapacidade de se manter na/sobre a carne Negra. O asterisco diz sobre uma série de configurações da existência Negra que tomam a forma de tradução [translation], transatlântico, transgressão, transgênero, transformação, transfiguração, transcontinental, transfixado, transmediterrâneo, transubstanciação (processo pelo qual poderíamos entender a transformação de corpos em carne e depois em mercadorias fungíveis, mantendo a aparência de carne e sangue), transmigração e muito mais. (Sharpe, 2023, p. 66)
O pensamento em vigília, que vela, se faz afetivamente, por afetação, não havendo separação no vestígio, na turbulência, na vigília, entre razão e emoção. Recusa-se, nos termos de Saidiya Hartman, a “violência da abstração” (Sharpe, 2023, p. 24). O trabalho intelectual se dá com os nervos à flor da pele. Da mesma forma, o político contém o íntimo. A dor sofrida na intimidade é testemunho da subjugação política. Subjugação vivida em público e no privado, como na privação.
O livro se inicia com relatos de perdas, íntimas, pessoais, o que se articula à busca de uma narrativa singular e de suas condições e modos de produção. Mais uma das razões pelas quais a obra de Christina Sharpe interessa a um psicanalista branco e cisgênero que escuta pessoas negras e trans, desejando que essa escuta não se ancore no silenciamento do outro, de muitos outros: “incluo o que é pessoal aqui para conectar as forças sociais acerca do que é existir no vestígio para uma família específica ao que é existir no vestígio para todas as pessoas Negras” (Sharpe, 2023, p. 23).
Trata-se de falar de experiências subjetivas singulares a partir do que lhe seria, em princípio, exterior, evitando psicologização ou essencialização, privilegiando experiências e as estruturas que as produzem. Dessa forma, também é possível falar da negridade sem atribuição de marca identitária comum: este, se produz ao longo do tempo e é o interminável desse tempo, da redução dos corpos Negros a coisas, que define os limites possíveis da experiência. Por outro lado, essa escrita corporificada, questiona, ao mesmo tempo, o sujeito universal e o regime de produção de conhecimento instituído a partir do centro europeu.
A linguagem já está, aliás, desde sempre encarnada, como nos mostra o caso George Floyd, estrangulado por um policial na cidade de Minneapolis, lembrado pela autora, ou a morte por asfixia de Genivaldo num camburão da Polícia Rodoviária Federal, no estado em que moro, Sergipe. A falta de ar, a impossibilidade de respirar, o sufocamento intencional não são metáforas.
Essa passagem, travessia entre corpos e nomes, palavras, é algo central na escravização: “A primeira linguagem que os guardas do porão usam com as pessoas cativas é a linguagem da violência: a língua da sede e da fome e da dor e do calor, a língua da arma e da coronhada, o pé e o punho, a faca e o arremesso ao mar” (Sharpe, 2023, p. 128).
A morte está presente em quase todas as páginas e talvez o livro possa ser descrito como elegante e poético testemunho de um trabalho de luto. Mas como se esse luto fosse infinito, como se o preciso fosse sempre e para sempre continuar a velar mortes que não se esgotam, se desdobram, se repetem em outros corpos que de algum modo são um mesmo, um só. “Vidas após a morte da escravidão”, escreve Sharpe.
Sharpe faz mais do que nos recordar a escravização e o tráfico de pessoas. Não se trata apenas de um esforço de rememoração, ainda que este seja necessário e árduo. Trata-se de reconhecer no presente a repetição, a permanência do passado, permanência do desastre: “os meios e modos de sujeição infligidos às pessoas Negras podem ter mudado, mas o fato e a estrutura dessa sujeição permanecem” (Sharpe, 2023, p.31).
Vestígio pode ser o rastro deixado pelo navio que cruza o oceano carregando pessoas transformadas imaginariamente em coisas, mercadoria. Ou pessoas que morrerão no caminho e só então serão consideradas humanas, como os refugiados mortos nas costas europeias ontem. Talvez também hoje, provavelmente amanhã. Numa nota de rodapé, aprendemos que o desastre “é o desdobramento contínuo de séculos do comércio de pessoas africanas” (Sharpe, 2023, p. 18).
Examinando obras de arte, Sharpe encontra vestígios humanos: a personagem negra que aparece apenas para desaparecer; a criança com uma etiqueta em seu rosto onde se lê navio; Délia e Drana, fotografadas “para revelar como a negridade é e como olhar para ela” (Sharpe, 2023, p. 86). Destinos que se repetem, violência tão contínua quanto gratuita, imagens que não são verdadeiramente percebidas, seres espectrais, retratos de (não) existências. Como aqueles seres que foram lançados ao mar de uma embarcação chamada Zong, antes Zorgue, que significa cuidado. Seres espectrais, como a Amada de Toni Morisson (2007), personagem recorrente no argumento de Sharpe, ou como a senhora Jackson do filme The Forgotten Space:
A maneira como ela é incluída no filme e a incapacidade de este compreender seu sofrimento fazem parte da ortografia do vestígio. O espaço esquecido é a negridade, e quando a sra. Jackson é conjurada para preenchê-lo ela aparece como um espectro. (Sharpe, 2023, p. 61)
A semântica fantasmagórica é recorrente – espectros, assombrações – para descrever uma experiência que talvez possamos aproximar do Unheimilich freudiano (Freud, 2021), do que intimida, do estranho que surge no familiar, ou o contrário.
O que dá sentido maior à história de morte do Zong, assassinatos percebidos como lançamento de mercadoria ao mar, tem importância vital no trabalho de/na vigília de Sharpe.
O Zong foi levado ao conhecimento do grande público britânico pela primeira vez por jornais que noticiavam que os proprietários do navio estavam processando os seguradores pelo valor do seguro daquelas 132 (ou 140, ou 142) pessoas africanas assassinadas. Os pedidos de indenização são parte do que Katherine McKittrick chama de “matemática da vida negra”, o que inclui essa matabilidade [killability], esse lançamento ao mar. (Sharpe, 2023, p. 61)
Assim, Sharpe nos adverte que a redução do outro à vida nua, bem como a separação entre vidas dignas e indignas de serem vividas, elementos centrais da leitura da biopolítica proposta por Agamben (2010), é uma operação política de larga escala posta em movimento muito antes do nacional socialismo alemão e dos seus campos de concentração. Tudo começou muito antes, apenas não foi percebido. O mal, até então, se abatera apenas sobre seres que podiam ser coisas, podiam ser facilmente situados além das nossas possiblidades de identificação.
No Zong, o navio, há um porão no qual se transportam pessoas transmutadas em mercadorias que podem, em caso de necessidade, serem lançadas para a morte, no vestígio do navio, sem que isso seja visto, entendido, enunciado como assassinato. Aqui, a importância das palavras em seu múltiplo sentido, importa. O porão do tumbeiro, que se chamou cuidado, se escreve hold, e nada está mais longe do to hold, que no psicanalista Donald Winnicott (2022) deriva em holding, condição imprescindível para que o bebê se torne um ser.
Esse navio, que transporta vidas que serão assassinadas e de algum modo já tem seu destino traçado, não no momento em que embarcam ou são conduzidas ao porão, mas no momento em que nascem, partus sequitur ventrem, ainda navega nas águas do mediterrâneo e ancora em campos de refugiados. Não por acaso, o navio tem um ventre.
O Zong se repete; ele se repete e se repete por meio da lógica e do cálculo da desumanização iniciada há muito tempo e ainda operante. Os detalhes e as mortes se acumulam; os idem idem preenchem os arquivos de um passado que ainda não é passado. Os porões se multiplicam. (2023, p.133)
Verificação rotineira de documentos, baculejo, centros de detenção de famílias, centros de detenção, Lager [campos de refugiados], zonas de quarentena… são outros nomes pelos quais se pode reconhecer o porão como ele aparece em Calais, Toronto, Nova York, Haiti, Lampedusa, Trípoli, Serra Leoa, Bayeruth e assim por diante. (2023, p.153)
Importante dizer, enfim, que No vestígio nos dá respostas a certo discurso crítico dos movimentos ditos identitários, que procura desqualificar a retomada da categoria de raça pelos movimentos antirracistas, afirmando que esta categoria foi expulsa do campo da ciência e que tanto a escravização acabou quanto as antigas colônias se emanciparam[1]. O faz recordando, tecendo laços entre esse passado e o que vemos hoje na TV – os navios de refugiados no mediterrâneo, mas poderia ser o trabalho análogo à escravidão nos grandes latifúndios brasileiros –, o que vivem em seus corpos, pessoas marcadas pela cor negra da sua pele[2]. A cristalização da identidade é, por outro lado, uma das marcas do/no vestígio, não apenas uma imagem, estereótipo, que permite o reconhecimento imediato e a pronta ação das forças da ordem, mas a inscrição de um destino:
Uma professora do primeiro ano em Paterson, Nova Jersey, posta no Facebook que vê em seus alunos e alunas “futuros criminosos”. “Futuro criminoso” se junta a “ex-mãe” no anagramatical: não criança, não mãe, não ser. No vestígio, devemos conectar a indústria do nascimento à indústria prisional, a máquina que degrada, nega e eviscera a justiça reprodutiva à máquina que encarcera. (Sharpe, 2023, p. 160)
