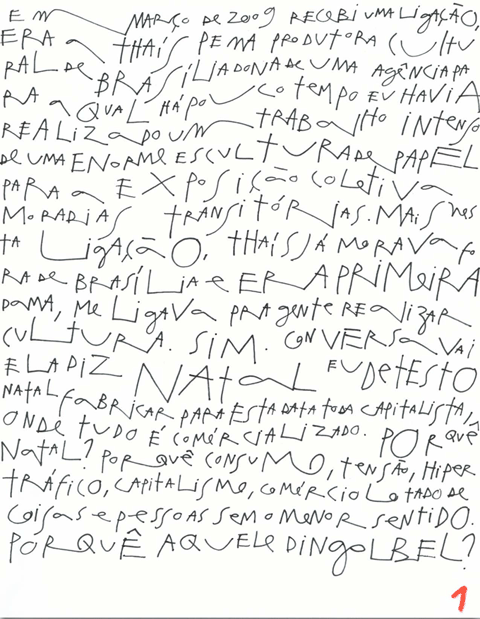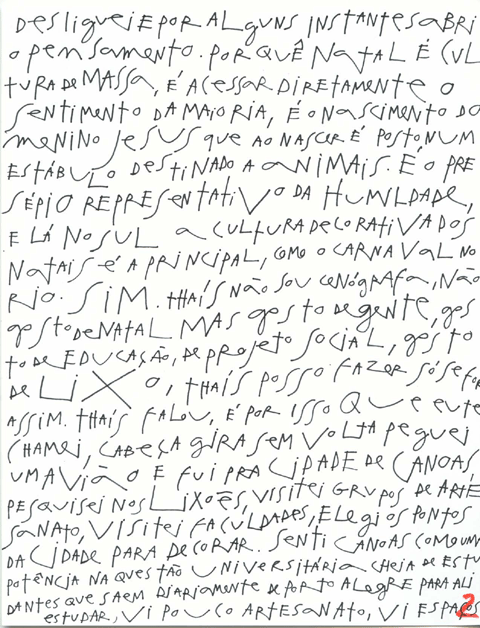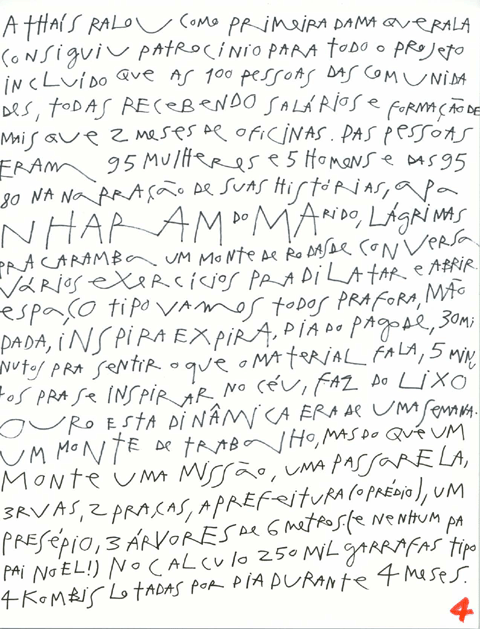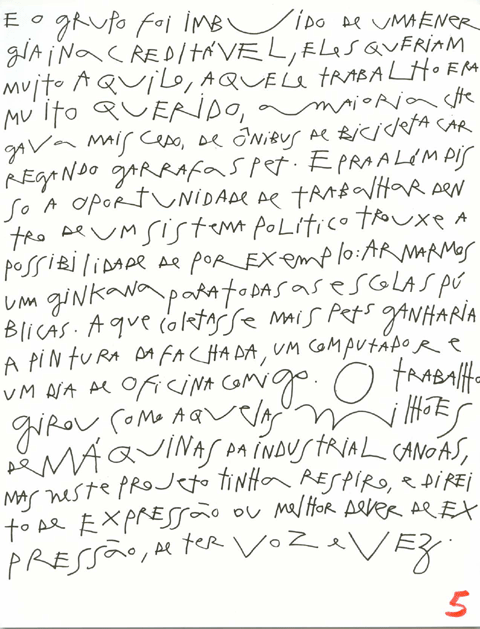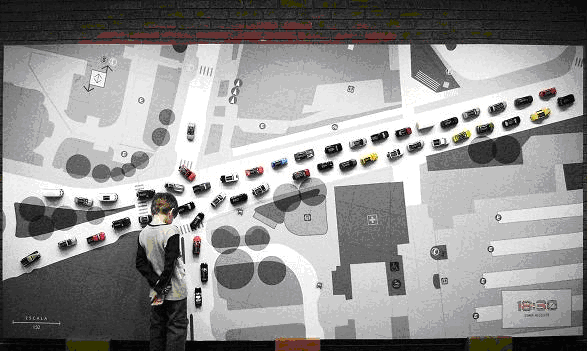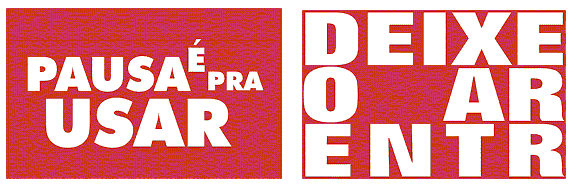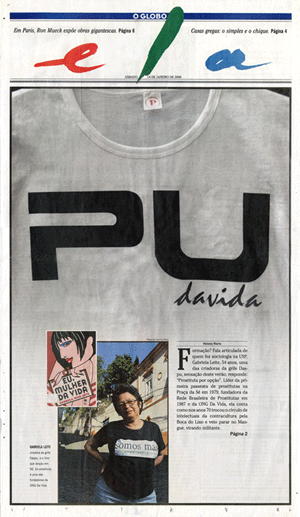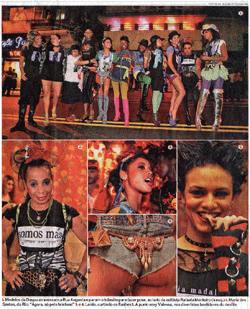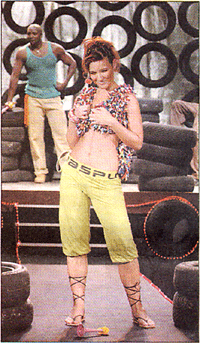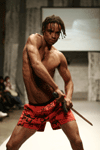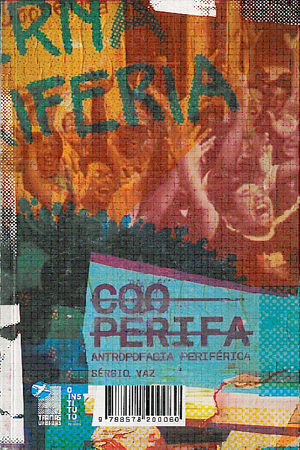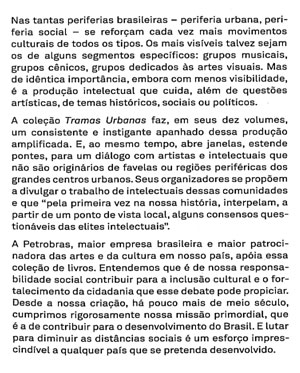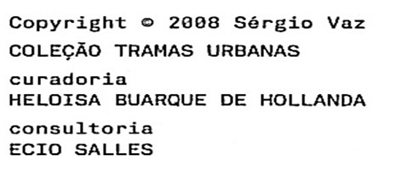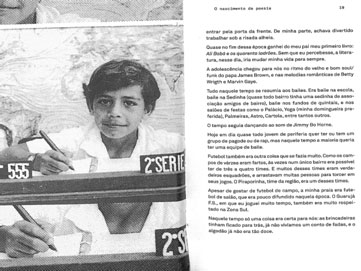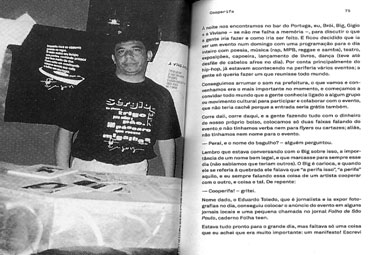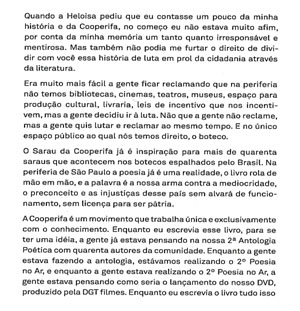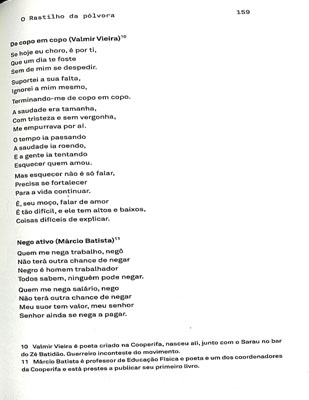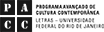1 INTRODUÇÃO
O objetivo deste artigo é investigar alguns aspectos da articulação hegemônica entre economia, tecnologia e ideologia no universo atual das comunicações, bem como a possibilidade de articulações alternativas.
Empregamos o termo “comunicações” no plural, seguindo a distinção proposta por Lima (2004, passim), para definir um objeto de estudo que engloba as indústrias culturais, a informática e as telecomunicações, setores cada vez mais convergentes tecnológica e empresarialmente, em decorrência da revolução digital.
As comunicações são, hoje, simultaneamente agente econômico por si só destacado, base tecnológica imprescindível para a economia em geral e aparelho ideológico, não necessariamente “do Estado”, mas certamente das corporações midiáticas e do bloco de poder, mais ou menos coeso, que elas constituem com seus parceiros econômicos.
O emprego da noção “aparelho ideológico” pode sugerir que pretendemos requentar teorias supostamente obsoletas sobre o poder manipulatório da mídia. Como essa não é nossa intenção, cabe esclarecer desde já que não compartilhamos com as chamadas “teorias conspiratórias”, segundo as quais grupos de capitalistas sórdidos maquinariam, de modo consciente e organizado, a manipulação das mentes; tampouco com a crença em uma onipotência da mídia sobre as consciências. Por outro lado, é igualmente importante adiantar, acreditamos que a manipulação ideológica existe, pois é estruturalmente necessária à manutenção da sociedade de classes, ainda que seus agentes não “conspirem” de modo plenamente deliberado ou planejado, do mesmo modo como milhões de pessoas não “planejam” a cada dia, de modo coordenado, ir ao trabalho na mesma hora, lotando ônibus, trens, ruas e avenidas; não planejam, mas o fazem; e embora o efeito ideológico das ações das mídias sobre as consciências não possa rigorosamente ser identificado como absoluto ou unívoco, é suficientemente intenso e tendencialmente homogêneo a ponto de merecer alguma atenção.
2 QUADRO CONCEITUAL DE REFERÊNCIA
O quadro conceitual de referência dessa investigação é composto por algumas categorias marxianas um tanto ausentes do debate contemporâneo no campo da comunicação, mas cuja atualidade, propriedade heurística em relação ao nosso objeto e pertinência epistemológica ao campo pretendemos demonstrar.
Essas categorias são as seguintes: consciência de classe; ideologia; luta de classes; base e superestrutura; forças produtivas e relações de produção; modo de produção; trabalho. Como contribuição original ao debate, incluímos nesse rol o problema do gosto, que temos pesquisado nos últimos anos.
Iniciaremos a exposição com um esclarecimento desse quadro, que carrega em seu bojo, assim esperamos, a justificativa de sua escolha.
2.1 CONSCIÊNCIA DE CLASSE
Partindo da hipótese de que a substituição do capitalismo por formas superiores de socialização é desejável e não é inviável, mas ao mesmo tempo sabendo que uma operação de tal magnitude traz consigo a exigência da ação consciente de um sujeito coletivo, cuja identidade corresponde à posição que este ocupa em meio às relações de produção, portanto em meio à luta de classes, a consciência de classe permanece uma categoria necessária para o desenvolvimento de qualquer perspectiva de superação das sociedades de classe atuais. Ora, como não faria sentido hoje desconsiderar o papel das comunicações na formação das consciências e identidades em geral, é importante reinserir o debate teórico a respeito da consciência de classe em nosso campo.
A “consciência de classe” já foi um tópico muito debatido no legado marxiano, junto à problemática da ideologia, da “falsa consciência” etc. Embora tenha sido marginalizado por um século de descentramentos e mortes do “sujeito”, o fato de a subordinação estrutural do trabalho ao capital sequer ter sido arranhada, mesmo no chamado “socialismo real”, justifica nossa posição, cuja defesa se inicia desfazendo mal entendidos.
1º mal entendido: “a consciência de classe brotará espontânea e fatalmente das contradições entre forças produtivas e relações de produção”. Não é bem assim, embora, em mais de um momento, Marx e Engels possam ter dado margem a essa leitura, como na seguinte passagem de “A sagrada família”: “Não se trata do que este ou aquele proletário, ou até mesmo do que o proletariado inteiro pode ‘imaginar’ de quando em vez como sua meta. Trata-se ‘do que’ o proletariado ‘é’ e do que ele será obrigado a fazer historicamente de acordo com o seu ‘ser’.” (Marx; Engels, 2003a, p. 49)
Uma leitura apressada desta passagem pode justificar as velhas críticas ao caráter fatalista da “missão histórica” atribuída ao proletariado pelo marxismo, que teria sido desmentida pela história. Tal leitura, porém, pode ser evitada, considerando-se, por exemplo, que aquilo que o proletariado “será obrigado a fazer historicamente de acordo com o seu ‘ser’” ainda não pôde ser feito, ou talvez não dê certo.
Diversas passagens de Marx e Engels desmentem a leitura fatalista vulgar, deixando menos margens a dúvidas sobre sua posição a respeito dessas questões, ao apresentarem uma concepção da ação revolucionária do proletariado como possibilidade real, como uma tendência histórica necessária, como uma potência concreta do seu ser, não como uma determinação absoluta, garantida, irrevogável e cuja vitória esteja assegurada de antemão. Sem entrarmos em minúcias exegéticas, basta conferir os primeiros parágrafos do “Manifesto comunista” (MARX; ENGELS, 2003 b), onde, numa bem conhecida panorâmica analítica macro-histórica da luta de classes, é apontado, como um dos seus desdobramentos possíveis, o risco do “aniquilamento das classes em confronto”.
2º mal entendido: “as diversas formas de consciência seriam mecanicamente redutíveis às determinações econômicas”. Mészáros (1993, p. 75-119), em um texto intitulado “Consciência de classe necessária e consciência de classe contingente”, nos ajuda a refutar essa crítica, com uma reflexão que parte precisamente da passagem acima citada de “A sagrada família”, confrontando-a com uma outra, de Gramsci. Para Mészáros, ambas “ilustram, melhor que qualquer outra coisa, o dilema central da teoria marxista das classes e da consciência de classe.” (idem ibidem, p. 75) Por esta razão, é pertinente conhecermos também o texto de Gramsci:
Pode-se excluir a ideia de que, por si só, as ‘crises econômicas’ produzem diretamente eventos fundamentais; elas podem apenas criar ‘circunstâncias mais favoráveis’ para a propagação de certas maneiras de pensar, de colocar e resolver questões que envolvem todo o desenvolvimento futuro da vida e do estado. O elemento decisivo em toda a situação é a força, permanentemente organizada e pré-ordenada por um longo período, que pode ser utilizada quando se julgar que a situação é favorável (e ela é ‘favorável apenas até o ponto em que esta força exista’ e seja plena de ardor combatente); portanto, a tarefa essencial é a de atentar, paciente e sistematicamente, para a formação e o desenvolvimento dessa força, tornando-a até mesmo mais homogênea, compacta, ‘consciente de si mesma’. (GRAMSCI, apud MÉSZÁROS, op. cit. p. 76)1
Na sequência, Mészáros esclarece que a contradição entre a ideia de Marx de que o proletariado será “‘forçado’ a realizar sua tarefa histórica”, (MÉSZÁROS, op. cit., p. 76) e a de Gramsci, que “insiste em que a própria situação histórica é favorável somente na medida em que o proletariado já tiver conseguido desenvolver uma força organizada completamente consciente de si mesma” (idem ibidem, p. 76), é só aparente. Porque Marx e Gramsci estão tratando de coisas diferentes: o primeiro refere-se ao ‘ser social’ do proletariado, isto é, aos “determinantes complexos de uma ontologia social” 2, não a “crises econômicas’ – termos da polêmica de Gramsci contra o ‘economicismo vulgar’.” (idem ibidem, p. 76) Ou seja, não são posições antagônicas, mas complementares, pois as crises econômicas são apenas um entre outros fatores que podem favorecer a ação revolucionária das massas, embora não um dos menos importantes. Para Gramsci, porém, ainda mais importante é a pré-existência, em relação às crises econômicas, de “uma força organizada completamente consciente de si mesma”, condição para que essas crises se tornem, efetivamente, um elemento desencadeador da ação revolucionária. Esta ação, por sua vez, também faz parte do ser social do proletariado, enquanto potência, cuja atualização depende em grande parte não só de crises econômicas em termos genéricos, mas mais especificamente do desenvolvimento das forças produtivas entrar em contradição com as relações de produção e da emergência da consciência de classe. Essa contradição, contudo, embora constitua condição necessária para a emergência da consciência de classes em escala massiva, não é uma garantia de sua emergência, nem do resultado final da luta.
3º mal entendido: “a ‘consciência de classe’ verdadeira se oporia à ‘falsa consciência’ assim como a verdade se opõe à falsidade, ou a ciência à ideologia.” Na verdade, a noção marxista de consciência de classe “verdadeira” ou “falsa” é bem mais simples. Nos termos de Mészáros: “a consciência de classe, de acordo com Marx, é inseparável do reconhecimento – sob forma de consciência ‘verdadeira’ ou ‘falsa’ – do interesse de classe, baseado na posição social objetiva das diferentes classes na estrutura vigente da sociedade.” (MÉSZÁROS, op. cit., p. 88-9)
O que há de efetivamente decisivo na relação entre “posição social objetiva” e consciência de classe “verdadeira” ou “falsa”? A “subordinação estrutural necessária do trabalho ao capital na sociedade de mercadorias. […] O interesse de classe do proletariado é definido em termos de mudança dessa subordinação estrutural.” (idem ibidem, p. 92) Mas, afinal, por que o proletariado não se dá logo conta de seus “verdadeiros” interesses? A responsabilidade não cabe integralmente à indústria cultural, como queriam Adorno e Horkheimer, antes deriva do fato de que
os interesses a ‘curto prazo’ dos indivíduos particulares, e mesmo da classe como um todo, em um momento dado, podem estar em oposição radical ao interesse de mudança estrutural ‘a longo prazo’. (É por isso que Marx pode e tem que apontar a diferença fundamental entre a consciência de classe contingente ou “psicológica” e a consciência de classe necessária). (idem ibidem, p. 94)
Marx denominou esta “contradição entre a contingência sociológica da classe […] em um momento determinado […] e de seu ser como constituinte do antagonismo estrutural do capitalismo […] de contradição entre o ‘ser’ e a ‘existência’ do trabalho”, considerando que “o fator crucial na resolução dessa contradição é […] o desenvolvimento de uma consciência de classe adequada ao ser social do trabalho.” (idem ibidem, p. 95) 3
4º mal entendido: “o intelectual marxista se julgaria possuidor dA ciência e dA verdade sobre passado, presente e futuro da humanidade, cabendo-lhe ‘conscientizar’ o proletariado, isto é, iluminá-lo e doutriná-lo nas complexas sutilezas do materialismo dialético.” A posição marxista é bem menos pretensiosa. Diante do problema de como a consciência “falsa” pode ser superada pela “verdadeira”, ou como a “consciência contingente”, imediata, pode elevar-se à “consciência necessária”, que parte da posição econômica de classe do proletariado, mas é mediada pelo conhecimento acerca da subordinação estrutural do trabalho ao capital e do interesse (ainda predominantemente inconsciente) do trabalho de suprasumir essa subordinação estrutural, a contribuição do intelectual, embora necessária, é ao mesmo tempo mais modesta e mais abrangente, envolvendo, além da educação (conscientizar é simplesmente educar, não “iluminar”), análise, crítica e planejamento econômico, político e cultural, conjunto que abrange a questão da tecnologia. Se o intelectual não serve para isso, serve para quê?
Esperamos ter demonstrado que a consciência de classe “necessária” não brota espontaneamente do solo econômico, ao mesmo tempo em que certas condições econômicas são indispensáveis para o seu florescimento. Contudo, diante da hipótese bastante verossímil de essas condições já terem sido ao menos em parte atingidas, o desafio presente é descobrir (ou inventar) o que pode ser feito para estimular a emergência da consciência de classe necessária, articulada com um ‘pathos’ que lhe corresponda, em uma escala que torne efetivamente viável a perspectiva de superação das sociedades de classe subordinadas ao capital, em um horizonte de tempo calculável em algumas décadas – dizemos “em algumas décadas” porque “não temos um cronograma tão folgado para a necessária transformação da potencialidade em realidade. Isto deve acontecer com a agravante de uma enorme urgência.” (MÉSZÁROS, 2002, p. 267)
Enfrentar este desafio requer pensar o papel das comunicações no sentido de bloquear ou contribuir para a emergência da consciência de classe necessária. É um papel parcial, mas nem por isso negligenciável. Requer também, metodologicamente, o exame atento de certos conceitos que nos permitam pensar adequadamente a questão, bem como uma revisão dos esforços anteriores empreendidos no mesmo sentido, ao menos de alguns dos mais relevantes, de modo a podermos identificar sua eventual atualidade. Assim, após nos debruçarmos sobre a consciência de classe, tratemos agora de uma categoria vizinha, que traz consigo o complicador de ser um dos termos mais polissêmicos das ciências sociais: ideologia.
2.2 IDEOLOGIA
O termo “ideologia” foi cunhado na passagem do século XVIII para o XIX, por Cabnis e Destutt de Tracy, para denominar seu projeto de uma teoria das ideias4. Algumas décadas depois, adquiriu, com Marx e Engels, um novo sentido, claramente negativo. Ideologia, então, passou a designar especificamente as ideias que, de um modo ou de outro, legitimam a dominação de classe, estejam essas ideias situadas no discurso religioso, filosófico, jurídico ou econômico. A noção marxiana de ideologia, porém, não deve ser grosseiramente confundida com a de superestrutura, pois esta última envolve também a ciência e as artes, as quais, para Marx e Engels, não eram necessariamente ideologias.
Um sentido mais genérico do termo ideologia, popularizado por Engels, é expresso na noção de “falsa consciência”5. Aqui, é importante fazer alguns esclarecimentos. Em primeiro lugar, “falsa consciência” não é necessariamente o mesmo que “consciência contingente”, dado que esta última pode, em um determinado momento, corresponder à “consciência necessária” – no momento em que “ser” e “existência” do proletariado consigam suprasumir seu estado de contradição. Assim, a “falsa consciência” é a “consciência contingente” somente quando esta não corresponde à “consciência necessária”. Em segundo lugar, a noção de “falsa consciência” pressupõe, de fato, uma consciência verdadeira, mas esta, como vimos, não está na ciência, em termos genéricos, como pensa o positivismo, mas especificamente na compreensão científica da subordinação estrutural do trabalho ao capital. Assim, “falsa consciência” não é sinônimo de uma ilusão qualquer, mas de uma forma específica de ilusão, necessária a perpetuação do sistema e por ele mesmo possibilitada.
A seguinte passagem de Marx nos ajuda a entender melhor como a “falsa consciência” não consiste propriamente em uma irracionalidade qualquer, mas numa irracionalidade aparentemente racional, que é funcional ao sistema e que deriva da própria irracionalidade deste último:
A relação entre uma porção de mais-valia, de renda monetária […] com a terra é em si ‘absurda e irracional’; pois as magnitudes que aqui são aferidas, uma em relação à outra, são ‘incomensuráveis’ – por um lado, um ‘valor de uso particular’, um pedaço de terra de tantos metros quadrados, e, por outro, o ‘valor’, especialmente a mais-valia. Isso na verdade expressa apenas que, sob determinadas condições, a propriedade de tantos metros quadrados de terra permite ao proprietário conseguir à força uma certa quantidade de trabalho não-remunerado, que o capital conseguiu chafurdando nestes metros quadrados, como um porco em batatas. Mas, ao que parece, a expressão é a mesma se alguém desejasse falar da relação entre uma nota de cinco libras e o diâmetro da Terra.
Entretanto, a ‘reconciliação das formas irracionais’ sob as quais certas relações econômicas aparecem e se ‘afirmam na prática’ não diz respeito aos agentes ativos destas relações em sua ‘vida cotidiana’. E, como estão ‘acostumados’ a se movimentar em meio a tais relações, não acham nada estranho ali. Uma ‘absoluta contradição’ não lhes parece ‘nem um pouco misteriosa’. Sentem-se tão à vontade quanto um peixe dentro d´água, entre manifestações que estão separadas de suas conexões internas e são ‘absurdas’ quando isoladas. O que Hegel diz em relação a certas fórmulas matemáticas se aplica aqui: o que ‘parece irracional’ ao senso comum é racional, e o que lhe ‘parece racional’ é irracional. (MARX, apud MÉSZÁROS, 2004, p. 478)
Isto ocorre porque, com o advento do capitalismo, radicaliza-se o processo mediante o qual a consciência imediata, contingente, dos sujeitos objetificados, passa a constituir-se em função da posição que ocupam enquanto forças produtivas (ou improdutivas) no circuito de produção e troca de mercadorias, ou seja, a partir de sua posição de classe6. Para o marxismo, esta consciência é “consciência necessária” quando compreende o caráter fetichista do processo e orienta a ação dos sujeitos objetificados no sentido de sua superação; é “falsa consciência” quando se rende à realidade “invertida”, quando não compreende este caráter e não se empenha em superá-lo na prática. Contudo, essa inversão não é uma espécie de “falha” fortuita do pensamento, mas uma forma coerente de pensamento derivada de uma realidade invertida: “A inversão não está no pensamento acerca dos ‘objetos’ (mercadorias), mas nos próprios ‘objetos’ (mercadorias), de modo que as representações ideológicas são reflexos corretos de uma realidade por assim dizer ‘falsa’, e não espelhamentos falsos ou invertidos da realidade.” (MAAR, 1996, p. 45)
Nessa mesma linha de raciocínio, Mészáros pensa a “falsa consciência” como um momento subordinado da ideologia, esta última entendida em um sentido mais amplo, enquanto consciência prática (de classe) necessária em uma sociedade dividida em classes antagônicas:
O reconhecimento das necessárias limitações da ideologia – originadas do papel que ela foi instada a desempenhar na preservação de sociedades profundamente divididas – significava que a questão da emancipação humana radical não poderia ser vislumbrada sem se considerar também a supressão final das formas distorcidas de consciência social. (MÉSZÁROS, 2004, p. 469)
Além disto, e isso é muito importante, “[…] a ideologia não é ilusão nem superstição religiosa de indivíduos mal-orientados, mas uma forma específica de consciência social, materialistamente ancorada e sustentada.” (idem ibidem, p. 75) É por isso que:
[…] se as causas identificáveis de mistificação ideológica fossem primariamente ideológicas, elas poderiam ser contrapostas e revertidas na esfera da própria ideologia. […] o impacto maciço da ideologia dominante na vida social como um todo só pode ser apreendido em termos da profunda afinidade estrutural existente entre as mistificações e inversões práticas, por um lado, e suas conceituações intelectuais ideológicas, por outro. (idem ibidem, p. 479)
Nesse sentido, o pensamento de Mészáros aproxima-se e complementa o do “velho” Lukács, de “Ontologia do ser social”:
[…] a correção ou falsidade [de uma ideação] não bastam para fazer de uma opinião uma ideologia. Nem uma opinião individual correta ou errônea, nem uma hipótese, uma teoria etc., científica, correta ou errônea são em si e por si uma ideologia: podem apenas […] tornar-se [uma ideologia]. Somente após se tornar veículo teórico ou prático para combater os conflitos sociais, quaisquer que sejam eles, grandes ou pequenos, episódicos ou decisivos para o destino da humanidade, elas são ideologia. (LUKÁCS, apud LESSA, 2002, p. 108) 7
Essa compreensão do conceito, para Mészáros, é decisiva, pois “sem se reconhecer a determinação das ideologias pela época como a consciência social prática das sociedades de classe, a estrutura interna permanece completamente ininteligível.” (2004, p. 67)
Mészáros, assim, emprega o conceito em um sentido mais neutro, na linha de Lênin, Gramsci e Lukács, diferente – mas não oposto – do sentido negativo popularizado por Marx e Engels8. Nesta acepção neutra, ideologia corresponde àquelas ideias, falsas ou verdadeiras, capazes de mobilizar amplos contingentes da população. Neste registro, podemos tranquilamente falar em uma ideologia socialista – o que para Marx e Engels não faria sentido – e em uma ideologia burguesa – o que para Marx e Engels seria uma redundância. Em todos os casos, a ideologia não é uma mera ilusão, correspondendo sempre, ainda que de forma altamente mediada, a um determinado estágio da articulação dialética entre forças produtivas e relações de produção, ou, em outras palavras, da luta de classes.
3 O PROBLEMA DA “PASSAGEM”, AS COMUNICAÇÕES E O GOSTO
Podemos agora retomar a questão da passagem da consciência de classe “contingente”, enquanto “falsa consciência”, à consciência de classe “necessária”. Talvez tenha sido o “jovem” Lukács, em “História e consciência de classe”, quem avançou mais nesse sentido, em seu esforço de teorizar a ideologia a partir da forma concreta como aquilo que ele denominava consciência “psicológica” poderia elevar-se, na prática, à consciência “atribuída”. 9
As noções de consciência de classe “psicológica” e “atribuída”, em Lukács, correspondem, respectivamente, às noções de consciência contingente e necessária, em Marx. Nos termos de Mészáros:
[…] a famosa distinção de Lukács entre a consciência de classe ‘atribuída’ ou ‘imputada’ e a consciência ‘psicológica’ tem sua origem na ideia marxiana que opõe consciência de classe verdadeira ou necessária – ‘atribuída ao proletariado’ em virtude de ele ser ‘consciente de sua tarefa histórica’[…] – à contingência do ‘que este ou aquele proletário, ou mesmo todo o proletariado, no momento, considera como sua meta’. (MÉSZÁROS, 1993, p. 86)
Tratando das diferenças ideológicas entre, de um lado, os operários empíricos, e de outro o proletariado enquanto “classe universal”, Lukács diferenciou a “consciência psicológica” dos primeiros da “consciência atribuída” da última, enxergando no partido comunista bolchevique a mediação entre contingência e necessidade, por ser a incorporação atuante, a mediação ativa, o portador da verdadeira consciência de classes do proletariado, à qual as massas operárias empíricas fatalmente teriam que ascender.
A ideia engenhosa do Partido como encarnação da consciência de classe “atribuída” do proletariado, contudo, se pode ter feito algum sentido conjuntural, em termos teóricos e práticos, por ocasião da Revolução de Outubro e até meados da década de 20, revelou-se, a longo prazo, irrealista e mesmo trágica, dado que o Partido, enquanto mediação singular entre o particular – o proletariado empírico – e o universal – o proletariado enquanto “classe universal”, ao invés de superar dialeticamente sua contradição, efetuando sua conciliação em um nível superior – a extinção de todas as classes e a superação da sociedade de classes –, por assim dizer estagnou a contradição em um estágio a longo prazo insustentável, mediante a subordinação do particular e do universal concretos ao “universal abstrato” encarnado na hipostasia do singular. Em termos menos abstratos, o Partido converteu-se, de unidade organizacional revolucionária, em unidade gerencial de extração de trabalho excedente sob uma forma estatizada, ainda que em nome de uma quimérica “acumulação primitiva socialista”. Como bem questionou Kurz (1993), acumulação de quê? De capital! Acumulação de recursos ou de riquezas a serem distribuídos, ainda que de modo menos desigual do que nos estados capitalistas, como legitimação de uma “relação social” (RUBIN, 1980) ainda calcada na extração de trabalho excedente como fim em si mesmo, apesar dos discursos apologéticos.
Enfim, os rumos tomados pelo stalinismo e pelos PCs por ele orientados desacreditaram, até segunda ordem, a elegante mas problemática articulação entre método dialético e estratégia revolucionária de Lukács, em “História e consciência de classe”10. A esperança de Rosa Luxemburgo de que essa consciência emergiria quase que espontaneamente das massas, no decorrer da própria luta, mostrou-se igualmente irrealista.
Permanecemos, assim, com nosso dilema: como efetuar, na práxis, a passagem da consciência de classe “contingente/psicológica” à consciência de classe “necessária/atribuída”? Não se pretende aqui resolver de uma vez por todas as complicadas implicações dessa problemática. Mas talvez o projeto gramsciano de composição gradual de um bloco histórico não “putchista”, que aproxime intelectuais e trabalhadores, visando a conquista da hegemonia ideológica na sociedade civil mais do que a conquista do Estado, siga sendo a mais fértil para se pensar a questão nos dias de hoje.
Para atualizar esse projeto é absolutamente necessário incorporar ao debate a centralidade econômica, tecnológica e ideológica que as comunicações exercem na sociedade civil – e, em certa medida, no Estado.
Aqui chegamos ao ponto onde talvez possamos oferecer uma contribuição original ao problema da “passagem”. Para isso, retomaremos uma hipótese que desenvolvemos em outra ocasião11, segundo a qual o gosto é a inconsciência sensível da ideologia e na ideologia; dela provém e ao mesmo tempo a sustenta; é sua inscrição no corpo. E a assimilação reificante dos gostos ao modo de vida capitalista foi a única forma, além da violência, de minimizar as contradições de seu desenvolvimento, e é a única forma de assegurar sua sobrevida insana e destrutiva. As ideologias só “colam” se seduzirem os gostos. E aí o papel das comunicações se mostra sob uma nova luz.
O gosto, usualmente identificado à esfera do consumo12, só se torna restrito a essa esfera a partir do momento em que é subordinado aos imperativos do capital na esfera da produção, isto é, na medida em que quem trabalha não controla no que trabalha, nem como trabalha, nem os frutos do trabalho. O fim dessa subordinação constitui talvez o objetivo principal do projeto socialista. Nos termos de Marx, “em uma sociedade futura, na qual o antagonismo de classe tenha deixado de existir, na qual não haverá mais classes, o uso não mais será determinado pelo ‘tempo mínimo de produção’; mas o ‘tempo’ de produção será determinado pelo grau de sua ‘utilidade social’.” (MARX, apud MÉSZÁROS, 2004, p. 176)
Assim, para além dos limites do fetiche do valor (em um nível mais alto de abstração) ou da solvência monetária (em um nível mais imediato), se é o gosto que efetivamente orienta o consumo, ele passaria a constituir não somente a única meta da produção, mas carregaria a própria produção de inspiração, no sentido empregado por Abraham Kook13 e seus comentadores, conforme podemos conferir nas belas alegorias que seguem, referentes ao tema bíblico da “queda”:
“As árvores que dão o fruto […] se tornaram matéria inferior e perderam seu gosto. Esta é a queda da ‘Terra’, em função da qual esta foi amaldiçoada, quando Adão foi igualmente amaldiçoado por seu pecado. Mas todo defeito é destinado a ser corrigido. Assim, estamos seguros que chegará o dia em que a criação retornará ao seu estado original, quando o gosto da árvore será o mesmo que o do fruto. A ‘Terra’ se arrependerá de seu pecado e os caminhos da vida prática não mais obstruirão o deleite do ideal, que é sustentado pelos degraus intermediários apropriados em seu caminho rumo à realização, e irá estimular sua emergência de potência em ato”14.
Nesta passagem, Rav Kook lida com o famoso ‘midrash’15 concernente ao ‘pecado da Terra durante os Seis Dias da Criação’. No terceiro dia, Deus ordenou à Terra que ‘produza ÁRVORES FRUTÍFERAS que dêem frutos’. A Terra desviou-se do comando original e limita-se a produzir ‘árvores que dão frutos’. Aos olhos dos Sábios, a Terra pecou por não produzir ‘árvores frutíferas’, isto é, árvores cujos troncos e galhos tenham o gosto do fruto. Ao invés disso, temos somente o exterior marrom usado para fogueiras, enquanto somente o fruto possui um gosto bom. […] Rav Kook explica este ‘midrash’ como uma parábola: fruto = os fins; gosto ‘[ta’am]’16 = a inspiração; árvore = os meios para que se atinja os fins. […] Originalmente os meios para se atingir os fins deveriam estar plenos do mesmo sentimento de prazer e inspiração que resulta dos fins. A satisfação dos fins penetraria o processo dos meios. Porém, o pecado da Terra deixou toda a inspiração nos fins, restando os meios sem gosto.[…] 17
A Terra, então, “pecou” (isto é, falhou), já que os troncos e galhos das árvores não possuem o gosto dos frutos. Se os troncos e galhos simbolizam os meios para se atingir a meta (o fruto), e deveriam ser da mesma ordem de inspiração (de gosto, sabor/saber) que os fins, não o são porque a Terra falhou. É aqui, pois, um problema da matéria (da imanência). Por outro lado, a missão transcendente do homem, isto é, o sentido de sua vida, seria redimir o “pecado” / falha da Terra, restaurando / realizando a ordem “divina”, ao tornar os meios de se atingir um fim tão inspiradores (saborosos e plenos de significado) quanto o próprio fim.
Depurado o tom religioso do texto, está dito aí que, através de sua práxis, a princípio penosa, o homem deve transcender o “pecado original da Terra”, redimindo-a,18 e estabelecer aquela ordenada por “Deus”, segundo a qual os meios têm que ser inspiradores e sagrados, isto é, plenos de sabor e significado, de gosto. Essa passagem adquire um significado materialista extraordinário se lida à luz do seguinte trecho de “A sagrada família”:
[…] o homem se perdeu a si mesmo no proletariado, mas ao mesmo tempo ganhou com isso não apenas a consciência teórica dessa perda, como também, sob a ação de uma ‘penúria’ absolutamente imperiosa – a expressão prática da ‘necessidade’ –, que já não pode mais ser evitada nem embelezada, foi obrigado à revolta contra essas desumanidades; por causa disso o proletariado pode e deve libertar-se a si mesmo. Mas ele não pode libertar-se a si mesmo sem supra-sumir suas próprias condições de vida. Ele não pode supra-sumir suas próprias condições de vida sem supra-sumir ‘todas’ as condições de vida desumana da sociedade atual, que se resumem em sua própria situação. Não é por acaso que ele passa pela escola ‘do trabalho’, que é dura mas forja resistência. (MARX; ENGELS, 2003 a, p. 49)
Sob esse prisma, a “ordem divina” pode ser pensada como um ideal radicalmente humano, na medida em que cabe ao homem a responsabilidade por sua realização. Esta responsabilidade, todavia, não precisa ser pensada como uma obrigação exterior, mas como um poder de autorrealização, já que se trata de uma parceria com “Deus”, e o homem traria em si o elemento “divino”, isto é, a potência de transcender historicamente as limitações naturais imediatas – consequentemente, as limitações sociais subsequentes – no devir histórico. Como ensina Paulo Blank, quando se refere ao “encontro fundador de Deus e Moisés”:
Quando o último pergunta em nome de quem ordenará ao faraó que liberte os hebreus, a voz que lhe fala de dentro do fogo diz: ‘Ehiê Asher Ehiê – Serei O Que Serei’. A versão grega do texto bíblico traduzirá a mesma frase como ‘Sou O Que Sou’. São palavras diferentes (…) O hebraico, que não possui o presente do verbo ser, permite pensar um mundo criado à imagem da mutabilidade e da transformação (…) Diríamos, então, junto com Guikatilla, cabalista espanhol do século 11, que aquele que realiza os preceitos e os atos justos ‘é como se construísse Hashém – o nome de Deus’. Construir o Nome é, sem dúvida, intrigante. Transforma-nos em possíveis parceiros na construção de um futuro que, chamado de Deus, traz em si um princípio que aponta para o futuro como o lugar da revelação. Como sabemos, o sentido judaico da revelação é também o cenário de um mundo de justiça e paz e não a salvação individual da alma. (BLANK, 2002, p. 3)
O que isto significa? Tendo a necessidade do trabalho sem inspiração, sem significado, sem sabor, isto é, sem gosto, se imposto desde os primórdios, seguiu-se o desejo de um paraíso que nos libertasse da condenação ao trabalho, “realizado” na religião, mediante a construção discursiva de um projeto divino que promete o paraíso e explica as razões de seu adiamento temporal, e nas mais diversas utopias políticas19, com sua elaboração de um projeto humano de teor aproximado.
Mais de um autor já apontou essa familiaridade entre a “escatologia” marxista e o messianismo: trazer à Terra o reino dos céus pela ação humana. De fato, ambas têm em comum a insatisfação com uma realidade – em todo caso social, ainda que isto não esteja sempre evidente no discurso religioso – passível de transformação, insatisfação a partir da qual ocorre a elaboração ideal dos meios e fins necessários à tarefa, que irão variar conforme as condições históricas favorecerem ou não o desenvolvimento de projetos menos ou mais realistas.
Ocorre, porém, que a despeito do que possa haver em comum entre messianismo e marxismo, é óbvio que os fundamentos teóricos e a forma específica de ambas as perspectivas variam imensamente, sobretudo no que tange ao fato de que, e agora iremos desfazer mais um mal entendido corrente, o marxismo não concebe nenhum “fim da história”, nenhuma “idade de ouro” definitiva, instaurada de uma vez por todas, mas o fim da pré-história, o início da história humana, isto é, consciente de si, livre de fetiches, não alienada:
O que dá sentido à opção humana pelo socialismo não é a promessa enganadora de um absoluto fictício (um mundo do qual todas as possíveis contradições estejam eliminadas para sempre), mas a possibilidade real de transformar uma tendência ameaçadoramente crescente de alienação numa tranquilizadora tendência decrescente. Isso, em si, já seria uma conquista qualitativa no sentido de uma superação prática, efetiva, da alienação e reificação. Mas outras conquistas importantes são possíveis, não só no plano da inversão da tendência geral, mas também em relação ao caráter substancialmente diferente – autorrealizador – das formas específicas da atividade humana, livres da sujeição a meios alienados a serviço da perpetuação das relações sociais de produção reificadas.
A substituição das “mediações de segunda ordem” capitalistas, alienadas e reificadas, por instrumentos e meios de intercâmbio humano conscientemente controlados é o programa socio-historicamente concreto desta transcendência. (MÉSZÁROS, 2006, p. 228)
Nesse sentido, as comunicações seriam talvez os mais importantes dentre esses “instrumentos e meios de intercâmbio humano conscientemente controlados”. Por outro lado, considerando seus principais usos atuais, as comunicações, em especial as indústrias culturais, têm contribuído antes para a manutenção da separação dos fins, dos meios e da inspiração, isto é, para a perpetuação da divisão da sociedade em classes: 1) privilegiando o sabor sem saber na esfera do consumo e o saber sem sabor, meramente instrumental, na esfera da reprodução social, calcada na ideologia da divisão trabalho (alienado) / lazer (consumista); 2) subordinando toda produção simbólica socializada a imperativos econômicos de ganho de escala; 3) retroalimentando de modo reificante gostos e padrões de comportamento; 4) martelando a defesa da sociedade de mercado, direta ou indiretamente, na quase totalidade de seus produtos (jornalismo, publicidade, entretenimento); 5) forjando um imaginário coletivo que é em grande parte comum, apesar de desprovido de grande parte dos lastros das experiências concretas comuns, e é altamente diferenciado, sem lastro em boa parte das experiências concretas diferenciadas, borrando tendenciosamente as fronteiras entre vivência e representação, estimulando assim os mais alucinados “bovarismos” integrados; 6) homogeneizando gostos, práticas e mundivisões através de um processo de recalcamento de produção simbólica, que existe em potência e em ato nas experiências concretas extramidiáticas – não-comuns em escala massiva, mas fragmentadas em classes e frações de classes, gêneros, etnias, faixas etárias, nacionalidades etc. –, mascarando assim a luta de classes e seus desdobramentos culturais. Mascarando-a, porém, sem eliminá-la; pois se as comunicações contemporâneas praticamente conquistaram para si alguns dos tradicionais atributos divinos, isto é, a onipresença e a onisciência, não dispõe de onipotência. E é precisamente na potência das práticas concretas extramidiáticas ou intramidiáticas alternativas, nos movimentos de luta, cooperação e resistência à coisificação e obsolescência biológica, cultural e política, que reside o detonador da transcendência histórica, da conversão da quantidade em qualidade, de necessidade em liberdade, do sabor e do saber em gosto, em inspiração.
Juntemos algumas pontas soltas. Em termos materialistas, o “pecado da Terra”, causa da “queda” e do “Mal”, consiste na ausência de gosto (sabor, significado e inspiração) nos meios de se obter satisfação, devido à escassez, à brutalidade dos elementos e das feras, à resistência, com frequência extrema, da natureza face ao homem, fatores com os quais ele tem de lidar em busca de satisfação, mesmo das necessidades mais elementares, o que gera, além de desgosto, medo, dor e trabalho pesado. Este último, no entanto, é a condição de sua própria superação: se todos os meios para que se atinja qualquer fim poderiam ser simplesmente chamados de trabalho, a “condenação divina” que pesa sobre o homem – “ganharás teu pão com o suor de tua face” – reproduz, de modo invertido, uma condenação real, mas historicamente superável a partir de sua própria contradição interna: a ausência de gosto – de sabor, de significado e de inspiração – no trabalho não-livre, em todas as suas formas históricas.
4 LENIN E A MICROSOFT
É por essas razões que um dos principais objetivos do projeto socialista é a extinção do trabalho não-livre em sua forma atual, ou seja, o fim da escravidão assalariada, carente de sabor e de significado, isto é, de gosto. Nos termos de Mészáros:
É evidente que quando a atividade vital do homem é apenas um meio para um fim, não se pode falar de liberdade, porque as potências humanas que se manifestam nesse tipo de atividade são ‘dominadas’ por uma necessidade exterior a elas. Essa contradição não pode ser resolvida a menos que o trabalho – que é um simples ‘meio’ na presente relação – se torne ‘um fim em si mesmo’. Em outras palavras: apenas se o trabalho chega a ser uma ‘necessidade interior’ do homem é que será possível referir-se a ele como “atividade livre”.
É o que diz Marx quando fala do “homem rico” cuja “efetivação própria existe ‘como necessidade interior, como falta20’”. Sua definição de “liberdade como uma ‘necessidade interior’ não exige um ‘reconhecimento da necessidade’” abstrato e conceitual, mas sim uma ‘necessidade positiva’. Somente se existir essa necessidade positiva como uma necessidade ‘interior’ de trabalhar é que o trabalho poderá perder seu caráter de necessidade ‘exterior’ ao homem.
Uma vez que apenas enquanto necessidade positiva, como necessidade interior, o trabalho é ‘gozo’, então a autorrealização, a plenitude humana, é inseparável do aparecimento dessa necessidade positiva. A ‘liberdade’ é, assim, a realização da finalidade própria do homem: ‘a autorrealização no exercício autodeterminado e externamente não-impedido dos poderes humanos’. Como autodeterminação, a base desse exercício livre dos poderes humanos não é um “imperativo categórico” abstrato, que permanece ‘exterior’ ao ser humano real, mas uma necessidade positiva efetivamente existente de trabalho ‘humano’ autorrealizador. Assim, os meios (trabalho) e fins (necessidades) nesse ‘processo’ de humanização transformam-se mutuamente em atividade verdadeiramente humana, feita de gozo e autorrealização, por intermédio da qual poder e finalidade, meios e fins, surgem numa unidade natural (humana). (MÉSZÁROS, 2006, p. 170) 21
É disso que se trata quando falamos de resgatar o gosto cooptado pelo capital da esfera do consumo e inseri-lo na esfera da produção, como inspiração, na execução, da forma menos penosa que se puder, de tarefas coletivamente determinadas por pessoas livres e conscientes.
As comunicações podem e devem ser instrumentalizadas no sentido de solucionar este problema. Zizek, partindo de Lênin, nos dá uma boa pista de como isso pode ser efetivamente posto em prática:
As ideias de Lênin sobre como a estrada para o socialismo corre através do terreno do capitalismo monopolista podem parecer perigosamente ingênuas hoje: “O capitalismo criou um aparato contábil na forma de bancos, sindicatos, correios, associações de consumidores e organizações de empregados de escritório. Sem grandes bancos o socialismo seria impossível. […] nossa tarefa agora é meramente podar aquilo que capitalisticamente mutila esse excelente aparato, torná-lo ainda maior, ainda mais democrático, ainda mais inclusivo. […] seria […] algo como o esqueleto da sociedade socialista.” […] E se alguém substituísse o (obviamente datado) exemplo do banco central pela “World Wide Web” […]? Dorothy Sayers sustentou que a Poética de Aristóteles é efetivamente a teoria das histórias de detetive “avant la lettre¬” – como o pobre Aristóteles ainda não conhecia as histórias de detetive, ele teve que fazer menção aos únicos exemplos que lhe estavam disponíveis, as tragédias… Nessa mesma linha de raciocínio, Lênin estaria efetivamente desenvolvendo a teoria do papel da World Wide Web, porém, dado que ele não conhecia a WWW, ele teve que fazer menção aos desafortunados bancos centrais. Consequentemente, alguém pode também dizer que “sem a World Wide Web o socialismo seria impossível. […] nossa tarefa agora é meramente podar aquilo que capitalisticamente mutila esse excelente aparato, torná-lo ainda maior, ainda mais democrático, ainda mais inclusivo” […] Não haveria na World Wide Web um potencial explosivo também para o próprio capitalismo? A lição do monopólio da Microsoft não seria precisamente a de Lênin: ao invés de combater o seu monopólio através do aparato do estado (recorde-se a divisão da Micrsoft Corporation por decisão judicial), não seria mais “lógico” simplesmente SOCIALIZÁ-LA, tornando-a gratuitamente acessível?22
Isto é, as comunicações, em meio às quais a Microsoft Corporation ocupa um dos papéis mais ilustres, podem e devem ser instrumentalizadas em termos não só ideológicos, mas administrativos e logísticos, considerando-se a sua centralidade no conjunto da economia. Esta operação é absolutamente fundamental, pois como bem lembra Mészáros:
Não basta […] argumentar a favor de uma nova orientação ideológico-política caso se mantenham tal como hoje as formas institucionais e organizacionais relevantes. Se, em sua resposta por inércia às circunstâncias históricas que já não são as mesmas, a desorientação corrente é a manifestação combinada dos fatores prático-institucional e ideológico, seria ingênuo esperar uma solução no que muitos gostam de descrever como “clarificação ideológica”. De fato, enquanto os dois devem desenvolver-se juntos nessa reciprocidade dialética, o “ubergreifendes Moment” (momento predominante) na conjuntura atual é a estrutura prático/institucional da estratégia socialista, que precisa reestruturar-se de acordo com as novas condições. (MÉSZÁROS, 2002, p. 787-8)
Se isto é verdadeiro, e julgamos que sim, é pertinente repensarmos a dialética base / superestrutura à luz do enorme desenvolvimento tecnológico recente das comunicações. Nessa linha de raciocínio, identificamos nas comunicações atuais um momento no qual a produção simbólica é absorvida por sua base mercantil, não o contrário, como apregoam os defensores da “sociedade da informação”. A disputa ideológica contra a ideologia hegemônica, portanto, para ter alguma chance de sucesso, deve ser articulada com uma disputa político-jurídica pela socialização da propriedade das comunicações.
5 O CAVALO DE TROIA x O CAVALO DE TROIA DO CAVALO DE TROIA OU O GRÃO UTÓPICO NA CULTURA MASSA
Caso permaneça produtivo o emprego dos conceitos consciência de classe, ideologia e luta de classes, junto ao par base e superestrutura, tanto para os estudos sociais em sentido mais geral, quanto para aqueles mais específicos, como os do campo da Comunicação Social, essa verdade traz consigo a exigência de uma espécie de bifurcação metodológica: ou se dedica atenção especial às inúmeras mediações de ordem extraeconômica que atuam no âmbito das comunicações, assumindo-se a posição de que os interesses políticos e econômicos envolvidos são somente dois fatores a mais entre tantos outros, de peso equivalente; ou se admite que, embora as mediações extraeconômicas, envolvidas nos processos de produção, circulação e consumo das comunicações, não devam ser deixadas de lado, publicidade, entretenimento e informação vêm se convertendo, de forma cada vez mais abrangente, no “cavalo de troia” de determinados interesses políticos e econômicos, cujo peso é decisivo para uma compreensão adequada desses mesmos processos e de seu papel predominantemente conservador.
Nos termos de Ramonet:
Antes podíamos dizer que uma empresa jornalística vendia informação aos cidadãos, enquanto hoje uma empresa midiática vende consumidores a seus anunciantes. Quer dizer, a AOL-Time Warner, por exemplo, vende a seus anunciantes – Nike, Ford, General Motors – o número de consumidores que possui. Essa é a relação dominante. (RAMONET, 2003, p. 248)
Desdobrando esse raciocínio, logo percebemos que as comunicações exercem um triplo papel nas sociedades contemporâneas: 1) enquanto dispositivo de produção, circulação e consumo de bens materiais e simbólicos, constituem um setor econômico de ponta; 2) enquanto dispositivo de sedução, participam ativamente na geração da demanda pelos bens materiais e simbólicos existentes, sejam aqueles diretamente produzidos por elas (produtos da indústria cultural e equipamentos necessários ao seu consumo), aqueles nos quais elas participam na produção (tudo que envolva informática e telecomunicações) e aqueles que elas simplesmente anunciam (qualquer mercadoria); e 3) enquanto dispositivo de (in)formação, socializa, em diversas escalas, um determinado repertório de representações do real, que incluem os bens materiais e simbólicos, junto a sistemas classificatórios, ou códigos valorativos, que dispõem esses bens e representações, uns em relação aos outros, em hierarquias entrecruzadas, menos ou mais complexas.
Este é um dos lados da moeda, o lado mais forte atualmente, o lado da hegemonia. Por outro lado, o fato de os interesses hegemônicos serem em grande parte contraditórios, entre si e, sobretudo, com os interesses da maioria das pessoas – que vivem do trabalho e compõem a massa consumidora –, mesmo que estas últimas não tenham clara consciência desses interesses, esse simples fato representa uma espécie de “cavalo de troia” do “cavalo de troia”.
Um exemplo dessa contradição está no jornalismo, principalmente no telejornalismo. Seu objetivo último é cativar imensas audiências para os anunciantes dos intervalos comerciais. Mas para fazê-lo, é necessário que os programas possuam e conservem credibilidade junto à população, o que requer que estejam minimamente comprometidos com a verdade factual, ainda que a divulgação desta verdade eventualmente entre em choque com os interesses particulares da empresa de comunicação que produz o telejornal ou de setores mais amplos do capital dos quais ela é aliada. Além disso, há, entre os jornalistas, muitos que não pensam “como o patrão”, que possuem, em graus variados, consciência de classe, além de uma relativa autonomia produtiva.
No campo da música, do cinema e até da teledramaturgia, é inegável que, apesar de todas as tendências dominantes, canções, filmes e programas efetivamente inventivos conseguem, aqui ou ali, aparecer no universo das comunicações. No campo do ciberespaço, seu potencial democratizante e pluralista tem sido exaustivamente estudado e demonstrado, embora com frequência com uma carga excessiva de otimismo. Mesmo assim, esse potencial, enquanto potencial, parece inquestionável.
Quanto à publicidade, a mais “integrada” das esferas das comunicações, há que se considerar que, dado que para ser convincente, deve agradar, na busca pela atenção da audiência, a despeito dos apelos grosseiros mais óbvios e de seu conteúdo ideológico tendencialmente conservador, ela não deixa também de explorar e socializar experiências formais que, de outro modo, talvez permanecessem restritas aos nichos de vanguarda, ou a culturas distantes, contribuindo assim para uma maior abertura no repertório de referências culturais e na sensibilidade estética das audiências.23
Nesse ponto, entramos em rota de colisão com Adorno, já que, para ele, “os padrões estéticos inconscientes das ‘massas’ são precisamente aqueles de que a ‘sociedade necessita’ para se perpetuar e perpetuar seu domínio sobre as massas.” (ADORNO, apud MÉSZÁROS, 2004, p. 157, nota 35)
É uma sentença intrigante, mas com a qual se pode concordar integralmente. Porque se Adorno acerta na definição de um dos aspectos constitutivos do controle social, talvez mesmo do aspecto predominante nos últimos tempos, por outro lado não se dá conta que o momento revolucionário, que existe em estado latente como potência concreta, igualmente pressupõe “padrões estéticos inconscientes”, mas de uma natureza não integrada, não mimética, que podem ser identificados no gosto das massas por alguns produtos das comunicações, ou por alguns elementos de todos eles, para não falar de formas estéticas de resistência ou híbridas / experimentais, no campo da produção simbólica extramidiática.
Há um importante artigo de Fredric Jameson que aponta nessa direção, cujo norte é, sem perder o gume crítico em relação às mercadorias culturais da indústria cultural e de sua importância política e econômica, distinguir o “Cavalo de Troia” no “Cavalo de Troia”, ou o que ele denomina “grão utópico” na cultura de massa, mesmo em produtos cujo caráter ideologicamente reacionário é mais ou menos óbvio. Nas palavras de Jameson:
[…] as obras de cultura de massa não podem ser ideológicas sem serem, em certo ponto e ao mesmo tempo, implícita ou explicitamente utópicas: não podem manipular a menos que ofereçam um grão genuíno de conteúdo, como paga ao público prestes a ser tão manipulado. Mesmo a “falsa consciência” de um fenômeno monstruoso como o nazismo nutriu-se de imaginários coletivos de tipo utópico, sob roupagem tanto socialista como nacionalista. […] as obras de cultura de massa, mesmo que sua função se encontre na legitimação da ordem existente – ou de outra ainda pior – não podem cumprir sua tarefa sem desviar a favor dessa última as mais profundas e fundamentais esperanças e fantasias da coletividade, não importa se de forma distorcida. (JAMESON, 1995, p. 30)24
Mais adiante, o autor desenvolve este ponto da seguinte maneira:
Em meio a uma sociedade privatizada e psicologizada, obcecada pelas mercadorias e bombardeada pelos slogans ideológicos dos grandes negócios, trata-se de reacender algum sentido do inerradicável impulso na direção da coletividade, que pode ser detectado, não importa quão vaga e debilmente, nas mais degradadas obras da cultura de massa, tão certo como nos clássicos do modernismo. Eis a indispensável precondição de qualquer intervenção marxista significativa na cultura contemporânea. (idem ibidem, p. 34-5)
Essa hipótese de Jameson é muito importante no sentido de não se perder de vista o caráter contraditório interno da cultura de massa, reflexo das contradições sociais mais amplas, e para que não se caia no pessimismo imobilizante de Adorno.
Cabe então desvendar o que pode haver no gosto das massas de substrato sensível da ideologia, não só enquanto “falsa consciência”, mas também enquanto consciência de classe “necessária” ou “atribuída”, isto é, revolucionária. Esse desvendamento é necessário para que se possa pensar em deslocar o gosto da esfera mais passiva do consumo à esfera mais ativa da produção, reorientando a produção social – material e simbólica – no sentido da satisfação de gostos não cooptados pelas formas integradoras do capital. O mundo digital, embora por si só não resolva a questão, sem dúvida abre novas possibilidades de pensamento e ação nesse sentido.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O gosto, este saber dos sabores e vice-versa, é o substrato sensível de ideologias e práxis hegemônicas somente em sua positividade atual, passiva e imediata. Sua negatividade dialética, ativa e mediata, consiste em sua potência concreta de despertar práxis contra-hegemônicas. Ou seja, o gosto, em um primeiro momento, não diz respeito diretamente, imediatamente, à consciência de classe necessária, mas mediatamente, isto é, enquanto momento de uma mediação possível da consciência de classe “contingente” à “necessária”. Diz, assim, respeito ao momento da passagem possível da consciência em si à consciência para si. Porque o gosto traz em si um “pathos” revolucionário recalcado sob as mil manifestações do “ethos” conformista da ideologia hegemônica. Em um segundo momento, porém, diante de circunstâncias objetivas mais favoráveis, a tensão entre esse “pathos” e o “ethos” dominante pode resultar em sutura, em uma unidade superior de sensibilidade e consciência, a qual deverá servir imediatamente como sustentação psicológica e motivacional da consciência de classe necessária.
Uma ideia parecida com essa está implícita nas esperançosas palavras de Muniz Sodré: “[…] no bojo das novas condições de existência geradas pela ciência e pela tecnologia, a força ético-política da paixão de viver poderia impedir que a integração harmônica da máquina seja equivalente à assimilação do capital como ‘natureza’ à consciência do homem”.25
Trata-se, em suma, de pensar a noção de gosto cindido em prazer / desprazer e conhecimento / ignorância, a qual, por sua vez, remete à negatividade dialética da consciência de classe “contingente”, enquanto “falsa consciência”, dado que, se esta é positivamente, imediatamente, atualmente, fator constituinte da classe-em-si, negativamente, mediatamente ou potencialmente o é da classe-para-si, capaz de extinguir a si mesma e a todas as classes, portanto a sociedade de classes, promovendo a sutura no gosto em prazer, conhecimento e inspiração, articulados em um nível superior. Ou seja, a noção de consciência de classe “contingente” enquanto “falsa consciência” deve ser entendida, ao mesmo tempo, 1) como tensão entre sua positividade de não-reflexão atual e sua negatividade de reflexão potencial, e 2) como identidade de classe inconsciente, pulsional, passível de simbolização, de exteriorização, de objetivação na práxis, de incorporação à consciência portanto, convertendo nesse momento a consciência em si em consciência para si, através dessa práxis transformadora.
A ideologia, no recorte proposto, é sempre uma formulação dos gostos. Estes, por sua vez, são estruturações historicamente variáveis das subjetividades e das práticas intersubjetivas, ambas determinadas positiva e negativamente, em última instância, pelos vetores econômicos contraditórios de cada formação social; em outras palavras, limitadas em suas possibilidades de objetivação pelas contradições entre o modo de produção hegemônico, os resquícios de sua pré-história e de seus estágios passados, e as possibilidades de superação de si que em si carregam. “Modo de produção” é a forma como as pessoas produzem e reproduzem em sociedade suas condições de vida, nada mais que isso. Se essas formas não são determinadas pela vontade dos sujeitos, mas por imperativos cegos, os gostos como todo o resto permanecem limitados por estes imperativos. É necessário libertá-los. Isso não pode ser feito sem a socialização das comunicações.
REFERÊNCIAS
ALTHUSSER, Louis. Aparelhos ideológicos de Estado. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1985.
BLANK, Paulo. O princípio de Ehiê. In: Impresso ASA, ano xiii, n. 76, maio/junho de 2002, p. 3.
BUBER, Martin. O socialismo utópico. São Paulo: Perspectiva, 1986.
HALL, Stuart. O interior da ciência; ideologia e a “sociologia do conhecimento”.In: Da ideologia. Rio de Janeiro: Zahar, 1980, p. 15-44.
JAMESON, Fredric. Reificação e utopia na cultura de massa. In: As marcas do visível. Rio de Janeiro: Graal, 1995, p. 9-35.
KOOK, Abraham Isaac. The lights of penitence; the moral principles, lights of holiness, essays, letters and poems. New Jersey: Paulist Press, 1978.
KURZ, Robert. O colapso da modernização. São Paulo: Paz e Terra, 1993.
LARRAIN, Jorge. Stuart Hall and the marxist concept of ideology. In: Morley and Chen (orgs.) Stuart Hall: Dialogues in Cultural Studies. London/NY: Routledge, 1996, p. 47-69.
LESSA, Sérgio. Lukács: direito e política. In: PINASSI, Maria Orlanda e LESSA, Sérgio (orgs.) Lukács e a atualidade do marxismo. São Paulo: Boitempo, 2002, p. 103-122.
LIMA, Venicio A. de. Mídia: teoria e política. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2004.
LÖWY, Michael. Ideologias e ciências sociais. São Paulo: Cortez, 1985.
LUKÁCS, Georg. Ontologia do ser social. Os Princípios ontológicos fundamentais de Marx. São Paulo: Livraria Editora Ciências Humanas, 1979.
MAAR, Wolfgan Leo. A Reificação como realidade social. Práxis, trabalho e crítica imanente em hcc, in: ANTUNES, Ricardo e DOMINGUES LEÃO RÊGO, Walquíria (orgs.). Lukács. Um Galileu no século XX. São Paulo: Boitempo, 1996, p. 34-53.
MARX, Karl. O capital. Livro III. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, s/data.
MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. A Sagrada Família. São Paulo: Boitempo, 2003a.
MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. Manifesto do Partido Comunista. Porto Alegre: L&PM, 2003b.
MAZZEO, Antônio Carlos. Sinfonia inacabada. A Política dos comunistas no Brasil. São Paulo: Boitempo, 1999.
MÉSZÁROS, Istvan. A teoria da alienação em Marx. São Paulo: Boitempo, 2006.
MÉSZÁROS, Istvan. Filosofia, ideologia e ciência social. Ensaios de negação e afirmação. São Paulo: Editora Ensaio, 1993.
MÉSZÁROS, Istvan. Para além do capital. São Paulo e Campinas: Boitempo e Editora da Unicamp, 2002.
MÉSZÁROS, Istvan. O poder da ideologia. São Paulo: Boitempo, 2004.
RAMONET, Ignacio. O Poder midiático. In: MORAES, Dênis de (org.). Por uma outra comunicação. Rio de Janeiro: Record, 2003.
RUBIN, Isaak Illich. A teoria marxista do valor. São Paulo: Brasiliense, 1980.
SCHOLEM, Gershom. As grandes correntes da mística judaica. São Paulo: Perspectiva, 1995.
SODRÉ, Muniz. Estratégias sensíveis. Petrópolis / RJ: Vozes, 2006.
WILLIAMS, Raymond. Key words. New York: Oxford University Press, 1985.
ZIZEK, Slavoj. Às portas da revolução. São Paulo: Boitempo, 2005.
ZIZEK, Slavoj. Repeating Lenin. Documento eletrônico:http://www.lacan.com/replenin.htm. Acesso em: mar. 2004.
* Marco Schneider é doutor em Ciências da Comunicação (USP). Professor adjunto da Universidade Federal Fluminense – UFF – e professor assistente da Escola Superior de Propaganda e Marketing (RJ). Desenvolve a pesquisa de pós-doutorado no Programa Avançado de Cultura Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, intitulada “Culturas da Periferia, Culturas Digitais e Cidadania: Por uma Articulação dos Estudos Culturais com a Crítica da Economia Política”.
NOTAS
1 A passagem de Gramsci citada por Mészáros pertence a uma edição intitulada “The modern prince and other writings”.
2 Sobre as noções de “ontologia social”, de “ser” e “existência” do proletariado, e de “ontologia do ser social”, ver, além do texto acima citado de Mészáros, LUKÁCS (1979).
3 É aí que entram as comunicações, como veremos mais detidamente adiante.
4 Sobre essa origem do termo, cf. ALTHUSSER (1985, p. 81). Ver também HALL (1980) e LÖWY (1985).
5 Ver LARRAIN (1996).
6 Não que as consciências dos sujeitos sejam redutíveis a sua posição de classe. O que se quer dizer é que esta posição é o fator em última instância determinante do complexo de mediações que formam as consciências.
7 A esta citação de Lukács segue o comentário de Lessa: “Não é, portanto, o conteúdo gnosiológico de uma ideação que a torna ideologia, mas sim sua função social específica: ser veículo dos conflitos sociais […]”.
8 Cf. LARRAIN (op. Cit., passim) e WILLIAMS (1985, p. 154-5).
9 Cf. Mészáros, 1993.
10 Não obstante, o esgotamento do papel histórico do partido comunista de inspiração bolchevique (“marxista-leninista”) é um tema controverso. Sobre este tema, ver ZIZEK (2005) e “Repeating Lenin”. Documento eletrônico: http://www.lacan.com/replenin.htm. Acesso em abr. 2010. Ver também MAZZEO (1999).
11 Cf. SCHNEIDER, 2008.
12 Raymond Williams nota, a propósito, “que a ideia do gosto não pode hoje ser separada da ideia do CONSUMIDOR.” (WILLIAM, 1985, p. 314-15). Tradução nossa.
13 Segundo SCHOLEM (1995), Abraham KOOK (1865-1935) foi o último grande cabalista.
14 Tradução nossa.
15 Tópico narrativo da tradição oral talmúdica judaica, que inclui também suas interpretações.
16 O termo hebraico “ta’am”, gosto, também relaciona as noções de “sabor” e “significado”.
17 A passagem em itálico consiste nos comentários de Rav Hillel Rachmani sobre a citação anterior, conseguidos na Internet junto à Yeshivat Har Etzion – Virtual Beit Midrash – e-mail: yhe@jer1.co.il ou office@etzion.org.il, por intermédio de Ezra Bick – ebick@etzion.org.il, em 2002. Tradução nossa.
18 A propósito, e lembrando que a escrita hebraica não possui vogais, a palavra hebraica que designa o primeiro homem, “Adam” / Adão, é a mesma de “Adamá”, a Terra.
19 “Utopia” não significa necessariamente um projeto irrealizável, conforme o uso consagrado, inclusive, por Marx e Engels. O termo igualmente pode sugerir um projeto de melhoria social ainda não realizado em parte alguma (u-topos). Nesse último sentido, o socialismo pode ser considerado uma utopia.
20 A citação de Marx pertence aos Manuscritos econômico-filosóficos.
21 MÉSZÁROS, Istvan. A teoria da alienação em Marx, p 170.
22 ZIZEK, Slavoj. “Repeating Lenin”. Documento eletrônico: http://www.lacan.com/replenin.htm. Acesso em: abr. 2010.
23 Além disso, é possível supor que o aspecto atraente dos produtos oferecidos, bem como sua quantidade, podem sem querer contribuir para a emergência da consciência de classe, se as pessoas puderem sentir que há algo errado no fato de tudo aquilo existir e estar disponível, mas não para elas.
24 O trecho refere-se a uma análise empreendida pelo autor do filme “Tubarão”. Jameson também coteja o livro e o filme “Tubarão”, ambos de enorme sucesso comercial.
25 SODRÉ, Muniz. Estratégias sensíveis, p. 71.